Kehl: O ressentido e sua estética
Seu apelo é fácil. Ou o público identifica-se com ele, ou sente-se culpado por seu fracasso. Mas ele é raso: nem trágico, nem atormentado. O ressentimento é uma consequência bastante previsível da sua recusa a implicar-se no próprio desejo
Publicado 30/07/2021 às 17:50
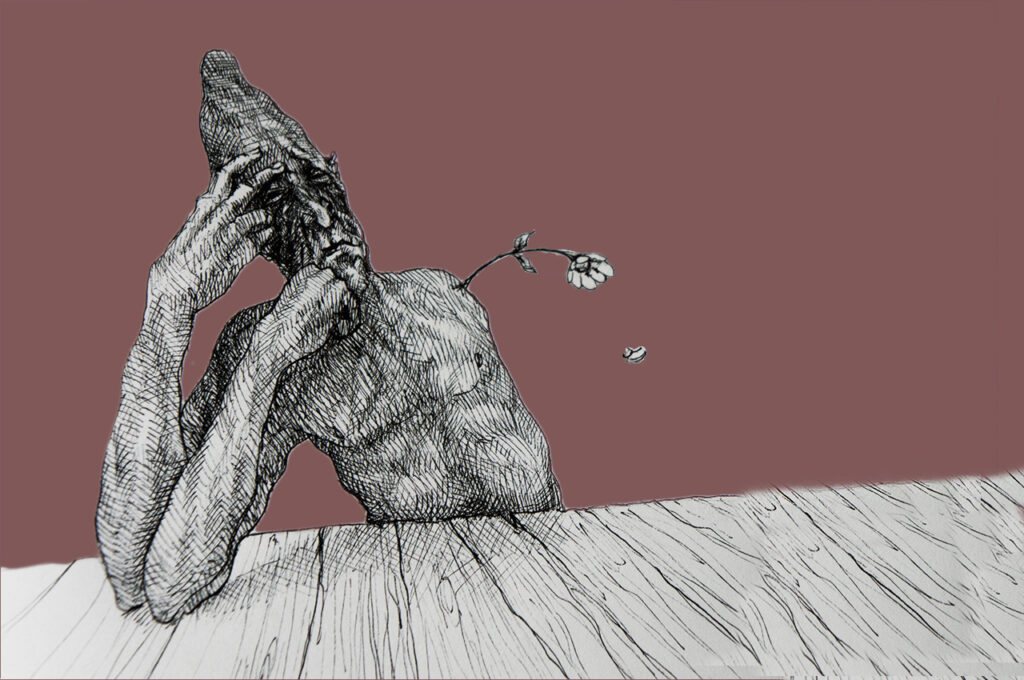
Por Maria Rita Kehl, em A Terra é Redonda
O ressentimento é um afeto de forte apelo dramático. Funciona bastante bem como elemento polarizador da ação, no cinema ou no teatro, e também para promover a identificação do espectador com alguns personagens, vistos como vitimados pelas circunstâncias ou, principalmente, pelos outros.
O personagem ressentido – pensem em Tio Vânia de Tchekov, por exemplo – costuma angariar simpatias; suas queixas são repetitivas e fundamentadas, e se ele se coloca como “perdedor”, ou como alguém que ficou para trás na dinâmica das relações sociais, isto se dá em razão de sua pureza moral, em sua inabilidade para jogar o jogo das conveniências e das aparências. O ressentido é, por um lado, um que vê a si mesmo como moralmente melhor do que os outros por outro lado, e por isto mesmo, é um vingativo justificado, coberto de razões.
Assim, não é difícil entender por que o ressentimento funciona, na dramaturgia, produzindo a identificação do público com um personagem que ocupa o lugar do sensível, do frágil, do que fracassa não por ser pior, mas por ser melhor do que os outros. O personagem ressentido promove dois tipos de adesão por parte do público: ou a identificação no ressentimento, ou a simpatia movida pela má consciência – alguém sempre há de se sentir culpado pelo seu sofrimento, pelo seu silêncio magoado.
Por outro lado, o personagem ressentido não exige grande consistência psicológica para ter credibilidade. Ele não aparece, como os grandes personagens trágicos, como sujeito de uma consciência dividida, atormentado por suas escolhas. Ideal para a composição de melodramas, o ressentido não duvida de si mesmo, nem da justeza de suas queixas e atos. Não é preciso ser um Shakespeare para criar um personagem ressentido, embora só um gênio seja capaz de criar um personagem angustiado, dividido e implicado consigo próprio como Hamlet, ou como Édipo Rei, por exemplo.
Em que consiste o ressentimento, e como explicar o poder do personagem ressentido em produzir adesão, empatia e/ou identificação imediata no espectador? Em linhas gerais, o ressentimento é uma consequência bastante previsível da recusa do sujeito a implicar-se no próprio desejo. Ressentir-se, ou, como a própria palavra indica, insistir repetidamente na atualização de um sentimento, é sempre ressentir-se contra o outro. Na origem deste sentimento, houve a renúncia, a servidão voluntária: o sujeito cedeu ao outro, recalcou as representações do desejo – para depois passar a vida reclamando contra “o que fizeram comigo”, aprisionado por uma necessidade de vingança contra os supostos agentes de sua infelicidade.
O núcleo arcaico do ressentimento, constitutivo de nossa humanidade, origina-se justamente quando da entrada do semelhante – um irmão, um pequeno rival – no campo narcísico do sujeito. A identificação com o outro, a duplicação da percepção de si mesmo que se dá neste momento, impedindo, como escreve Lacan, que o eu se reduza à sua identidade vivida[i], abre para sempre no sujeito esta possibilidade de confundir os momentos em que nega reconhecer a si mesmo (“eu não sou este/ eu não fiz isto”) e aqueles em que responsabiliza o outro por seus atos ou desejos (“foi ele quem fez/ eu fiz porque ele quis” etc.).
A superação do ressentimento passa necessariamente pela elaboração desta ambivalência – o outro sou eu, mas ao mesmo tempo o outro é aquilo que eu quero expulsar de mim – de modo a que o semelhante possa ocupar um outro lugar na vida psíquica do sujeito. Como parceiro nas moções de desejo, como cúmplice na experiência de limites e na transgressão, como medida, ao mesmo tempo, da grandeza e da insignificância de cada um. Mas o núcleo que possibilita o desencargo do eu sobre o outro e o retorno na forma de ressentimento, está sempre a postos para funcionar em caso de necessidade.
Na dramaturgia, o poder identificatório do ressentimento reside então na esperança que ele oferece ao espectador, de que o outro possa ser responsabilizado pelas consequências dos atos e decisões do sujeito. A adesão ao ressentido também pode ser movida pela má consciência do neurótico – “se ele se queixa, eu devo ter feito alguma coisa errada…” – mas baseia-se principalmente na aposta de que haja algo a ser cobrado, dos outros ou do Outro, pelas consequências de nossas escolhas. Seu poder em fazer funcionar o cinema, sobretudo os filmes ditos “de ação”, reside no mesmo ponto. São os personagens vitimados e/ou vingativos que conduzem o fio narrativo, ainda quando sua ação é praticamente a reiteração de uma imobilidade (volto a este ponto) e promovem no espectador o gozo vicário de poder, ao mesmo tempo, agir em nome próprio e alegar uma certa irresponsabilidade, uma (ilusória) inocência em relação ao desejo.
São também personagens condenados a não se esquecer do que o outro lhe fez. A insistência, a repetição do ressentido – a palavra em português já indica um sentimento que se renova sempre, que se deve sentir repetidamente – funciona à maneira do sintoma: mantém o recalcado (aquilo de que o sujeito não quer saber – por exemplo, sua própria implicação no ato do qual se considera vítima) e simultaneamente promove o gozo em um outro lugar. Pois onde não existe gozo, não existe repetição.
Escrevo que o ressentimento tem uma clara função de mobilizar a ação, numa narrativa; mas devo precisar em que consiste esta ação. Para isto, recorro a Nietzsche, o filósofo que expôs a patologia do ressentimento e inverteu os termos da moral cristã, segundo a qual o bem está do lado dos fracos e dos sofredores. Nietzsche nos surpreende ao substituir a oposição moral entre “bom e mau”, pela oposição entre “bom e ruim”. Os fortes que se protejam dos fracos, escreve o filósofo – enquanto os primeiros entregam-se de peito aberto à vida, os segundos, temerosos e ser vis, ruminam silenciosamente sua vingança.
Para os fortes – que Nietzsche batizou de aristocratas, gerando uma certa confusão na interpretação de seu pensamento, sobretudo quando retomado pela ideologia do nazismo – o mal não está separado do bem; os inimigos devem ser respeitados e até mesmo amados. Os golpes duros da vida devem ser encarados com o mesmo amor, amor fati, com que se encaram os momentos felizes. O oposto do bom, para os aristocratas, não é o mau – é o ruim, o desprezível, o mesquinho.
Em Genealogia da moral,[ii] Nietzsche refere-se ao ressentimento como uma patologia que nasce quando a ação que importa está proibida para o sujeito, convertendo o móvel da ação numa “vingança imaginária”. Há uma passividade no ressentimento, que não se confunde com uma imobilidade; o ressentido parece ativo, mas suas ações são, de fato, reações. A proibição da ação – pensemos aqui no medo às consequências de um ato, mas também no conceito de recalcamento-produz como contrapartida uma interiorização do homem, resultado do trabalho das forças pulsionais poderosas que, impedidas de esgotar – se na ação, voltam-se contra o indivíduo. O ressentido tem, assim, a função dramática de parecer “profundo”, introspectivo, psicologicamente interessante. A expressão predileta do ressentido é o monólogo interior, produzido incessantemente em consequência de sua recusa em fazer contato com o outro.
Paul Laurent-Assoun, comparando os conceitos de doença em Freud e Nietzsche, escreve que “o ressentimento, paradoxal mente, nasce quando o que é privativo – a inibição de uma ação – torna-se ‘criador’. Isto supõe a inversão da relação sujeito-ação-mundo: o homem do ressentimento precisa, ‘em termos fisiológicos, das excitações exteriores para agir’. Em outras palavras: sua ação é, no fundo, uma reação. Daí o caráter ‘passivo’ de sua concepção de felicidade, isto é, da expansão de si próprio”[iii].
O piano
Quero apresentar aqui um filme dos anos 1990 que ilustra bem o que quero chamar de “estética do ressentimento”. Um filme de temática bastante cara ao feminismo – a opressão de uma mulher no casamento – dirigido por uma mulher (Jane Campion), O piano (The piano, Austrália/ França, 1992), vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1994, angariou simpatias gerais de público e crítica. Muito antes de ter ocasião de assisti-lo, já o conhecia quase em detalhes, de tanto escutar, no consultório, as associações que ele produziu – sobretudo nas mulheres.
Resumo rapidamente a trama, já bastante conhecida, da pobre viúva que emudece depois do acidente traumático que causou a morte do marido. Antes desta tragédia, tanto Ada quanto o marido teriam sido músicos de bastante projeção, na Inglaterra. Logo no início do filme sabemos que ela está sendo mandada pelo pai para se casar com um desconhecido, proprietário de terras numa fixa longínqua e selvagem da costa australiana. A ação se passa no século XIX, quando tais contratos de casamento entre famílias ainda eram possíveis.
Ada (Holly Hunter) leva consigo a filhinha e, seu bem supremo, um piano. O piano é sua voz, sua ligação com o passado e com a própria vida, seu objeto transicional. É evidente que o marido (Sam Neil), ignorante de tudo o que se passa com a esposa recém-adquirida, diante da quantidade de bagagens que seus empregados nativos precisam carregar até a fazenda, decide deixar a imensa caixa do piano na praia.
Silenciosa, Ada protesta como pode, mas é impotente para fazer o marido entender o quanto ela precisa do piano. A bem da verdade, ela nem chega a tentar fazer com que ele entenda. Reage à decisão do marido através da voz da filha e de algumas palavras escritas num bloquinho de notas que carrega consigo – “O piano é meu!” – para em seguida retornar a seu mutismo impo tente, passivo, resignado. O resto da história importa menos para minha análise. O piano de Ada é salvo por um vizinho, George (Harvey Keitel), um fazendeiro nativo, ignorante nos termos da cultura de onde Ada provém, mas sensível, fascinado com a música e logo apaixonado por ela.
Na tentativa de conquistar Ada, George lhe pede aulas, fá-la tocar todos os dias para ele, tenta conquistá-la propondo de início uma barganha com o piano – tantas caricias, tantas teclas, até que ela tenha de volta o piano todo. É quando ele desiste da própria proposta (“faz de você uma prostituta… eu quero o seu amor”) que ela se apaixona e final mente se entrega. Depois de algumas peripécias envolvendo o marido ciumento, para quem Ada nunca se entregou, ela afinal é liberada de seu contrato de casamento para viver sua segunda chance no amor.
Mas antes do final feliz, o espectador é surpreendido pela tentativa de suicídio de Ada: no barco em que vai de mudança com o novo marido e a filha, ela pede com insistência para que joguem o velho piano ao mar – o peso, avisam os nativos, pode provocar um naufrágio. George, defensor do piano, demora a ceder. Finalmente o piano é lançado na água; é quando Ada deixa que seu pé fique preso à corda que amarra a caixa do piano, e é tragada, junto com ele, para o fundo do mar. Arrepende-se a tempo, solta o pé da corda junto com o sapato e é resgatada das águas, para uma nova vida. Volta a tocar um piano novo e começa a reaprender a falar, protegida e incentivada por George.
O mutismo de Ada, justificado psicologicamente no roteiro como efeito de um trauma violento, é o traço que me interessa aqui para pensar a estética do ressentimento: a ação dramática conduzida por uma personagem que é apresentada como vítima das circunstâncias que decidem seu destino; a mobilização das simpatias do espectador em função da inocência moral desta personagem em relação a seus próprios atos; a separação clara entre o eu e o mundo, situando o que é mau, violento e calculado como exterior ao psiquismo e o que é bom, sensível, verdadeiro, como interno ao psiquismo desta personagem, que é situada no centro das identificações do espectador.
Tudo nela recusa a vida, o contato, o afeto (a não ser pela filha). Tudo nela recusa-se a esquecer o que a vida lhe fez. O amor de Ada pelo falecido marido resulta no oposto do amor fati: se ele lhe falta, a vida já não lhe interessa. Ao contrário, ela age como quem odeia a vida, que a privou do homem amado. Resta a música, seu elo de ligação com o passado.
O recurso do roteirista não poderia ser mais eficiente: renunciando à fala, Ada faz-se duplamente impotente. Primeiro, impotente para criar novos vínculos – é a filha, sua porta-voz, que faz contatos afetivos com os habitantes da fazenda, com os empregados, com as crianças nativas e mesmo com o padrasto, que a princípio ela pretende rejeitar. O mutismo de Ada não está na falta de voz, está no coração. Recusando-se a deixar para trás o que se perdeu no passado, Ada recusa o presente, o momento, a continuação da vida. Segundo, sua recusa ao contato com os outros a faz impotente para lutar pelo que mais deseja – o piano, o amor.
Ada não luta; ela opõe, a tudo o que a vida lhe traz, uma resistência passiva, obstinada e, obviamente, muda. Aceita a negociação de casamento que o pai lhe propõe, mas não se entrega ao marido. Aceita mudar-se para uma fazenda inóspita, mas não trava relações com ninguém do lugar – seu mundo limita-se à filha e ao piano. É interessante observar que a única passagem em que ela luta para fazer-se “ouvir”, e não desiste até ser atendida, é quando de sua tentativa de afundar para sempre junto a seu piano. É só na morte, recusa da vida que Ada investe com vigor; o suicídio, frequentemente, é a grande vingança dos ressentidos.
O filósofo Roberto Machado, em breve estudo intitulado Nietzsche e a verdade relembra uma passagem em Além do bem e do mal em que Nietzsche desmascara o ódio contra a vida presente nos defensores da moral judaico-cristã… “que, pela primeira vez, deram um sentido infamante à palavra ‘mundo’”.[iv] “A moral judaico-cristã”, escreve Machado, “inversão total dos valores da ética aristocrática, expressa um enorme ódio contra a vida – o ódio dos impotentes, contra o que é positivo, afirmativo, na vida; negação da vida que tem justamente a função de ‘aliviar a existência dos que sofrem’. Em uma palavra, é niilista”.[v]
Mas Nietzsche intui também a porção de gozo que existe na resistência passiva do ressentimento. “O ressentido é alguém que nem age nem reage inicialmente; produz apenas uma vingança imaginária, um ódio insaciável. Visto que o homem se consumiria rapidamente se reagisse, acaba por não reagir; eis a lógica”.[vi] O ressentido vive a repetição de um gozo, presa da pulsão de morte, ao invés de “consumir-se rapidamente” nos variados prazeres possíveis, na dinâmica das pulsões de vida.
A condição de opressão social das mulheres no século XIX facilita imensamente a credibilidade da personagem, além de nos fazer pensar que o ressentimento, ao lado da penisneid, tenha sido uma patologia caracteristicamente feminina, até poucas décadas atrás. As mulheres, desprovidas de voz própria e de recursos para agir, restava a vingança silenciosa, o desprezo, o ódio cozido no fogo lento do ressentimento. “Criando um inimigo que considera malvado e imaginando uma vingança contra seus valores, o que faz o ressentido é dar sentido a sua falta de força: o outro é sempre culpado do que ele não pode, do que ele não é”[vii]. Sabemos que a histeria foi a forma de expressão sintomática das mulheres oitocentistas, justamente porque não viam como se rebelar contra a vida que não escolhiam, e sim, ao contrário, que era escolhida para elas.
A rebelião passiva das mulheres no século XIX produziu também, como bem demonstraram os Estudos sobre a histeria de Freud e Breuer, uma série infindável de sintomas físicos, espécie de escritura, no tecido do corpo, daquilo que não podia ser nem dito, nem esquecido. “O Nichts-vergessen do ressentimento nietzscheano se alimenta da mesma fonte da Reminizens da histeria freudiana”[viii], escreve Laurent-Assoun em seu estudo comparativo entre os dois pensadores. A hipertrofia da memória no ressentimento é proporcional à atrofia da motricidade; neste sentido, Nietzsche refere-se ao ressentimento como a acumulação de uma “perigosa matéria explosiva”[ix].
O sintoma de Ada não poderia ser mais transparente: ela perde, literalmente, a fala. A voz em off com que Ada se comunica com o espectador, quase ao final do filme, nos explica a razão de sua resistência à vida em termos muito familiares à psicanálise: “Eu tenho medo de meu desejo; ele é forte demais”.
Para Nietzsche, o ressentimento, que poderia muito bem ser explicado pelo “medo ao desejo” que Ada percebe em si mesma, pode se prolongar na produção da má consciência; as forças pulsionais voltadas contra o próprio sujeito produzem a interiorização já referida, e é em si mesmo que o sujeito vai buscar a causa de sua infelicidade. Mas como está impedido de perceber que a causa está na renúncia ao desejo, o ressentido aposta na culpa e na auto-acusação. A tentativa de suicídio de Ada, justamente quando se vê na iminência de casar-se com o homem que deseja tão intensamente, pode ser lida tanto como recusa de abandonar a servidão voluntária que escolheu como modo de renunciar à vida, quanto como produzida pela má consciência, desdobra mento do ressentimento que faz do homem, nas palavras de Nietzsche, um “doente de si mesmo”. Na perspectiva romântica do filme, o amor de George cura Ada. Mais uma vez, a ação e o desejo do outro vêm ocupar o lugar do sujeito. Mas as curas pelo amor, lembra Freud em seu texto sobre “O amor de transferência”[x], são uma esperança malograda. Não se consegue curar alguém incapaz de amar oferecendo-lhe, como remédio, o que sua doença só pode recusar.
Dead man
Em contraposição à “estética do ressentimento” tipificada em O piano, proponho um filme que poderia representar aquilo que vou chamar de superação do ressentimento. Trata-se de Dead man (EUA, 1995), do cineasta Jim Jarmusch – não por acaso uma figura marginal ao cinema hollywoodiano – em que um sujeito totalmente ingênuo se vê de repente, e de maneira violenta, às voltas com as consequências de algumas escolhas feitas um tanto ao acaso. O modo como este personagem (representado pelo ator Johnny Depp) arca com o preço de seu destino vai me ajudar a explicar, por contraposição, o que estou chamando de “estética do ressentimento”.
Dead man, assim como outros filmes de Jarmusch, é pontuado por referências irônicas às origens recalcadas da cultura ocidental. Tradições abandonadas, autores esquecidos, saberes milenares totalmente desprestigiados e descartados pela velocidade de adaptação que a época presente exige de cada indivíduo, ressurgem como fantasmas na vida dos personagens de seus filmes. A referência que se tenta esquecer pode ser a cultura europeia, anterior à norte-americana (em Strangers than Paradise, de 1984, por exemplo), a cultura oriental diante do ocidente (em “Ghost Dog”, de 1998), ou as raízes indígenas soterradas pela voracidade com que o capitalismo conquistou a América, como neste Dead man.
Este elemento, quase irresistível para produzir um drama fundado na “estética do ressentimento”, é tratado de maneira inversa por Jarmusch: não como um apelo à adesão piedosa do espectador pelas “causas perdidas” dos marginalizados da América, mas como recurso eficiente para pôr a nu a pobreza de espírito, a ignorância e a estupidez da vida dos bem adaptados. Os “fantasmas” das referências culturais recalcadas não aparecem, nestes filmes, para lamentar seu esquecimento, e sim para rir dos vivos.
Não vejo outro modo de explicar o que quero dizer a não ser contando a história de Dead man. Peço desculpas aos que não viram o filme, se com isto estrago algumas boas surpresas do roteiro. O personagem de Johnny Depp é um moço caracterizado como fino e bem-educado, de Cleveland, que toma um trem para alguma cidade mítica do oeste americano – um lugar marcado por todos os clichês dos velhos filmes de faroeste; o “fim da linha”, o próprio “inferno”, avisa o maquinista do trem, com o rosto preto de carvão, estranhando a figura daquele almofadinha num vagão cheio de bandidos, caçadores e vagabundos.
O tratamento iconográfico dado à região lendária do oeste americano já difere muito da idealização cinematográfica do “velho oeste”, em que homens rudes e mulheres sensuais movem-se contra o pano de fundo de vilas idílicas, fazendas que realizam a “nostalgia rural” dos espectadores e paisagens exuberantes que anunciam a grandeza da América. O “oeste” de Jarmusch, nesta história que deve se passar no começo deste século, é uma feia caricatura do país mais rico do planeta.
A figura lendária do bandido temível, “inimigo público” de donzelas, fazendeiros e banqueiros, foi substituída pela do industrial dos primórdios do capitalismo selvagem – com a diferença de que se o primeiro era perseguido pelos homens da lei, o segundo faz a lei segundo seus interesses. Os índios estão dizimados, as aldeias incendiadas, os vendedores ambulantes vendem cobertores contaminados pela tuberculose para acabar mais rápido com os nativos que ainda restaram.
A fábrica em que nosso herói se alista para trabalhar é um monstruoso pavilhão poluidor do ar e dos rios, que domina a vida de uma cidadezinha violenta e miserável. Seu proprietário, Mr. Dickinson (Robet Mitchum), mantém os negócios e os empregados sob um regime de completo terror. Quando o moço de Cleveland chega para reivindicar o emprego de contador ao qual se candidatara por correspondência, com a carta de admissão nas mãos, fica sabendo que já existe outro empregado em seu lugar. Ninguém lhe explica nada, a não ser que ele chegou tarde demais; a demora nos correios e nos transportes (deduzo espectador) impôs um atraso de dois meses entre a admissão do candidato e sua chegada ao local do emprego. A vaga já é de outro, sem apelação, e ele é jogado na rua sem emprego e sem dinheiro para voltar.
Detalhe interessante nesta passagem: o nome do personagem de Johnny Depp é William Blake, mas tanto ele quanto os empregados da fábrica, e o próprio chefão, ignoram a existência do poeta. Erram seu nome, chamam-no “Mr. Black”, ele corrige – “Blake” – e a palavra fica solta, sem referência, sem sentido.
Assim começa, a partir de um desencontro forjado pelo acaso, o que se pode chamar de “destino” de um homem; não a repetição freudiana do sintoma, produto do desejo recalcado, mas o imponderável da vida que escapa ao controle do eu, agitada por forças alheias à vontade individual, contra as quais o sujeito tem frágeis recursos para lutar. Fica-se sabendo que o William Blake perdeu recentemente os pais, e empregou o dinheiro da herança na viagem. Pode-se deduzir desta informação um desejo de mudar de vida, de ganhar o mundo, de fazer alguma coisa a partir do desamparo.
O fracasso nesta empreitada poderia produzir um personagem marcado pela autopiedade; a escolha de Jarmusch é diferente. O protagonista de seu filme entrega-se a seu destino. Como Ada, de “O piano”, Blake também não luta contra o “destino” – mas não oferece resistência ao que a vida fez de sua vida. Ele aceita, simplesmente, sua nova condição, e entrega-se a ela. O passado fica para trás, o presente conduz a duas ações. Veremos.
Depois de comprar um whisky com suas últimas moedas, nosso herói vai parar no quarto de uma ex-prostituta da cidade, atual vendedora de flores, em retribuição a um gesto de espontânea gentileza que teve para com ela. Espanta-se de que Thel guarde um revólver sob o travesseiro. Por quê? “Porque estamos na América”, ela responde. Logo o revólver vai revelar sua utilidade: o ex-namorado de Thel entra no quarto, atira nela, e acaba sendo morto pelo apavorado contador, que foge como pode pela janela. Acontece que a bala que matou a moça veio a alojar-se no coração de William Blake, pois ela havia se atirado diante dele para protegê-lo.
Na cena seguinte Blake está voltando a si, já no meio do mato, e a primeira coisa que vê é o rosto de um índio que está escavando seu peito com uma faca, tentando (sem sucesso) retirar a bala. “Stupid white man”, diz o índio, furioso. Depois, pergunta se Blake tem algum tabaco; “eu não fumo”, responde Blake, deixando o índio ainda mais convencido da estupidez do homem branco (ao longo do filme, este diálogo há de se repetir a cada encontro com desconhecidos: “você tem tabaco?” – o objeto do desejo da nova civilização que está se impondo – “eu não fumo” – para decepção ou ira de quem solicitou).
A conversa entre os dois muda completamente de rumo quando Blake revela seu nome. Ironicamente o índio (Gary Farmer), desgarrado de sua tribo (e que já viveu, prisioneiro, entre os brancos), é o único personagem que conhece e venera o poeta, e trata o homem branco como se fosse o próprio William Blake, ou sua reencarnação. Ele cita os versos que pontuarão o resto do filme, daqui em diante:
“Everey night and every morn’
some to misery are born.
Every morn’ and every night
some are born to sweet delight, (…)
some are born to endless night”.
Aos poucos, enquanto sua nova história vai se reescrevendo, o sentido do poema de Blake vai se revelando a seu xará: “sweet delight” e “endless night” são duas faces da mesma moeda, a vida. De um estado ao outro a passagem pode ser muito rápida; a rapidez de um tiro, a rapidez que separa estar vivo de estar morto. William Blake está agora nas mãos do índio, cujo nome dispensa comentários: Nobody (Ninguém). “Você matou o homem branco que te matou, William Blake?” pergunta Nobody. “Mas eu não estou morto”, responde Blake – e o índio não diz mais nada.
Enquanto isto, ficamos sabendo que o homem que Blake matou na casa de Thel era filho do industrial Dickinson. Este contrata três pistoleiros – os mais rápidos do oeste, para não fugirmos à lenda – e espalha cartazes com o retrato de Blake por toda a região, oferecendo prêmio por sua captura. A lenda está pronta para ser (re)contada. Um índio de sangue misto rejeitado por sua tribo, um branco forasteiro ferido, com a cabeça a prêmio por conta de um assassinato, pistoleiros de aluguel (que terminam, como é de se esperar, matando uns aos outros), terras inóspitas, bandidos, vagabundos, aventureiros.
Devo dizer que o filme é em preto-e-branco; seu ritmo é pausado; a ironia dá o tom constante a esta paródia de Jim Jarmusch, que não faz concessões ao cinema de massas e brinca com o gênero do faroeste, ponta-de-lança da poderosa indústria hollywoodiana, sem lhe destituir de grandeza trágica.
Aos poucos, percebe-se que Blake está sendo iniciado em algo que ele mesmo não percebe o que é, por seu amigo Nobody. É claro que o índio também é uma paródia de índio, e a suposta sabedoria de seus antepassados é transmitida ao branco em frases tão enigmáticas (“as pedras falantes escutam o sol”, “a águia não deve tentar aprender com o corvo” etc.) que Blake desiste de entendê-lo. Mas aprende com ele duas coisas fundamentais; primeiro, a matar.
Ele vai se transformando, como não poderia deixar de ser, no “gatilho mais rápido do oeste”, uma lenda viva, e tal. Segundo, aprende a morrer. Isto o espectador vai percebendo muito sutilmente, muito devagar. Nobody pinta no rosto do companheiro marcas que o fazem parecer uma caveira, não lhe deixa comer, fala em iluminação, em travessia do espelho, e em certo ponto da errância dos dois pelas montanhas, abandona Blake sozinho: “Que o grande espírito cuide de você”.
Abandonado, Blake encontra um filhote de veado morto com um tiro, e começa a compreender. Molha as pontas dos de dos no sangue do animal, cheira o sangue, compara com o cheiro de seu próprio sangue (sua ferida, como a do Tristão medieval, nunca deixou de sangrar), pinta com sangue o que falta pintar em seu rosto. Depois deita-se ao lado do veadinho abatido, o corpo acompanhando o contorno do outro corpo, identificado com o animal; “some are born to sweet delight (…) some are born to endless night”.
Mais tarde os dois se reencontram casualmente, e o índio assume de vez que tem de conduzir o homem branco até o fim. Dirige-se com ele ao que seria uma tribo indígena – um grande galpão, quase um cortiço, onde os últimos índios que restaram no oeste americano vivem como ciganos, ou como mendigos, como cultura em extinção que ainda quer sobreviver. William Blake já está muito fraco, mas confia em Ninguém. Os índios fazem um lindo barco forrado de flores; vestem Blake com roupas rituais, deitam seu corpo no fundo do barco. “Hora de partir”, diz Ninguém. Blake sorri; está entendendo. “Hora de voltar para o lugar de onde você veio” – e lança a embarcação fúnebre ao mar.
No último minuto, Blake apalpa o bolso e diz ao amigo: “achei um pouco de tabaco aqui”. O índio, que passou o filme inteiro atrás de tabaco, e que maldisse várias vezes o companheiro branco por nunca trazer tabaco com ele, devolve a carga preciosa ao moribundo: “é para a sua viagem”. As últimas palavras de Blake, já começando a ser levado pelas águas, são: “Nobody: eu não fumo.”
Não é preciso consultar uma pesquisa de mercado para saber que Dead man teve muito menos público e menor repercussão do que “O piano”. O primeiro é um drama; o segundo, apesar do tom paródico, traz a marca característica da tragédia; não porque termine com a morte do protagonista, enquanto “O piano” passa pela iminência da morte apenas para dar mais ênfase ao “final feliz”. Mas porque, como é característico do trágico, o sujeito vai ao encontro do seu destino, cujo sentido só se revela no final. William Blake está ferido de morte, mas não sabe disto. Ele não previu o que a vida que lhe reservava, quando partiu de Cleveland para o oeste; mas de certa forma aceita o imponderável e dispõe-se a vivê-lo como puder.
A analogia entre os dois personagens é mais aparente do que consistente. Tanto Ada quanto Blake dispõem-se a abandonar uma vida já tornada estéril pelas circunstâncias – a viuvez de uma, a orfandade de outro –, mas a “vida nova” que encontram não é a que foram procurar. Diante disto, a grande diferença é que Ada permanece presa às suas memórias e resiste ao presente, como que cobrando da vida o fato de que a morte e a finitude sejam partes integrantes dela. Recusando o caráter trágico da existência, Ada, que está viva, tenta morrer.
O William Blake de Jim Jarmusch traz a marca inconsciente de seu nome. É o nome do grande poeta e gravurista inglês do século XVIII, autor, entre outros, de “O casamento do céu e do inferno” (1790). “A eternidade vive enamorada dos frutos do tempo”. “O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria”. “O rugir dos leões, o uivo dos lobos, a ira do mar e a espada devastadora são porções de eternidade demasiado grandes para o olho humano”. “A alma imersa em delícias jamais será maculada”. “O verme perdoa o arado que o corta”. Estes são alguns dos Provérbios do Inferno de Blake[xi], que nos fazem pensar no misticismo do poeta como precursor da filosofia trágica de Nietzsche. O Blake de Jarmusch, que ironicamente ignora a existência de seu precursor, entende o sentido do único poema que Nobody lhe dá a conhecer.
Este Blake, que está indo ao encontro de sua porção particular de endless night, acata a vida. O resultado é que, no decorrer do filme, a vida opera inúmeras transformações nele. A comparação com Ada novamente é irresistível. Esta permanece fiel a si mesma do começo ao fim – “doente de si mesma”, como escreveu Nietzsche. Blake é extremamente plástico. De contador a pistoleiro, de almofadinha da cidade a aventureiro errante, de bom moço a “inimigo público número um”, William Blake deixa-se atravessar pelas forças violentas da vida, assim como se deixa guiar pelo amigo, para um destino que pressente, mas desconhece.
Há uma diferença psicológica, quase imperceptível, na maneira como a entrada de um semelhante determina os destinos de Ada e Blake. Em ambos os casos esta entrada é determinante. George resgata Ada do ressentimento para o amor, Nobody conduz Blake de uma vida insignificante para uma morte que faça algum sentido. A diferença é que George tem de fazer, por Ada, o que esta se recusa a fazer; exemplar é a cena em que ele consegue pela primeira vez levá-la, nua, para sua cama, mas não consegue extrair dela nenhuma carícia, nenhum movimento. Vemos, em plano médio, a mão de George tentar animar a mão de Ada, que está inerte, para uma carícia; tentar fazer, inutilmente, com que o braço morto dela o envolva num abraço.
A entrega de Blake aos cuidados de Nobody tem um caráter muito diferente. Um caráter ativo. Por exemplo, quando o índio ordena que ele vá até o acampamento de alguns vagabundos tentar obter um pouco de comida, Blake mostra medo. “Prefiro não ir”, diz ele. Mas Nobody exige, e ele vai. E quando vai, vai até as últimas consequências. E desta maneira que se torna um pistoleiro infalível, capaz de se defender e defender o amigo. Blake depende de Ninguém para sobreviver; mas a intromissão do índio é decisiva para modificá-lo: um outro homem se produz deste encontro.
Se a morte é inevitável, William Blake a carrega consigo sem se lamentar, talvez mesmo sem prestar muita atenção a ela – até o último minuto, vai vivendo o que a vida lhe traz. Sweet delight e endless night são indissociáveis. “O gozo fecunda; a tristeza dá à luz”, escreveu o outro Blake, dois séculos antes de Jarmusch conceber o seu filme. Já a miséria – miséria da alma, apego mesquinho a uma identidade imaginária do homem consigo mesmo e com sua doença – esta pode ser superada; some to misery are born, diz o poema. Será que a miséria é necessariamente um destino?
O tabaco, que Nobody procurou ansiosamente, está na barca que leva Blake em sua viagem através do espelho. O amigo lhe oferece, mas o índio o devolve, para a última viagem. “Eu não fumo” lembra Blake, mais uma vez. Mesmo assim, o tabaco vai com ele. Para o índio, o tabaco na barca funerária faz parte de um ritual, o ritual que simboliza a reintegração do homem com o cosmos, a possibilidade de uma iluminação, enfim. “Se as portas da percepção se purificassem, cada coisa apareceria ao homem tal como é: infinita”.[xii] Para nós, contemporâneos de Jarmusch, esta percepção já não é mística; é poética. E a poesia ainda oferece alguma transcendência para a miséria cotidiana. Quem vai pensar em tabaco, numa hora dessas?
Maria Rita Kehl é psicanalista, jornalista e escritora. Autora, entre outros livros, de Ressentimento (Boitempo).
Publicado originalmente no livro Psicanálise, cinema e estéticas de subjetivação, organizado por Giovanna Bartucci (Imago, 1994).
Notas
[i] Lacan, Jacques. (1948) La agresividad en psicoanálisis. In: Lacan, Jacques. Escritos. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, vol. I, 1994, p. 94-116.
[ii] Cf. Nietzsche, Friedrich. (1887) Genealogia da Moral. São Paulo. Companhia das Letras, 1998. Tradução de Paulo César Souza.
[iii] Laurent-Assoun, Paul. (1980) Neurose e moralidade. In: Laurent-Assoun, Paul Freude Nietzsche, semelhanças e dessemelhanças. São Paulo, Brasiliense, 1989. p. 230.
[iv] Machado, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro, Graal, 1999, p. 64.
[v] Idem, ibidem.
[vi] Idem, ibidem.
[vii] Ibid, p. 65
[viii] Laurent-Assoun, Paul, (1980) op. cit., p. 232.
[ix] lbid, p. 231.
[x] Cf. Freud, Sigmund. (1915) Puntualizaciones sobre el amor de trasferencia. Sigmund Freud. Obras Completas. Buenos Aires, Amorrortu editores (A.E.). 1989, vol. XII, p. 161-174.
[xi] Cf. Blake, William. (1790) Provérbios do inferno. In: Escritos de William Blake (Coleção “Rebeldes Malditos”). Porto Alegre, LSPM, Blake, William. 1984, p. 27-34. Tradução de Alberto Marsicano e Regina de Barros Carvalho.
[xii] Blake, William, (1790) op. cit., p. 71.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

