O que dizem os novos modelos sobre imunidade coletiva
Estudos apontam para percentual menor de infecções necessárias. Veja quais são os seus problemas
Publicado 13/07/2020 às 08:44 - Atualizado 13/07/2020 às 08:51
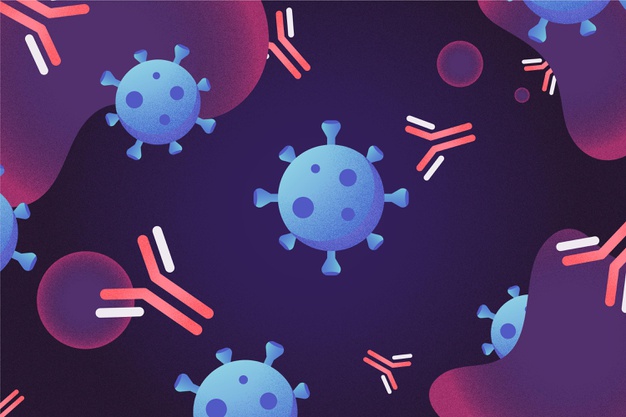
Este texto faz parte da nossa newsletter do dia 13 de julho. Leia a edição inteira.
Para receber a news toda manhã em seu e-mail, de graça, clique aqui.
Governos que busquem (explicitamente ou não) a imunidade coletiva como ‘estratégia’ de controle da covid-19 têm sido alvo de críticas desde que a doença começou a se espalhar, e com razão. É claro que, na ausência de uma vacina, essa é mesmo a única forma conhecida de acabar com a pandemia, mas ao custo de uma contaminação em massa que tem gerado colapso nos sistemas de saúde e mortes desnecessárias. Mas dois estudos publicados em maio e junho têm potencial para criar certo ânimo em quem aposta que alcançar tal imunidade por meio da doença pode ser uma saída factível. Neste fim de semana, eles foram destaque no podcast Social Distance, da revista The Atlantic; e o biólogo Fernando Reinach gerou enorme repercussão ao comentar um deles em um artigo no sábado, no Estadão.
Ambos os estudos se baseiam na ideia de que as pessoas não são igualmente suscetíveis ao novo coronavírus. No artigo publicado em junho na Science, matemáticos das universidades de Nottingham e de Estocolmo criaram um modelo que categoriza as pessoas em grupos de acordo com sua idade e nível de atividade social. Quando essas diferenças são levadas em conta, o percentual de infectados para atingir a imunidade de rebanho cai de 60% (obtido por um cálculo geral, sem considerar diferença alguma entre as pessoas) para 43%. Isso considerando um R0 (o número básico de reprodução do vírus) como 2,5, que é o número considerado pelos cientistas hoje. Se, em vez disso, observa Reinach, o R0 for 2, o percentual cai para 34%.
Para o biólogo, isso explicaria a queda constante dos casos em Manaus. Após o colapso na saúde e no sistema funerário na capital, o Amazonas apresenta uma queda sustentada nos novos casos e óbitos há cinco semanas, mesmo que não tenham sido tomadas medidas drásticas. Ainda de acordo com ele, a descoberta também poderia ser um prenúncio do alcance da imunidade coletiva em determinadas áreas de São Paulo: levantamentos feitos com testes sorológicos mostram que, nos lugares mais pobres, a taxa de pessoas com anticorpos chegou a 16% em junho. “Basta dobrar a taxa, de 16% para 32%, para a cidade de São Paulo atingir a imunidade de rebanho”, escreve Reinach, concluindo: “Sem dúvida é uma boa notícia”.
Mais otimista ainda é o outro artigo, que ainda não passou por revisão de pares. Assinado por dez autores, ele estima que o limiar para que uma população adquira imunidade coletiva pode ser perto de 20% – se isso for verdadeiro, os lugares mais atingidos do mundo podem estar quase lá. Segundo uma reportagem do site Quanta, uma versão atualizada desse trabalho deve ser publicada em breve, com estimativas para Espanha, Portugal, Bélgica e Inglaterra. Nenhum dos trabalhos, porém, ‘crava’ esses percentuais. Eles apenas demonstram o papel que essa heterogeneidade pode ter no cálculo.
Todo cuidado é pouco
Vários especialistas argumentam que é cedo para tentar estabelecer com confiança os limites exatos da imunidade de rebanho no caso da covid-19. Para outras doenças, por exemplo, ela está até bem acima de 60%. Jeffrey Shaman, da Universidade de Columbia, diz na Quanta que esse cálculo para imunidade do rebanho “não é consistente com outros vírus respiratórios. Não é consistente com a gripe. Então, por que se comportaria de maneira diferente para um vírus respiratório em relação a outro?”.
Logo após a publicação do artigo, os editores da Science admitiram que tiveram dúvidas se seria válido publicar as descobertas porque “as forças que desejam minimizar a gravidade da pandemia e a necessidade de distanciamento social se aproveitariam dos resultados para sugerir que a situação era menos urgente”. Notam que os próprios autores “são muito cuidadosos ao apontar que este é apenas um modelo altamente dependente de suas suposições“, e que, de todo modo, nenhum lugar no mundo parece perto de atingir os 43% previstos no cálculo mais otimista dos pesquisadores.
Também é preciso dizer que, nesse cenário de 43%, teríamos só no Brasil cerca de 90 milhões de infectados. Se 1% deles morressem, seriam mais de 900 mil óbitos. Não nos esqueçamos do que aconteceu em Manaus antes da atual estabilidade.
Permanece o mistério
Mas não está claro por que quase todas as regiões mais duramente afetadas pelo coronavírus que reabriram recentemente continuam apresentando queda sustentada no número de mortes e infecções. Isso parece acontecer tanto nos lugares que reabriram com mais cuidados, como na Europa, como também no Brasil e dos Estados Unidos – embora nesses dois países os locais que tinham sido pouco impactados estejam com casos em alta, elevando as médias gerais, como nota a reportagem de Fernando Canzian na Folha. Os estados que viveram as piores tragédias num primeiro momento ainda não têm 20% da população infectada, mas não tiveram repiques após as reaberturas. Neles, mesmo que os casos estejam crescendo, isso acontece a uma taxa menor e não há por exemplo falta de leitos de UTI.
Um dos motivos para isso, escreve a jornalista, pode ter a ver com o fato de que aparentemente o número de anticorpos para o SARS-CoV-2 diminui com o tempo. Assim, haveria mais gente infectada do que as pesquisas sorológicas mostram. Tanto é que no Brasil a Epicovid-19 mostra grandes reduções na prevalência da população com anticorpos em várias cidades do Norte, por exemplo. Mas mesmo essas pessoas que perdem anticorpos (e não aparecem nos levantamentos sorológicos) podem estar imunizadas pela ação de linfócitos T, que não produzem anticorpos mas também combatem o vírus. “Para Julio Croda, infectologista da Fiocruz, a imunização contra o coronavírus pode estar se dando de forma ‘cruzada’: pela suscetibilidade individual (com linfócitos B e T) e por outros fatores genéticos combinados às políticas de distanciamento social e o uso de máscaras”, diz a matéria.
Do futuro, ninguém sabe
Há outro problema no horizonte da imunidade coletiva: é que ninguém sabe ainda por quanto tempo uma pessoa fica imune ao novo coronavírus depois de se infectar. Há meses falamos aqui sobre isso. Na Coreia do Sul foram encontradas pessoas que testaram positivo novamente depois de terem recebido testes negativos; mas elas não apresentavam sintomas, e ainda em maio a líder técnica da Organização Mundial da Saúde, Maria van Kerkhove, afirmou que não se tratavam de vírus ativos: os testes estavam reagindo com células mortas que emergiam da cicatrização dos pulmões.
Mas o relato de um médico no site Vox nos traz novos calafrios. Clay Ackerly fala de um paciente que pegou o vírus com sintomas leves, curou-se, fez dois testes PCR que deram negativo após essa infecção e, seis semanas depois, testou positivo de novo. Mas sentindo-se pior: teve febre alta, falta de ar e hipóxia, No texto, Ackerly cita outros relatos semelhantes. “Estou ciente de que meu paciente representa um tamanho de amostra de um, mas, juntamente com outros exemplos emergentes, histórias estranhas como a dele são um sinal de alerta de um possível padrão. Se meu paciente não é, de fato, uma exceção, mas prova a regra, muitas pessoas podem pegar a covid-19 mais de uma vez e com gravidade imprevisível. (…) Esta é uma doença nova: as curvas de aprendizado são íngremes e precisamos prestar atenção às verdades inconvenientes à medida que elas surgem. A imunidade natural ao rebanho está quase certamente fora do nosso alcance. Não podemos colocar nossas esperanças nisso.”
*Este conteúdo foi alterado para uma correção. Inicialmente, escrevemos que a reportagem da Folha era de autoria de Natália Cancian, mas a informação está errada. O correto é Fernando Canzian.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
