Como a revolta social busca o Comum
Reflexões históricas sugerem: sociedades de classe tendem à desigualdade e devastação. Em certo ponto eclodem rupturas, movidas pela reciprocidade. Elas estão claras hoje: desafio é articulá-los num projeto pós-capitalista global
Publicado 09/03/2021 às 19:19 - Atualizado 25/12/2021 às 11:19

Por Michel Bauwens e José Ramos, no Resilience | Tradução: Simone Paz
Este texto é um trecho do livro The Great Awakening: New Modes of Life in Capitalist Ruins (“O Grande Despertar: Novos modos de vida em meio às ruínas capitalistas”), editado por Anna Grear e David Bollier. Esta é a primeira parte do capítulo Awakening to an Ecology of the Commons (“Despertando para uma Ecologia dos Comuns”), escrito por Michel Bauwens e José Ramos
Você pode obter mais informações sobre o livro e baixá-lo [em inglês], gratuitamente, aqui.
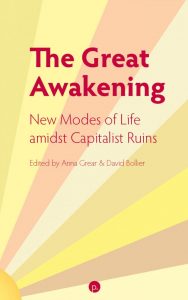
Vivemos um momento de transformação na história da humanidade: à beira do precipício da crise e, simultaneamente, despertando para uma nova consciência: a de que precisamos ser construtores do Comum e seres planetários.
Para cada indivíduo, este momento transformador da história se parece mais com uma crise do que com uma transição — prolongada, cheia de perigos, obstáculos e dores de crescimento. O momento, porém, é o nascimento do “planetário” como elemento da experiência humana, e ao nosso ver, ele é a transição das ordens sociais baseadas na exploração para as que se apoiam na mutualidade generativa. Neste capítulo, explicamos a emergência articulada do planetário e dos Comuns, como campos complementares de experiência; e seus papéis na reimaginação de quem somos.
Os Comuns como mutualização no Antropoceno
Muito já se escreveu sobre o chamado Antropoceno, uma nova época que entende a humanidade como muito mais do que apenas um viajante passivo no planeta Terra. O Antropoceno sinaliza que humanidade passou a atuar como um transformador, ou um “terraformador”, de nosso planeta — produzindo efeitos comparáveis a grandes mudanças geológicas [1]. Para o propósito desta discussão, podemos distinguir três “movimentos” do Antropoceno.
O primeiro é, obviamente, a importância dos humanos como espécie com impactos planetários. Esta é a definição popular do Antropoceno: a humanidade tornou-se uma força agregada tão poderosa que podemos nos atribuir uma era geológica! Se essa fosse a única dimensão do Antropoceno, entretanto, não seríamos diferentes da espécie que gerou a primeira crise planetária, há cerca de 2,5 bilhões de anos: as cianobactérias anaeróbicas, que levaram ao Grande Evento de Oxigenação onde o planeta foi literalmente envenenado pelo excesso de oxigênio, um produto residual destes organismos [2].
Felizmente, o Antropoceno também significa a consciência de nos compreendermos como uma espécie com impactos planetários [3]. Não estamos apenas causando um impacto no planeta, às cegas. Estamos cada vez mais conscientes de nossos efeitos poderosos e precários. Temos o poder de refletir sobre quem somos, de avaliar o que significa ser humano. Apesar do primeiro movimento do Antropoceno — poder instrumental humano — ser muito mais avançado do que o segundo — consciência planetária reflexiva –, este segundo movimento vem se aproximando do primeiro, por razões óbvias.
Finalmente, o terceiro movimento do Antropoceno fecha o ciclo dos dois primeiros: são as respostas planetárias reflexivas [4]. Trata-se da capacidade da humanidade de alavancar o segundo aspecto (consciência planetária reflexiva) em direção a respostas inteligentes e coordenadas aos desafios que enfrentamos coletivamente. Este terceiro movimento do Antropoceno é de longe o mais embrionário e, ainda assim, o mais crucial, para todos os efeitos. Sem ele, teremos pouca ou nenhuma esperança de qualquer viabilidade real a longo prazo.
Esses três aspectos representam um ciclo clássico de aprendizagem pela ação: agir – refletir – mudar, mas numa grande escala, que apenas começamos a experimentar.
O corpo de ideias e pesquisas sobre os Comuns é parte crítica do segundo movimento do Antropoceno: a nossa capacidade de interpretar e compreender a nós mesmos na era atual; enquanto que a práxis dos Comuns, que chamaremos aqui de “comunização” [orig: commoning], é crítica para o terceiro movimento do Antropoceno: nossas respostas planetárias reflexivas.
As apostas são altas. O Antropoceno é um momento crucial para a humanidade, já que nossa própria sobrevivência está em jogo. Neste capítulo, buscamos defender uma ligação crucial entre a necessidade de reduzir a pegada humana no planeta (e em seus recursos naturais), e as modalidades do Comum, ou seja, o compartilhamento e a mutualização dos recursos.
Essa hipótese foi uma das principais razões para a criação da Fundação P2P, já que, desde o início, elaboramos a seguinte análise da problemática global:
1. A economia política atual parte de uma visão de crescimento permanente e ilimitado, algo que é obviamente impossível (inclusive, fisicamente) em um planeta finito. Chamamos isso de “pseudo-abundância” do mundo material.
2. Esta mesma economia política parte do ponto de vista de que a melhor forma de gerenciar e alocar recursos imateriais também é mercantilizando-os ou tornando-os commodities, por meio da propriedade intelectual. Isso cria uma escassez artificial para recursos que são objetivamente abundantes, especialmente no contexto de uma sociedade digital, com seus meios de reprodução e distribuição de conhecimento economicamente acessíveis. Chamamos isso de “escassez artificial no mundo dos recursos imateriais”.
3. Os dois primeiros erros são agravados pelo fato da nossa organização econômica produzir cada vez mais desigualdade.
A solução para esse estado de coisas parece óbvia. Deve ser possível ter uma economia política que respeite a capacidade do nosso planeta; e deve ser possível compartilhar os conhecimentos necessários para isso. Ao mesmo tempo, essas duas condições devem ser acompanhadas por formas econômicas que respeitem a justiça social.
Mas qual a ligação entre esse desejo de transformação socio-planetária e a modalidade específica dos Comuns?
Seguindo a obra de Alan Page Fiske, Structures of Social Life [5] [“Estruturas da Vida Social] e a visão histórica de Kojin Karatani [6] sobre a evolução desses modos de troca, podemos distinguir quatro modos de alocação de recursos:
1. Participação Comunal ou “Pooling” (compartilhamento); isto é, os sistemas de provisionamento são considerados um recurso coletivo, mantido coletivamente e compartilhado em uma comunidade de colaboradores específica, de acordo com suas próprias regras e normas. Esta é a modalidade dos Comuns, que é ao mesmo tempo: um agrupamento de recursos compartilhados, uma atividade conjunta e um sistema de administração.
2. Troca igualitária, ou seja, uma economia de não-mercado com um sistema baseado na reciprocidade, onde as doações e trocas moldam as relações sociais e mantêm o equilíbrio.
3. Hierarquização segundo a autoridade: redistribuição de acordo com a hierarquia, fator que inclui uma redistribuição conduzida pelo Estado. Essa modalidade torna-se dominante com o surgimento de sociedades de classe caracterizadas pela formação do Estado.
4. Hierarquização pelo mercado, ou seja, a troca de recursos de acordo com o “valor igual”, que se torna dominante na economia política capitalista.
Antes de criar a Fundação P2P em 2006, passamos algum tempo estudando as transições sociais do passado, e uma de nossas descobertas foi que o mutualismo foi um elemento muito importante na transição do sistema romano para o feudal, que deixou uma pegada ecológica muitíssimo mais baixa. [7]
Examine o mutualismo do conhecimento, adotado pelas comunidades de monges católicos, que também foram os engenheiros de seu tempo. De acordo com Jean Gimpel, em seu livro sobre a primeira revolução industrial medieval, as comunidades católicas foram responsáveis por quase todas as inovações técnicas daquela época [8]. Elas funcionavam, efetivamente, para criar Comuns em três aspectos correlatos. Primeiro, a criação de uma esfera europeia global de colaboração dentro da Igreja Católica e suas ordens monásticas, por meio da mutualização do conhecimento. Segundo, a propriedade coletiva e as lógicas de distribuição da vida monástica, por meio da mutualização do abrigo e compartilhamento das unidades de produção, a provisão de proteção, cultura e espiritualidade, bem como um uso de recursos drasticamente mais modesto do que o da elite romana. Ferceiro, a realocação da economia em torno de um sistema de subsistência, baseado em domínios feudais.
A semelhança com nossas própris circunstâncias é evidente.
Confrontados pelos desafios ecológicos e sociais, vemos um ressurgimento dos Comuns do conhecimento na forma de softwares livres e comunidades de design aberto; vemos um movimento de mutualização da infraestrutura produtiva — por exemplo, o surgimento de fablabs (pequenas oficinas de fabricação digital), makerspaces (espaço compartilhado entre makers, hackers e afins), coworkings e também a própria “economia compartilhada” capitalista, focada na criação de plataformas para recursos subutilizados; finalmente, temos novas tecnologias em torno da manufatura distribuída, prototipada em makerspaces e fablabs, que apontam para uma reorganização da produção sob um modelo “cosmo-local” [9]. Portanto, notamos fortes semelhanças entre este e outros padrões históricos, que se correlacionam com a nossa situação atual.
A importância do mutualismo e das estratégias baseadas no Comum, hoje, é reforçada por nossa leitura das mudanças históricas ao longo do tempo. Outro exemplo disso é fornecido por Mark Whitaker, que nos dá oferece uma revisão comparativa de 3 mil anos de superações civilizacionais na Europa, Japão e China [10]. Sua tese central é que as elites em sociedades organizadas em classes, esgotam sua base de recursos não como uma exceção, mas como regra; e que as classes intimamente ligadas à produção real revoltam-se periodicamente e criam movimentos sociais transformadores — que, muitas vezes, assumiram uma forma religiosa [11]. Assim, o que pensávamos estar percebendo na transição europeia pós-romana, pode não ser uma exceção, e também pode ser encontrado na história chinesa e japonesa. Em cada uma dessas transições, a mutualização da infraestrutura é um elemento-chave da transformação.
Além disso, William Irwin Thompson já havia identificado anteriormente essa tendência civilizacional de ultrapassagem nas civilizações babilônica, grega, romana e europeia, onde o crescimento central da civilização ocorre às custas de suas periferias e onde esse abuso ou excesso acaba por prejudicar a viabilidade da própria civilização central. Thompson apontou para uma estrutura comum como uma solução, um arranjo que ele chamou de enantiomórfico [12]. Finalmente, a análise detalhada de Thomas Homer-Dixon sobre o uso de energia na civilização romana chegou a uma visão convergente: a dinâmica de crescimento era anteriormente baseada em grandes “retornos de energia sobre o investimento” (a quantidade de energia necessária para explorar novas fontes de energia), mas diminuiu ao longo do tempo à medida que as externalidades sociais e ecológicas aumentavam [13].
À medida em que surge uma crise civilizacional, uma série de dinâmicas interligadas também pode emergir: a visão de futuro que empolgava a civilização existente pode começar a perder força [14]. Imagens do futuro podem se tornar distópicas, enquanto nascem narrativas contraditórias à civilização, que servem para desvendar a crença central e as lógicas que uniram as pessoas ao antigo sistema.
Uma minoria criativa produz, a partir de uma variedade de perspectivas, novas visões embrionárias, que procuram oferecer soluções em meio à crise [15]. Algumas delas podem ser só visões ou soluções de “fantasia”, que reiteram a lógica central do império sem abordar suas contradições, dando às pessoas uma falsa sensação de ter esperança. Algumas visões e soluções, no entanto, baseiam-se na leitura detalhada das contradições de sua civilização (por exemplo, em nosso contexto, o “crescimento”) e convidam para novos caminhos, que ainda estão fora da órbita epistemológica do império [16].
O mérito desta revisão comparativa é fornecer uma compreensão da não-excepcionalidade — ou até mesmo da regularidade — da ultrapassagem civilizacional. Por exemplo, a tese e a documentação de Mark Whitaker argumentam que todo sistema baseado em classes, cujo início se deu numa competição entre elites, cria uma “economia política degradante” e um uso excessivo de recursos internos e externos. [17] Contra isso, de forma previsível, surgem movimentos eco-religiosos que enfatizam o equilíbrio entre o humano e os humanos, o humano e a totalidade (o divino) e o humano e o meio ambiente. Essas ideias, lideradas em certas épocas por reformadores religiosos, mas seguidas por pessoas que enfrentam diretamente os desafios da produção e da sobrevivência, dão origem a reorganizações da sociedade. São essas transformações baseadas no Comum que permitem que os sociedades produtoras de esgotamento encontrem novas maneiras de trabalhar dentro da biocapacidade de suas próprias regiões. É essa dinâmica — até o momento desenvolvida em escalas locais e regionalmente limitadas — que se torna necessária agora, em escala planetária.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Noel Castree, “The Anthropocene: A Primer for Geographers,” Geography 100, no. 2 (2015): 66–75.
2 Lynn Margulis and Dorion Sagan, Microcosmos: Four Billion Years of Microbial Evolution (Berkeley: University of California Press, 1997).
3 William I. Thompson, ed., Gaia, A Way of Knowing: Political Implications of the New Biology (Barrington: Lindisfarne Press, 1987).
4 Elena M. Bennett et al., “Bright Spots: Seeds of a Good Anthropocene,” Frontiers in Ecology and the Environment 14, no. 8 (2016): 441–48.
5 Alan P. Fiske, Structures of Social Life: The Four Elementary Forms of Human Relations: Communal Sharing, Authority Ranking, Equality Matching, Market Pricing (New York: Free Press, 1991).
6 Kojin Karatani, The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange, trans. Michael K. Bourdaghs (Durham: Duke University Press, 2014).
7 Mathis Wackernagel and William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth (Philadelphia: New Society Publishers, 1998). See also Mark D. Whitaker, Ecological Revolution: The Political Origins of Environmental Degradation and the Environmental Origins of Axial Religions: China, Japan, Europe (Cologne: Lambert Academic Publishing, 2010).
8 Jean Gimpel, The Medieval Machine: The Industrial Revolution of the Middle Ages (New York: Penguin Books, 1977).
9 Vasilis Kostakis et al., “Design Global, Manufacture Local: Exploring the Contours of an Emerging Productive Model,” Futures 73 (2015): 126–35.
10 Whitaker, Ecological Revolution.
11 Ibid.
12 William I. Thompson, Pacific Shift (New York: Random House, 1986).
13 Thomas Homer-Dixon, The Upside of Down: Catastrophe: Creativity, and the Renewal of Civilization (Washington, DC: Island Press, 2010).
14 Fred L. Polak, The Image of the Future: Enlightening the Past, Orientating the Present, Forecasting the Future (New York: Sythoff, 1961).
15 Johan Galtung, “Arnold Toynbee: Challenge and Response,” in Macrohistory and Macrohistorians, eds. Johan Galtung and Sohail Inayatullah (New York: Praeger, 1997), 120–27.
16 Elise Boulding, “Futuristics and the Imaging Capacity of the West,” in Cultures of the Future, eds. Magoroh Maruyama and Arthur M. Harkins (The Hague: Mouton, 1978), 146–57.
17 Whitaker, Ecological Revolution, book abstract
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



Um comentario para "Como a revolta social busca o Comum"