A máquina do mundo e seus claros enigmas
Em poema-ensaio de Carlos Drummond, o ser humano diante do automatismo e a repetição da modernidade. Em nome da técnica, o mundo passa a ser apreendido por equivalências — descartando os sentidos, as interações e o diferente
Publicado 01/07/2020 às 17:47 - Atualizado 01/07/2020 às 19:58

Às quartas-feiras, Outras Palavra publica uma série de artigos de Ricardo Neder, intitulada A Gambiarra e o Panóptico (fruto de livro homônimo, publicado pelo Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina, da UnB, e editora Lutas Anticapital) que, por meio dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, visa compreender a sociedade de controle e vigilância – e se é possível superá-la e reconstruir o Socialismo e as Democracias. Leia a apresentação da série. Aqui, todos os textos já publicados. O título original do texto abaixo é: Machina mundi
A crítica literária assume a forma de ciência social, o que se aplica aos que buscaram desde os anos 1960 do século passado, decifrar o imaginário de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) ao produzir um dos mais enigmáticos poemas-ensaio da língua portuguesa “A Máquina do Mundo”.
Ao contrário de Os Lusíadas (Camões), o poema de Drummond não foi gerado para descrever a glória de alcançar o entendimento da scientiae sobre os mistérios das sucessões e revoluções dos mundos terrestre, lunar e celestiais. Ao contrário, o que parece intrigar os que se ocuparam da estética literária como expressão da sociedade, o poema “A Máquina do Mundo” também não é a euforia iluminista da condição humana diante da revolução de Copérnico e Kepler. Aos críticos parece que lhes pesou na consciência o fato de o poeta mineiro registrar a perda da aura dessa imagem. Tal perda foi recuperada por Drummond, que registrou o tempo cíclico e mítico dos antigos. O autor deambula pelo tempo linear ou cronológico, fio-terra do aqui-e-agora da decaída modernidade dos pós-guerras do Séc. XX.
A partir dessa condição, o poema projeta uma interrogação que parecer ser, por que razão se houve perda da aura, a presença desse signo insiste em simular que aponta para o futuro? A estética do poema é propícia aos tons esmaecidos e sombrios. Ainda não é noite, mas é fecho da tarde. O narrador explora uma estrada de Minas, território alegórico (e concreto o suficiente para dele nos fazer familiares, pois estamos no mundo afetivo e inconsciente). É suporte para os passos de um homem sob a luz decaída do dia.
* * *
O sujeito sofre uma experiência inaudita, pois tem diante de si objeto dotado da estranha capacidade de comunicação clara e nítida cuja intersubjetividade é automática, sem palavras, nem sinais, pura imagética (“assim me disse, embora voz alguma/ ou sopro ou eco ou simples percussão/ atestasse que alguém, sobre a montanha,// a outro alguém, noturno e miserável,/ em colóquio se estava dirigindo”).
A distinção entre humano e não-humano, abolida pela fusão, é de menor importância. Agora passa para primeiro plano algo mais grave, o problema ético da adesão a essa intersubjetividade mecânica. Drummond (leitor de Dante) com seu poema-ensaio funda a expressão da ontologia em torno de um duplo deslocamento. O primeiro – assinalado na obra de Camões – é marcado pela reflexividade (ou autoconsciência), diante de um signo que provém do Renascimento, cuja semântica está enraizada na escola clássica da articulação entre valores das belas-artes, trabalhos mecânicos e biografia, retórica, crítica, história, antropologia, sensualidade, educação e costumes.
A estes valores Marcuse se refere no capítulo sobre estética em Eros e civilização, tendo sido esse imaginário deslocado pelo poder do racionalismo e do empirismo científicos próprios do Iluminismo e aprofundados pela revolução industrial burguesa.
O signo da poiesis tem sido aprofundado como domínio da técnica que preside a representação científica de progresso e humanidade do Iluminismo. (Se é, ou não um fato universal, não importa: ele assume feições e circunstâncias concretas que devem ser pesquisadas, onde, como e se, de fato, ocorre esta traição).
Sempre que se manifesta, há um deslocamento de que (a nossa) autopercepção (reflexividade) está ameaçada ou já foi capturada pelo mecanismo da máquina. Torna-se automatismo, operação.
Vejamos esses dois deslocamentos com vagar. Antes dos tempos modernos (Séculos X-XV) toda técnica na manufatura simples, artes e ofícios sob controle dos artesãos e artesãs, guildas e comunidades fabricantes, era enraizada culturalmente, socialmente embebida na trama de vida social rural e urbana. Sem este enredamento (entramado) a techné não podia sobreviver. Quem colocava em prática a techné? Um estamento social, casta, ou segmento de classe de interesses com autonomia para desenvolver a leitura do mundo enquanto reflexo de suas necessidades: as sociedades/associações dos trabalhadores/as, o povo que dominava a experiência da fabricação. No Brasil, eram os africanos que dominavam as técnicas do engenho de açúcar, ferreiros, artífices da prata e do ouro, sapateiros e carpinteiros, construtores no adobe, mineradores. O momento zero de fundação da universidade moderna no ciclo conhecido como Reforma napoleônica/humboltiana da árvore do conhecimento ao longo do Séc. XIX, retirou do povo este saber fazer e sua experiência no seus contextos comunitários. Hierarquizou-os na academia. Se hoje a ciência se ergue sob os ombros da tecnologia (como tecnociência) isto ocorre graças à estes gigantes à moda antiga da manufatura simples. No Séc. XXI assistimos a uma retomada pela microeletrônica, miniaturização e um conjunto de novas ciências de uma possível revivência da antiga simbiose entre saberes & técnicas enraizadas no senso comum ou na prática cultural.
(Esta distinção aberta pela modernidade do século XVIII ao olhar para o mito, quer nos passar a versão de que Prometeu roubou a técnica de fazer o fogo. Como se não lhe foi ensinado como dominar o calor e o movimento das águas para converter isto em eletricidade, e, tampouco, fazer da produção artesanal indústria de massa?)
Tal deslocamento operado no/pelo capitalismo parte de uma estética do corpo que exige um controle sobre a precisão (geometria e da matemática do espaço às quais os sistemas técnicos de comunicação via celular são servos fiéis).
O sujeito clássico era alguém que se imaginava sob a simbiose entre artes, humanidades e a oficina numa trama de epopeia. Tal como o surgimento do romance foi uma fissura entre o homem e o mundo em oposição à epopeia, assim também parece similar a narrativa dos múltiplos territórios do sujeito contemporâneo. Fragmentada, nunca se fecha, não permite a pacificação entre o conceito e a coisa, diante do romance moderno dos séculos XIX e XX. O sujeito que pesquisa deve acostumar-se a pensar que o plural do eu nem sempre é o nós das comunidades ou dos coletivos; o plural referido a um único sujeito revela não haver um só modo de pensar, sentir, acionar um objeto ou modelo cultural (Canevacci e Matos). A que isto leva senão ao não-idêntico da identidade? É que, por não ser nunca idêntica a si mesma, a identidade se apresenta na grande metáfora da viagem – deslocamento no espaço e no tempo, referida ao território interno do próprio viajante, nele arriscamos nossa própria transformação.
* * *
Se o sujeito narrador está fincado nessa arena aberta pela máquina do mundo do segundo deslocamento, neste território é impossível deslindar, nem dele retirar-se, como se tudo pudesse se equacionar pela chegada da noite. E é esse território que aproxima “A Máquina do Mundo” de toda uma geração de intelectuais (marginais ou integrados aos ideários socialistas no Brasil) diante da aceleração da modernidade no pós-II Guerra Mundial, que se perguntava como conciliar essa aceleração com a trajetória de um sujeito em renúncia a essa modernidade? A prática de métrica antiga, bem como a utilização de termos etimologicamente arcaicos para descrição de uma totalidade com a qual não se identifica.
Drummond parece rechaçar a máquina, mas permanece no território expressado inicialmente como uma estrada de Minas, algo inescapável, um território inexaurível, rota do destino para fundar as contradições do ser diante da transformação do mundo). A dimensão da (grande) recusa do sujeito – diante da sedução da máquina – não é abandono do território no qual a luta se trava. O palco em que ambos – homem e máquina do mundo! – pelejam é, antes, um ardil, pois ao fazer do artifício (ardil) seu maior domínio, o sujeito contemporâneo tem que responder à máquina no plano do contradomínio, onde o paradoxal é justamente o fato de que a separação do sujeito aparece como fundante do território, em dessintonia com o mundo.
Ao se (des)colocar na defensiva, o sujeito narrador se aproxima da representação do Eu como um afeto (fenomenológico) de total fusão entre o mundo e a máquina… Mas está diante de uma figuração. O (meu) mundo real – nos diz o sujeito drummondiano – é múltiplo, polivalente, simultâneo e vago, mistério e ciência.
Conflito e separação, racionalidade e emoção, distinção para operar ou integrar? Esses dilemas não existem na proposta de fusão, combinação e articulação, fruição em sentido do mimetismo homem-natureza-máquina (fusão proposta pela máquina). O sujeito drummondiano rechaça essa possibilidade iluminista.
A cisão é somente dele, é inalienável seu direito nesse sentido. Sua resposta: não! (Consegue? Deve? fazer dessa aproximação uma promessa de unidade. Parece deslocado da estética mundo/máquina; sente-se diante de uma situação paradoxal no contato com o outro, pedindo uma resposta). E a aproximação é deslocamento (pois a densidade dramática do sujeito é cuidadosamente auscultada pelo outro).
A máquina constata a condição estrangeira e alienada do sujeito narrador (por sagacidade? ingenuidade? fraqueza?) e o interpela pedindo sua adesão explícita ao projeto de acesso a um conhecimento capaz de revelar por meio d’essa ciência sublime e formidável/ mas hermética, essa total explicação da vida/ esse nexo primeiro e singular/ que nem concebes mais, pois tão esquivo. No primeiro deslocamento (renascentista) ainda não havia o problema do desencontro entre ciências, artes e filosofia (aberto no século XVIII pelas ciências especialistas). No segundo deslocamento a mundi machina assume um imaginário que é construção arbitrária diante do acaso da Natureza. Tal construção arbitrária é também marcada pelo nascimento da estética – assinalada por Marcuse em Eros e Civilização.
O poema-ensaio de Drummond nos coloca diante da recusa à concepção naturalista de unidade feita a partir da separação e posterior reelaboração, para melhor controlar e operar própria do racionalismo e empirismo (que preside a relação sujeito e objeto das ciências especialistas).
Mas a estética não está em situação diversa se a posicionarmos face a face com o antigo naturalismo e criacionismo das causas finais, herdado da escolástica medieval quando as artes da cópia fixou imitação para o naturalismo.
Nas humanidades e artes, a estética do naturalismo e humanismo antes do século XVIII persistiram graças à mimese e aos deslocamentos, não mais como fusão entre realidade simbólica e realidade psicológica. A separação pode assim, ser anterior à grande recusa da estética.
* * *
A fidelidade de Penélope a Ulisses já foi vista como uma metáfora filosófica para exprimir a fidelidade do pensamento (razão) ao ser (sentimento, emoção, sensualidade). Já para o sujeito drummoniano conciliar pensamento e ser num mesmo território será preciso – ao contrário de Ulisses – para não retornar a casa (da razão) mas perfazer um périplo em torno das mimeses que unem o sujeito às humanidades e artes. Há uma dupla representação, de um lado a dissociação entre pensamento e ser, e de outro, a conciliação entre eles não passa apenas pelo problema do conhecimento (consciência enquanto reflexividade).
Estamos diante da outra reflexividade, a que incide sobre o naturalismo dos automatismos e das repetições. Sem esse território (ora histórico, ora ontológico) não há sujeito, não há máquina do mundo. Os críticos e ensaístas que se debruçaram sobre esse poema não dizem que estamos diante de uma alegoria e símbolo passadista; afirmam – ao contrário – sua atualidade pois no coração (do poema) há uma luta do sujeito contra a relação entre a condição humana e o automatismo, repetição (essa face negra que é difícil perceber mas está estampada como acídia, segundo decifrou Bosi). Tal estado sombrio cobra hoje o direito a seu próprio território que é o do jogo improdutivo e inútil contra a repetição. E o que é a repetição, nesse contexto do automatismo para o sujeito contemporâneo?
O mito de Midas é esclarecedor a esse respeito. Amaldiçoado pelos deuses a reproduzir tudo que tocasse pelo mesmo, Midas pede misericórdia e confessa que está cansado de reduzir ao mesmo tudo que é diferente, de procurar sempre o denominador comum, de fazer comparações e estabelecer equivalências, de trabalhar por associação e justaposição, e não por contato e contágio, de isolar, julgar, avaliar! Midas, entediado pela repetição do movimento de dominar o que tocava para virar ouro, converte-se prisioneiro do próprio movimento que o torna escravo.
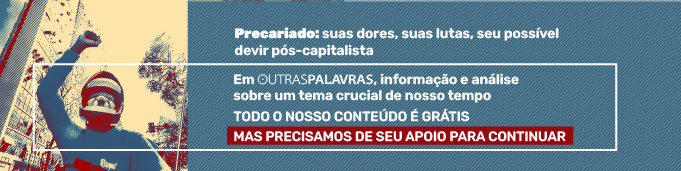


Um comentario para "A máquina do mundo e seus claros enigmas"