Por um programa de mudanças profundas
Nas importantes mobilizações dos últimos anos, há esboço de novo projeto para o país. Não será hora de desenvolvê-lo?
Publicado 22/10/2014 às 12:21

“Emergiu um conjunto de propostas que despertam entusiasmo de amplos setores sociais – mas são bloqueadas pelo sistema político. Enunciá-las articuladamente teria enorme importância simbólica”
Por Antonio Martins | Colaborou Graziela Marcheti | Imagem: Sergio Larraín
—
MAIS: Leia os demais textos desta série, sobre eleições 2014 e cenário brasileiro:
> Em busca de um novo horizonte histórico
> Terá chegado a hora de um Podemos?
> Por um programa de mudanças profundas
> Contra o retrocesso, o “voto Duvivier”
[ou clique aqui para ler a série toda, num único texto]
—
O discurso em favor de uma nova cultura política esvazia-se quando não está acompanhando de um novo projeto de país e de mundo. Se dizemos que as instituições atuais “não nos representam”, não é apenas porque muitos de seus personagens centrais nos desagradam – mas, fundamentalmente, por sentirmos que o sistema político bloqueia transformações para as quais a sociedade já está madura. Porém, quais são mesmo estas transformações?
Desde que se tornaram claros os impasses do lulismo, há um vazio de horizontes programáticos no cenário da esquerda brasileira. É, provavelmente, a primeira vez que isso ocorre, nos últimos trinta anos. Entre o período final da ditadura e a primeira eleição disputada por Lula, em 1989, o país foi marcado pela retomada das lutas operárias e por um intenso movimento de reivindicações e de crítica ao projeto de desenvolvimento com ampliação das desigualdades, implantado sob liderança dos militares. O processo desembocou em intensas pressões sociais sobre a Assembleia Nacional Constituinte (1986-88). Foi expresso, um ano mais tarde, nos “13 pontos” da campanha à Presidência da Frente Brasil Popular. Muito à esquerda do que seriam, mais tarde, os governos do PT, o documento era uma síntese do desejo de mudança expresso no período anterior e serviu de referência e inspiração não apenas eleitoral.
À derrota de Lula seguiram-se os governos neoliberais de Collor de Mello, Itamar Franco e FHC, a inserção submissa do Brasil no processo de globalização e a neutralização das lutas trabalhistas, num ambiente de desemprego em massa. Os excluídos (em especial, o MST) tornaram-se centrais, na resistência ao novo modelo. Ao final da década de 1990, uma obra coletiva (A Opção Brasileira), coordenada por César Benjamin e corredigida por um grupo de intelectuais e ativistas, recolheu, sistematizou e projetou o caminho aberto pelas novas lutas. O projeto da esquerda no governo, a partir de 2002, seria outro – muito mais moderado e disposto a elevar as condições de vida das maiorias evitando ao máximo conflitos com os poderosos. Ainda assim, ele alimentou, por uma década, o imaginário das mudanças – expresso no combate real à miséria, na criação de brechas para mobilidade social como as quotas raciais e a expansão do ensino superior e técnico, numa postura “altiva e ativa” do Brasil no mundo.
Porém, que visões de futuro o lulismo pode oferecer ao país, em 2014? A campanha de Dilma fala em “choque de dois projetos”, mas tudo o que consegue enunciar, quanto tenta concretizar esta ideia, são ecos da última década. Não aponta passo adiante a realizar nem é capaz, portanto, de mobilizar energia política. Tornou-se prisioneira da suas contradições. O “coração valente” do país, que a candidata diz expressar, esboçou, nos últimos anos, novas lutas e desejos políticos. Os laços de Dilma com o velho sistema a impedem de agir neste sentido. Sobra o marketing. Os comícios deste ano não são sombra das imensas festas políticas populares que se disseminavam por todo o país e marcavam as campanha anteriores do PT. No entanto, uma das linhas do material de campanha da candidata estampa, em leiaute pós-moderno, peças com Dilma guerrilheira, com um índio munido de arco e flecha e até mesmo com um “Podemos Mais”…
Será possível começar a esboçar este programa, do qual a esquerda histórica está, ao menos no momento, afastada? Não é possível fazê-lo sem partir das mobilizações existentes. Dos movimentos dos últimos anos, emergiu um conjunto de propostas que despertam entusiasmo crescente de amplos setores sociais – mas são bloqueadas pelo sistema político. Enunciá-las articuladamente teria enorme importância simbólica, tanto para expor esta contradição quanto para reconstituir um horizonte de mudanças sociais profundas, capaz de mobilizar esperanças coletivas. Eis, apenas para provocar o debate, alguns pontos que esta construção programática coletiva poderia abordar:
> Pouco debatida até Junho de 2013, a Reforma Política está cada vez mais presente no imaginário dos movimentos sociais, coletivos e pessoas que enxergam o sequestro da democracia pelo grande poder econômico e buscam abrir caminho para formas diretas e autônomas de participação dos cidadãos. Dois desdobramentos mais compreensíveis são o veto ao financiamento dos partidos e candidatos por empresas e a facilitação de plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular – inclusive com uso da internet.
> A luta por por Serviços Públicos universais e de qualidade foi central nos protestos do ano passado e tende a retornar. Tem enorme importância pedagógica, porque remete a um projeto claramente pós-capitalista: usar parte da riqueza social para construir uma esfera dos Comuns – bens e serviços que, por indispensáveis à garantia de uma vida contemporânea digna, precisam ser oferecidos a todos, gratuitamente. Aqui, porém, há dois esforços de politização a fazer. Primeiro, dar caráter radical à proposta, afastando simplificações grosseiras presentes em Junho de 2013 (“Educação e Saúde padrão FIFA”…).
Sentidos centrais alternativos são igualdade e desmercantilização. Por exemplo, é preciso projetar que, num horizonte de dez anos, a rede pública de ensino básico e médio será tão boa e muito mais inovadora que as melhores escolas privadas – e será gratuita. Ou que, neste mesmo prazo, os planos médicos privados irão tornar-se obsoletos, porque o SUS terá condições para oferecer, a cada brasileiro, os melhores recursos de tratamento e prevenção que a ciência desenvolveu. Esta perspectiva é um contraponto compreensível tanto à ideia de “choque de gestão”, sustentada por Aécio, quanto aos programas compartimentados e assistêmicos de Dilma (o “Mais Especialidades”, por exemplo).
> A ideia de uma vasta rede de serviços públicos inovadores e desmercantilizados só se torna concreta se associada a uma profunda Reforma Tributária. Os gastos do Estado brasileiro com Saúde e Educação cresceram substancialmente nos últimos doze anos (o que permitiu, por exemplo, um importante crescimento da rede de universidades públicas e escolas técnicas), mas são insuficientes para assegurar redução ampla das desigualdades. Para isso, será necessário estabelecer mecanismos de justiça fiscal conhecidos (mas sempre evitados pelas elites brasileiras) – como a tributação das grandes fortunas, o imposto sobre transações financeiras, as alíquotas elevadas de imposto de renda sobre pessoas físicas e jurídicas que recebem salários ou auferem lucros muito acima da média. Uma falsa ideia alimentada incessantemente pela mídia – a de que o Brasil é um dos países com carga tributária mais alta do mundo – tem de ser substituída por uma verdade. Somos o país dos impostos injustos. Precisamos enfrentar este problema eliminando os privilégios fiscais de quem pode contribuir para a manutenção dos serviços públicos mas não o faz.
> Multiplicaram-se nos últimos anos as mobilizações que defendem uma nova relação entre ser humano e natureza. Já não é apenas uma agenda “verde” cosmética. Compreende-se a finitude do planeta, que a lógica alienada do capitalismo procura (mas já não consegue) negar. Defende-se um estilo de vida mais frugal, oposto à dinâmica do consumismo. Questiona-se um dos pilares do “desenvolvimentismo”: a ideia de que ampliar a produção de riquezas é um valor positivo em si mesmo.
Esta nova consciência desencadeou ações de grande repercussão – por exemplo, contra a Usina de Belo Monte ou em defesa do Código Florestal, aviltado pelo Legislativo. Ironizada por alguns, como se fosse romântica, ela pode, ao contrário, abrir caminho para um feixe de alternativas ligadas ao pós-industrialismo e ao pós-capitalismo. Significa, por exemplo, retomar a demarcação das terras indígenas, hoje praticamente paralisada, e afastando o risco de transferir o poder demarcatório ao Congresso Nacional, onde as bancadas ruralistas congelariam o processo.
Implica construir um novo modelo agrícola, que retome a Reforma Agrária nos novos moldes propostos pelo MST, restrinja o poder do grande agronegócio e apoie decisivamente a pequena propriedade, o respeito às culturas alimentares, o orgânico, o livre de agrotóxicos.
Requer rever a matriz energética – abandonando as usinas termelétricas, que queimam petróleo ou carvão e substituindo-as por centrais eólicas ou solares; repensar a construção de hidrelétricas, vetando, entre outros danos, a inundação de terras e desrespeito aos direitos indígenas; assegurar o acesso de todos à eletricidade, mas penalizar o consumo predatório – tanto industrial quanto residencial; utilizar o Pré-Sal como ponte para uma economia pós-carbono, financiando, com recursos do petróleo, tanto a pesquisa tecnológica em energias alternativas quando os custos adicionais que sua geração ainda implicará por algum tempo.
Esta agenda ambiental pós-capitalista tem uma dimensão urbana poucas vezes explorada. Ela pode se expressar, por exemplo, em propostas de enorme humanização das cidades, a geração de postos de trabalho e a limitação do poder devastador do capital. É o caso da despoluição dos rios que cruzam as metrópoles – uma tarefa já realizada com sucesso em muitas partes do mundo, porém sempre adiada no Brasil. Ou da universalização da coleta de esgotos (disponível, até 2012, para apenas 46% dos brasileiros) e seu tratamento (do total volume coletado, apenas 38% era tratado, no mesmo ano).
Um segundo aspecto relacionado ao mesmo tema é a redução, reciclagem e descarte do lixo. Embora tenha havido avanços, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esta muito pouco fez até o momento, em relação às embalagens. As metrópoles brasileiras continuam extremamente atrasadas na implantação de sistemas de coleta seletiva (estendida, em São Paulo, a apenas 10% dos domicílios). Além de corrigir rapidamente este problema (para o qual as soluções tecnológicas e logísticas estão disponíveis há muito tempo), é preciso reduzir a geração maciça, crescente e desnecessária de materiais como garrafas pet e a obsolescência programada de uma imensa variedade de bens que entulham as cidades.
> O Direito à Cidade é, aliás, um tema emergente, em torno do qual despontou, nos últimos anos, uma constelação de lutas densa, rica e plural. Começa pelo reivindicação à moradia. Cada vez mais intensa, ela vai muito além da oferta de casas e do (importante) subsídio às famílias mais pobres oferecidos pelo Minha Casa, Minha Vida. Pleiteia o direito de morar em bairros centrais, ou dotados de infraestrutura digna – além da construção por meio dos próprios movimentos, e não de grandes empreiteiras.
Mas o MTST – o mais potente e criativo destes movimentos – é incisivo ao frisar que a luta por moradia é apenas um dos aspectos de um projeto muito mais profundo. Implica resgatar as periferias, livrando-as da condição de senzalas contemporâneas, a que o capital quer relegá-las. Significa uma revolução urbana: inverter completamente as prioridades políticas e orçamentárias das metrópoles; mobilizar recursos para assegurar, a dezenas de milhões de brasileiros, as conquistas básicas de urbanização já existentes nas “áreas nobres”: saneamento, água limpa, internet rápida, ruas calçadas e arborizadas, segurança pública, equipamentos de Educação, Saúde, Cultura.
Exige, ainda, mudar por completo o padrão atual de mobilidade urbana. O modelo baseado no automóvel esclerosou as metrópoles – mas é muito mais cruel para os moradores dos subúrbios, obrigados a perder três ou mais horas diárias para se deslocar entre casa e local de trabalho. Assegurar o Direito à Cidade requer deslocar parte da riqueza coletiva para sistemas modernos de transporte coletivo. São decisões que não amadurecem imediatamente – mas são plenamente possíveis. Em Xangai, o metrô, iniciado há apenas vinte anos, já oferece 500 quilômetros de rede (sete vezes mais que o de São Paulo, que tem o dobro da idade) e 289 estações. No Brasil, seria preciso estabelecer metas realistas, porém capazes de mobilizar. Propor, por exemplo, que o transporte público será aprimorado consistentemente até que, num prazo de duas décadas, ninguém precise perder mais de uma hora para se deslocar da periferia mais distante de uma grande cidade até o centro.
A luta pela mobilidade urbana não se restringe aos subúrbios. É em torno dela que grupos de jovens articulam, há anos, em todo o país, o importante movimento pelo Passe Livre nos transportes públicos – estopim dos protestos de junho de 2013. Defesa e desmercantilização dos serviços públicos parecem ser ideias capazes de se difundir e oferecer contraponto à ideia elitista de “desmonte do Estado”. O Direito à Cidade, aliás, contagia vastos setores das classes médias. Significa, para estes, livrar as metrópoles da especulação imobiliária e da ditadura do automóvel. Enfrentar o aumento extorsivo dos preços do aluguel, impedir que novos empreendimentos comerciais invadam os espaços públicos que restam (vide a Ocupação Estelita, no Recife, e a luta pelo Parque Augusta, em São Paulo), restringir a circulação de carros privados, ampliar a rede de ciclovias, bloquear o aburguesamento (“gentrificação”) de zonas populares. Construir Cidades sem Cercas, Metrópoles para Todos.
Os pontos acima não visam compor uma programa. São apontamentos rápidos sobre temas que mobilizaram importantes setores da sociedade, nos últimos anos – e que podem gerar propostas políticas transformadoras. Desmentem a ideia, muitas vezes difundida entre a própria esquerda, de que as lutas sociais estão em refluxo, de que “Junho acabou”. Seria muito fácil ampliar o elenco mencionando movimentos ligados à Comunicação, à Cultura, à livre circulação do Conhecimento ou à vasta pauta que procura combater, no terreno dos Costumes, as visões conservadoras ou fundamentalistas.
À primeira vista, é espantoso que pontos como estes não tenham composto uma atualização do programa do lulismo. Se foi assim, é porque chegou-se a um beco político. Hoje, os vínculos da esquerda histórica com setores do poder econômico e político impedem-na de abraçar bandeiras como estas. Como defender um novo modelo agrícola e ser maciçamente financiado pela Friboi? De que modo repensar as grandes obras rodoviárias ou energéticas, mantendo relações íntimas com as empreiteiras de obras públicas. Como lutar pela legalização das drogas, sem enfrentar as bancadas evangélicas no Congresso? Para construir, debater e mobilizar múltiplos públicos, em favor de um programa de reformas efetivas, talvez seja necessário uma organização tão autônoma e inovadora como um Podemos ou um Syriza. Mas… que fazer em 26 de outubro?
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


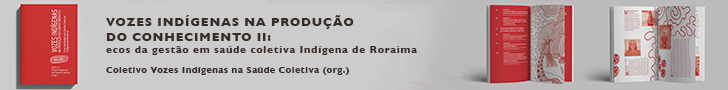
Olá, Antonio.
Onde está o último texto: “Contra o retrocesso, o “voto-Duvivier”?
um abraço,
Flora