Coronavírus: quatro crônicas do fim do mundo
Os Estados gastam: desaba um pilar do neoliberalismo. No Brasil, a notícia tarda a chegar, o que custará muitas vidas. Para salvar os bancos, os EUA fabricam US$ 1,5 trilhão. E se este dinheiro alimentasse o Comum? Reflexões à entrada da pandemia
Publicado 13/03/2020 às 20:26 - Atualizado 21/04/2020 às 17:44
Nota
Este texto foi revisado pelo autor em 14/3. A parte IV foi reformulada.
I. A “austeridade” acabou
“There is no alternative”: não há alternativas (ao neoliberalismo), cansou-se de dizer, durante seu longo mandato (1979-90), a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. No entanto, foi nesse mesmo país que o mesmíssimo Partido Conservador da “Dama de Ferro” apresentou, na última terça-feira (11/3) uma proposta de Orçamento que rompe um dos pilares do pensamento de Thatcher. Para enfrentar o coronavírus, tentar reanimar uma economia ameaçada pela recessão e reagir de algum modo à mudança de ânimo da sociedade, o Estado britânico gastará algo como US$ 220 bilhões a mais, nos próximos cinco anos. Entre outras iniciativas, o primeiro-ministro Boris Johnson quer uma nova linha ferroviária, de alta velocidade, ligando Londres ao Norte. A crença em que os mercados devem animar e regular a si próprios será deixada de lado, ao menos por enquanto.
As políticas de “austeridade” não estão sucumbindo apenas na Inglaterra. Na Espanha, dirigida por uma coalizão e centro-esquerda e esquerda, o governo anunciou em 12/3 um pacote de emergência, que incluirá apoio financeiro às pequenas empresas e aos trabalhadores autônomos. Planos semelhantes, lançados (com distintas profundidades) na China, Alemanha, Japão e Itália, foram relatados por Outras Palavras. Nesse exato instante, o Congresso dos EUA e a Casa Branca negociam, em regime de urgência, medidas que ampliam direitos sociais e tentam estimular a Economia. E até o FMI, conhecido pelo rigor com que trata os países (e pelas pressões que exerce agora contra a Argentina e o Líbano) acaba de admitir, ainda que discretamente: é preciso fazer manobras fiscais diante da crise sanitária.
Ao comentar o novo orçamento do Reino Unido, um alto assessor financeiro do governo disse ao Le Monde: haverá “a fuckload of money”, “um pacote fodido de dinheiro”. Talvez a baronesa Thatcher se sentisse ofendida.
II. Como no tempo das caravelas
Em 1820, quando a chamada “Revolução Liberal”, iniciada no Porto, espalhou-se pelo território português, sacudiu a monarquia absoluta e exigiu a volta do rei D. João VI, passaram-se dois meses até que as notícias chegassem ao Brasil. Vinham em mensagens transportadas pelas caravelas. As tecnologias mudaram, mas a submissão e o pensamento colonial resistem. Quase dois meses transcorreram desde 23 de janeiro, quando o governo chinês isolou a cidade de Wuhan e expôs ao mundo a gravidade de uma doença com taxa de morbidade moderada, mas extraordinária capacidade de contágio e elevado índice de hospitalização e uso de UTIs. Nenhuma providência relevante foi tomada pelo governo brasileiro para fazer frente a ameaça.
Na última segunda-feira (9/3), um artigo do biólogo molecular Fernando Reinach no Estado de S.Paulo, expôs o quadro. Àquela altura, as autoridades eram incapazes sequer de projetar um cenário de propagação da doença (o que, essência, persiste até hoje). Sem fazê-lo, não tinham as menores condições de traçar uma estratégia de contenção do vírus. E omitiam-se até mesmo das providências básicas, que precisam ser adotadas seja qual for a ameaça sanitária que acossa o país. O texto apontava-as.
A primeira é criar condições para o distanciamento social dos infectados. Isso é especialmente necessário pelas características do coronavírus. Cerca de 80% dos que contraem o patógeno desenvolvem apenas sintomas brandos, semelhantes aos de uma gripe comum. Porém, enquanto forem portadores, não podem continuar circulando, porque são agentes de contaminação muito potentes. Para saberem que devem permanecer em suas casas, é indispensável que sejam submetidos a testes. Na China e na Coreia do Sul, alguns dos países que estão superando mais rapidamente a pandemia, a população teve acesso fácil e vastíssimo a eles. Os graus de distanciamento social variaram: na China, foi compulsório, com quarentena coletiva de dezenas de milhões; na Coreia, muito efeitvo. Mas os países que tardaram a adotar qualquer isolamento, como a Itália, são agora os que mais sofrem.
O Brasil não criou, dois meses depois de lançado o alarme global, estrutura para testes. A Fundação Oswaldo Cruz, um órgão de excelência perseguido pelo governo federal desde o golpe de 2016, desenvolveu muito rapidamente um kit eficaz para tanto. Mas não houve destinação de recursos para produzi-lo em massa. Trinta mil kits estão prontos; fala-se em fazer apenas mais 20 mil. O ministério da Saúde anunciou que não pretende oferecer o recurso à grande maioria da população – o que é um grave erro, segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo. Parece ainda mais bizarro porque, há apenas dois dias, a Agência Nacional de Saúde decidiu que os clientes dos planos de saúde têm direito de exigir este mesmo teste. Em meio a uma pandemia, o Brasil estará reduzindo a maioria da população, usuária do SUS, à condição de paciente de segunda categoria?
* * *
O distanciamento social é a primeira linha de defesa, por evitar que um percentual muito alto das populações seja infectado (fala-se em até 70%, quando não há medidas protetivas). A segunda providência indispensável é assegurar leitos aos que deles necessitarão. Os exemplos internacionais disponíveis sugerem que, dos, infectados, 15% requerem hospitalização; e 5%, UTI. Como a doença ataca os pulmões, são necessários, nos quadros agudos, medidas de assistência respiratória que incluem o balão de oxigênio, o entubamento e, em alguns casos, a oxigenação extra-corpórea. Por isso, os chineses construíram, em duas semanas, dois hospitais para 1000 pacientes.
No momento em que esta nota é redigida, as providências adotadas pelas autoridades brasilerais para que os hospitais brasileiros acolham os acometidos graves do coronavírus são, no máximo, cosméticas. No final de janeiro, o ministério da Saúde anunciou, com alarde, uma medida muito tímida: a contratação, na rede hospitalar privada, de mil leitos, em todo o país. Um mês passou-se e, revelou o Estado de S.Paulo, apenas 10% foram reservados. Dos 16 mil leitos de UTI existentes no SUS, 15,2 mil (95%) estavam ocupados em 11/3, calculou O Globo.O país corria o risco de se converter numa Itália piorada. Lá, devido ao descaso inicial, até os centro cirúrgicos precisam agora ser temporariamente desativados, para que sirvam como UTIs com respiração assistida. Médicos e enfermeiros têm sido frequentemente submetidos à situção conhecida como “escolha de Sofia”: diante de dois ou mais pacientes necessitando de cuidados intensivos, precisam decidir qual terá chances de sobreviver.
A terceira medida indispensável é o atendimento domiciliar aos doentes. Para que a população não superlote os hospitais, expondo-se a riscos ainda maiores de contaminação, a rede de Saúde pública precisa estar presente na capilaridade – atendendo e orientando a população que não necessita de cuidados hospitalares. Mas a eclosão do coronavírus ocorre precisamente sob o impacto do fim do Mais Médicos, que atuava nas comunidades mais desassistidas, e do desmonte progressivo do Programa de Saúde da Família, cujo papel agora é imprescindível.
* * *
Duas razões explicam a paralisia do governo diante de um quadro tão grave. Primeiro, a atitude ideológica de negação, adotada por Bolsonaro. Exatamente como Donald Trump, ele passou semanas recusando-se a admitir a gravidade da ameaça, atribuindo-a a uma conspiração da mídia. Omitiu-se, quando o papel do presidente era liderar. Desmobilizou o Estado, no momento em que este era crucial,
O segundo fator relaciona-se a interesses muito mais concretos. Enfrentar a pandemia exige romper dogmas. Mas tanto o governo quanto o poder econômico e a mídia continuam aferrrados à agenda de ataque aos serviços públicos e direitos sociais. Para equipar os hospitais, recuperar a rede capilar do SUS, restabelecer o Mais Médicos, reforçar o Saúde da Família, são necessários recursos. O governo evita adotar a providência elementar para tanto – revogar a Emenda Constitucional 95, descongelar o gasto social. Os jornais e TVs silenciam. Temem que a revogação abra o debate sobre o desmonte do embrião de Estado Social que o Brasil constituiu após a Constituição de 1988. Seu projeto é desfazê-lo. As vítimas do coronavírus serão tratadas, nesta lógica, como “danos colaterais”.
III. Onde se joga o grande jogo
Comparar as atitudes adotadas do governo brasileiro, diante da crise, com as do Reino Unido, Espanha ou Coreia do Sul pode levar a uma falsa impressão. Lá, ao contrário daqui, o capitalismo teria aceito entregar os anéis, para preservar os dedos.
Para compreender como esta ideia é ilusória, basta analisar um fato. Na quinta-feira (12/3), as principais bolsas de valores do mundo sofreram o pior revés, em muitos anos. As perdas acumuladas, após três semanas de coronavírus, superaram as da crise de 2008. Imediatamente, Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), anunciou um mega-pacote de resgate, de 1,5 trilhão de dólares. Vale comparar: em segundos, liberou-se um volume de recursos 6,8 vezes maior que “fuckload of money” destinado aos gastos adicionais do Estado britânico, nos próximos cinco anos. Na sexta-feira pela manhã, outros bancos centrais anunciaram movimentos semelhantes. A baronesa Thatcher ficaria orgulhosa.
A operação de salvamento demonstra como são grandes os riscos de uma crise financeira e econômica global. O mecanismo deflagrador foi descrito em detalhes por Outras Palavras há uma semana. Os bancos, inundados de dinheiro pelos Estados desde 2008 e em busca de lucros cada vez maiores, emprestaram montanhas de dinheiro a grandes corporações. Grande parte dos créditos foi oferecida de modo irresponsável, a empresas que não poderão saldar as dívidas, se a engrenagem do endividamento permanente parar de circular. O coronavírus exerceu o papel do grão de areia. A paralisação de diversos setores – aviação, hotelaria, automobilístico, eletrônico, entre outros – reduziu a receita de muitas destas empresas e expôs sua possível insolvência. Se ela se concretizar, os próprios bancos serão o elo a seguir, na linha de contágio. Cada sinal de debilidade das economias provocará um novo abalo nos mercados financeiros. O desta semana foi a interrupção dos voos entre Europa e Estados Unidos, decretada por Trump para mostrar “comportamento macho” diante da crise, depois de semanas de negacionismo.
A operação de resgate dos bancos centrais provavelmente não apagará o incêndio. Mas vale a pena debater, em particular, dois de seus aspectos. Foi, em primeiro lugar, um ato em favor da economia-cassino. É como se o Fed e seus correlatos avisassem, aos mega-especuladors globais, que podem continuar apostando, indefinidamente e sem medo, porque seus eventuais prejuízos serão bancados… pelos Estados.
Segundo, e ainda mais espantoso: US$ 1,5 trilhão foi criado do nada, por ato exclusivo de tecnocratas cujas decisões jamais são submetidos às sociedades. Não houve um minuto de debate, no Congresso ou na imprensa. Nenhum centavo do orçamento norte-americano precisou ser deslocado. Não faltará um saco de cimento ao muro que Donald Trump quer construir contra o México, ou um naco de nugget às refeições que 165 mil soldados norte-americanos, espalhados por 150 países, recebem por dia.
É como se houvesse, no capitalismo financeirizado, dois estoques paralelos de dinheiro. Um circula entre milhões de pessoas que trabalham, consomem, trocam, pagam impostos, usufruem dos serviços públicos. Outro volume de dinheiro é criado do nada pelos bancos centrais e comerciais. Os dois estoques, porém, circulam igualmente – vão às compras juntos. As cédulas têm as mesmas efígies; os sinais magnéticos que movimentam as contas bancárias são idênticos. As montanhas de dinheiro transferidas aos bancos desde 2008 – cerca de US$ 40 trilhões – são as que inflacionam os mercados imobiliários das metrópoles em todo o mundo e aceleram a desnacionalização das empresas na periferia do sistema.
Faça, agora, um cálculo simples. Imagine que, ao invés de socorrer os bancos, o Fed distribuísse US$ 1,5 trilhão entre os 300 milhões de habitantes dos EUA. Seriam US$ 5 mil para cada um. Pergunte a si mesmo: se criar dinheiro do nada para um punhado de bancos, corporações e bilionários é possível – por que seria inviável usar a moeda como ferramenta para a igualdade e a garantia de vida digna para todos?
IV. Nada será como antes
Em relação ao Comum, a moeda tem duplo caráter. Como equivalente geral de todos os bens e serviços, é um facilitador das relações humanas. Por meio dela, produtores e consumidores de uma infinidade de itens podem fazê-los circular com facilidade. Sem dinheiro, cada troca exigiria um duplo interesse. Eu posso desejar o arroz que você produz. Mas para tê-lo, é preciso que você queira, simultaneamente, meus serviços de produtor de seminários sobre Educação a Distância. Basta que um dos interesses não se concretize para frustrar a operação.
Mas a moeda é também, ao contrário, reserva de valor, instrumento de acumulação infinita de riquezas e, nesta condição, de desigualdade e competição predatória – portanto, um contra-Comum. Se ambos plantamos laranjas, ou produzimos vídeos, e eu pude enriquecer muito mais que você, posso fazer contatos com um número muito maior de clientes ou fornecedores; enfrentar situações de incerteza sem perecer; oferecer condições de pagamento mais favoráveis; promover o que produzo por meio de publicidade intensa; contratar advogados e “influenciar” políticos a meu favor. Ao final, acabarei arruinando você e, quem sabe, obrigando-o a trabalhar para mim. Quanto maior a concentração econômica, mais o dinheiro serve para bloquear o Comum. Experimente produzir uma cerveja nos quintais da Ambev, ou montar uma equipe de engenheiros para criar um motor de buscas na internet alternativo ao Google.
Sob o capitalismo financeirizado, a situação chega ao extremo: o dinheiro é quase exclusivamente contra-Comum. Converte-se no combustível de um imenso cassino financeiro global que não pára nunca, e onde o volume de operações especulativas é ao menos vinte vezes superior ao de todo o comércio global. Por meio dos juros da dívida pública, este cassino extrai dinheiro das sociedades e Estados, e sucateia os serviços públicos. Por meio dos mercados de ações, impõe às empresas a lógica do lucro máximo, obtido graças à competição forçada entre os trabalhadores, redução de direitos, devastação da natureza. O movimento incessante do cassino produz uma sociedade em que os seis maiores bilionários possuem tanta riqueza quando a metade mais empobrecida dos habitantes do planeta. E quando um grão de areia, como o coronavírus, bloqueia a engrenagem, os Estados criam do nada, num piscar de olhos, trilhões de dólares para tentar reengraxá-la.
Mas se o dinheiro transformou-se tão completamente numa relação política, então é possível dar-lhe outro sentido. É possível propor a Moeda Social.
A crise econômica em que o mundo está ingressando transformará as relações econômicas – para pior ou melhor. Nas condições atuais, setores-chave serão atingidos: da aviação, turismo e indústria automobilística ao comércio e serviços locais, nas cidades cada vez mais numerosas que adotarem restrições à circulação. Milhares de empresas serão incapazes de suportar a redução drástica de atividades e quebrarão. Haverá milhões de novos desocupados. Para escapar, muitos – pessoas e empresas – recorrerão ao crédito comercial e se submeterão aos juros e regras dos bancos.
Mas e se as condições mudarem, por meio da ação política das maiorias? Imagine uma situação hipotética. Num outro Brasil, cria-se a Renda Cidadã de Emergência. Decide-se que cada pessoa receberá, para fazer frente às agruras da crise sanitária e econômica, cem Reais Sociais (S$ 100) diários, enquanto durar a pandemia. Esta moeda terá curso forçado – ou seja, será aceita nas mesmas condições que os reais comuns. Os Reais Sociais serão criados do nada e depositados em contas individuais, abertas diretamente pelo Banco Central e movimentadas por meio de aplicativos. Esta ação hipotética transformaria a vida econômica e social de 200 milhões de pessoas. As famílias não se angustiariam por permanecer com os filhos em casa, no fechamento das escolas. Nenhum uberizado precisaria continuar trabalhando, apesar de sentir os sintomas do doença. O dono de um pequeno restaurante não iria à falência, por passar três meses com clientela em queda abrupta. Mas este tipo de transformação, que parece surreal, é exatamente o mesmo que já ocorre – obviamente, em sentido oposto – quando o Banco Central transfere para o 0,1% mais rico, sob a forma de juros da dívida, os recursos que nega ao SUS.
A hipótese acima é rudimentar. A criação de moeda política em favor das maiorias pode ter muitos outros fins, além da Renda Cidadã. Transformar as escolas públicas nas Escolas de Excelência. Estender as redes de saneamento a todos os brasileiros. Despoluir os rios. Engendrar uma Economia de Conhecimento da Natureza na Amazônia. Estabelecer uma rede de ferrovias, num país continental. Financiar uma revolução urbanística das periferias. Estimular as indústrias que produzirão os bens necessários para concretizar todos estes objetivos.
* * *
O que hoje parece impossível não o será, após a pandemia. Enquanto a crise se desenvolver, e quando a onda finalmente tiver passado, a humanidade estará, como ao término das guerras, diante de duas questões. Como foi possível? Como evitar que se repita?
Não faltarão teorias conspiratórias, explicações sobrenaturais, respostas xenofóbicas. Mas vai se abrir espaço, também, a um feixe argumentos de sentido pós-capitalista. Bens como Saúde, Educação, Habitação e Transportes – que garantem o acesso às comodidades essenciais da vida contemporânea – precisam ser oferecidos a todos, sem contrapartida financeira ou a preços muito módicos. Para fazê-lo, é preciso garantir Serviços Públicas geridos segundo a lógica da excelência e do acesso universal – não do lucro.
O choque do coronavírus pode jogar foco, entre outras, em políticas como a Renda Básica da Cidadania, o Emprego Digno Garantido, o Green New Deal – e em concepções como a Teoria Monetária Moderana. O mundo que emergirá ao fim da pandemia continuará conflituoso e incerto – mas as disputas estarão colocadas em outros termos. Nada será como antes. É preciso nos preparar.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras
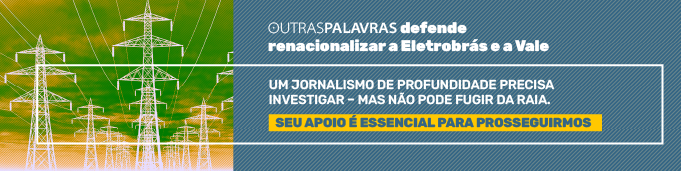

Complemento ao nosso comentário: O trecho que começa com reticência e termina em aos bancos deve estar entre aspas. Foi copiado do livro. O resto é por nossa conta e risco. Mas, risco mesmo de verdade corre a sociedade engendrada pelos Midas do mundo que transforam a natureza em ouro. Para que possam viver, os jovens atuais precisam aprender a se alimentar com dinheiro em espécie. Melancólica juventude esta que prefere as igrejas, o axé, os “famosos”, as “celebridades e o futebola à sobrevivência de seus descendentes.
Falta alternativa é para a derrocada de uma cultura que tira dos pobres para dar aos ricos. Na página 37 do livro O QUE OA DONOS DO PODER NÃO QUEREM QUE VOCÊ SAIBA, de Eduardo Moreira, temos: …os cinco maiores bancos do país cobram mais de cem bilhões de reais anualmente em tarifas. Talvez o maior imposto que a população pobre paga aos bancos. Os midas do mundo, monstros de cuja boca escorre baba de dragão inviabiliza completamente o futuro da humanidade. Lembrem, biltres, da França de 1789 e da Rússia de 1917.