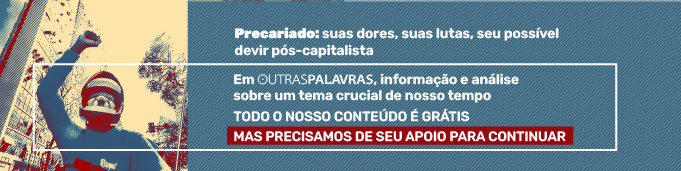Cinema: O nazismo pelas bordas
Uma jovem aspira ser atriz, numa alegria alienada do horror que bate à porta da França. Assim, A garota radiante encara o momento histórico com delicadeza, em prementes sinais do cotidiano e sem os diálogos expositivos de outras obras
Publicado 30/03/2023 às 17:03 - Atualizado 30/03/2023 às 17:27

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema do IMS
É possível ainda abordar o período da ocupação nazista na França sem cair no lugar-comum? A garota radiante mostra que sim. É o primeiro longa-metragem dirigido pela tarimbada atriz Sandrine Kiberlain e talvez por isso resvale aqui e ali numa certa frouxidão formal, mas a eventual falta de rigor é compensada pelo frescor da encenação e pela inspirada atuação da atriz principal.
A história, ambientada na Paris de 1942, é simples e ao mesmo tempo repleta de matizes. Irène (Rebecca Marder) é uma moça judia de 19 anos que aspira a ser atriz e ensaia para um concurso crucial para a carreira. Seu entusiasmo pelo palco, seus enleios amorosos e sua alegria juvenil a impedem de enxergar o avanço do horror à sua volta.
Sinais cotidianos
É pelo comportamento dos personagens à sua volta (em especial do pai, da avó e do irmão com quem Irène vive) e por pequenos sinais cotidianos que o espectador percebe o cerco se fechar em torno dessa personagem inconsciente e vulnerável.
O filme cresce justamente ao contrapor, às vezes na mesma imagem, esses dois mundos: o mundo interior de Irène, com seus sonhos, seus amores ingênuos, seu deslumbramento com o teatro, seus arroubos infantis, e o mundo histórico, em que os nazistas e seus colaboradores locais intensificavam dia a dia a perseguição aos judeus.
Uma cena exemplifica com clareza essa estratégia de encenação. Enquanto no primeiro plano Irène, toda faceira, se arruma para sair para o ensaio, seu pai, às suas costas, apanha a correspondência, onde há uma carta do conservatório onde ela quer ingressar. Ele abre a carta e seu rosto se ensombrece. Enfia desajeitadamente a carta no bolso e sai do apartamento, enquanto a filha segue alheia e despreocupada. Pouco depois saberemos que se tratava de um comunicado do conservatório dizendo que não aceitavam mais alunos judeus.
Outro exemplo desse contraste dramático entre as duas dimensões (a íntima e a histórica) se dá na magnífica cena final, que obviamente não convém antecipar aqui.
O filme ganha eficácia e contundência quando o “grande assunto” (o avanço da opressão nazista e do perigo mortal que isso acarreta para os judeus) é tratado com sutileza, nas bordas ou no fundo do quadro, e não nos diálogos expositivos. Por exemplo, ao se arrumar como todos os dias para ir ao trabalho de recepcionista no teatro, Irène veste por cima de tudo um paletó em que vemos fugazmente a estrela amarela que os judeus passaram a ser obrigados a usar.
Teatro e vida
O período da ocupação nazista na França já foi abordado inúmeras vezes em filmes de ficção (sem falar dos documentários). O que conta é o ângulo de abordagem. Louis Malle viu o assunto pelos olhos de um jovem colaboracionista (Lacombe Lucien) e de alunos de um colégio católico (Adeus, meninos). Truffaut abordou o tema a partir de uma trupe de teatro (O último metrô), e assim por diante.
Aqui, o ambiente é mais uma vez o teatro, entre um grupo de jovens que ensaia uma peça de Marivaux. E Truffaut é uma referência evidente, em cenas que buscam emular o frescor juvenil dos primeiros filmes da Nouvelle Vague. Até a música executada pela pequena orquestra de que o irmão de Irène participa como flautista, remete indiretamente ao cineasta: a canção “Que reste-t-il de nos amours?”, de Charles Trenet e Léo Chauliac, ganhou o mundo na trilha de Beijos roubados (1968), de Truffaut, que voltou a usá-la em Na idade da inocência (1976).
O auxílio luxuoso de Truffaut serve para acentuar a delicadeza contrastada pela brutalidade dos tempos. Contribui para a leveza enganadora o saboroso anacronismo da trilha sonora, com músicas de Tom Waits, Jacob Banks, René Aubry e Philip Glass. O resto fica por conta do carisma e do talento da jovem atriz Rebecca Marder e da característica essencial de sua personagem, que é a de estender o teatro ao ambiente circunstante, fazendo com que todos, em algum momento, entrem na brincadeira e contracenem com ela.
Nunca se sabe, por exemplo, se seus desmaios são reais ou fingidos. E vários personagens são usados por ela como substitutos de seu partner habitual nos ensaios (Bem Attal), desaparecido sem explicação. Até o último momento Irène não perceberá, ou tentará não perceber, que o mundo real não é um palco e que a vida não é uma peça de Marivaux, autor que aliás tem como tema central a mentira, o engano, a ilusão.
Verdades e mentiras
Por falar em mentira, está entrando em cartaz um documentário mais que oportuno nestes tempos confusos de “pós-verdade”: Memória sufocada, de Gabriel Di Giacomo. Construído exclusivamente com material colhido na internet (indicando muitas vezes o próprio caminho de busca), o filme traça uma conexão vivaz e arguta entre a ditadura militar e os atuais movimentos de ultradireita que tentam reescrever a história e louvar nostalgicamente aquele período de trevas.
No centro desse caleidoscópio está a figura sinistra do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do centro de tortura do DOI-Codi, em São Paulo. O próprio título do documentário responde ao do livro de memórias de Ustra, Verdade sufocada.
No filme, vemos o coronel sendo interrogado pela Comissão da Verdade e interpelado por pessoas que ele torturou pessoalmente na época da ditadura. Ele responde com veemência, acusando seus acusadores de terroristas e reafirmando que “a verdade” está em seu livro, tornado obra de cabeceira da extrema direita brasileira.
Não se espere um documentário “neutro”. Diante da barbárie rediviva, não se pode ficar em cima do muro.