Para compreender a proposta do Populismo de Esquerda
Em seu novo livro, Chantall Mouffe percorre os processos históricos centrais de nosso tempo: crise da democracia, explosão das desigualdades e descoesão social. Revolta resultante, argumenta, pode alimentar transformações radicais
Publicado 14/08/2020 às 18:18 - Atualizado 14/08/2020 às 18:22

Por Felipe Calabrez, no Le Monde Diplomatique Brasil
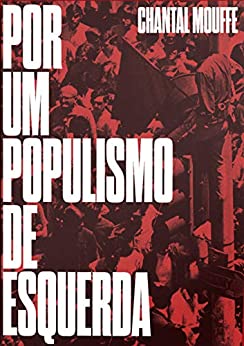
Acaba de chegar ao Brasil, publicado pela Autonomia Literária, o novo livro de Chantal Mouffe, Por um populismo de esquerda. O título, provocador, é um chamado à ação política e soa especialmente provocativo no atual contexto brasileiro.
Já no início a autora apresenta seu diagnóstico central, cujo foco é, vale salientar desde logo, a Europa: a crise da formação hegemônica neoliberal produziu o momento populista que marca a atual conjuntura. Ter-se-ia aberto, assim, nesse momento, a possibilidade de construção de uma ordem mais democrática.
Mouffe resgata o diálogo crítico que vem travando com os partidos social democratas e socialistas da Europa desde obras anteriores. Em Hegemonia e estratégia socialista, criticou o que chamou de “essencialismo de classe”, visão que deriva as identidades políticas da posição dos agentes sociais nas relações de produção, deduzindo daí seus interesses. Essa visão teria impedido esses partidos de entender as demandas difusas que surgiram na sociedade. Naquele momento (anos 1980), a solução proposta por Mouffe, ancorada teoricamente no pós-estruturalismo, defendia a adoção de uma visão antiessencialista de classe, com foco na articulação discursiva de uma contra-hegemonia socialista. O livro foi escrito no momento de crise da formação hegemônica da social-democracia e clamava pela formação de uma política de esquerda capaz de rever a inflexível centralidade que até então se dava à “classe trabalhadora”, de forma a incorporar as novas demandas e os novos movimentos sociais.
Já em Sobre o político, Mouffe criticou o chamado “consenso no centro”. Sua tese é a de que a dimensão do político é ontologicamente antagônica, isto é, ele é marcado por valores e interesses inconciliáveis, do que advém a necessidade de criação de canais que transformem o antagonismo, no qual a relação nós versus eles é uma relação amigo/inimigo, em agonismo: uma relação nós/eles na qual as partes conflitantes reconhecem a legitimidade de seus oponentes ao mesmo tempo em que reconhecem não haver uma solução racional para o conflito. Aqui o “eles” não é inimigo, mas adversário. O que teria ocorrido na Europa, então, é que os partidos da social-democracia abandonaram essa noção adversarial de democracia em favor de um modelo consensual. O abandono de um modelo adversarial – ou confrontacional – eliminou a fronteira que delimita interesses e projetos opostos e produziu um modelo tecnocrático de política, no qual haveria uma “política correta”, técnica e racional, e, portanto, inescapável. Sempre situando suas análises “na conjuntura”, a autora referia-se ali à chamada terceira via teorizada por Antony Guiddens e adotada politicamente por Tony Blair.
Não se entende Por um populismo de esquerda sem esse retorno: o abandono de canais agonísticos capazes de expressar os conflitos e as divergências de visões e interesses – traço inerente ao político – e a adoção de um consenso no centro geraram o que a autora chama de pós-política, condição marcada pela ausência de propostas claramente alternativas/oposicionistas, o que gera, por sua vez, desinteresse pelo processo democrático e apatia política.
Essa apatia, no entanto, teria sido sacudida pela crise de 2008, que trouxe à tona as contradições do modelo neoliberal e gerou questionamentos a essa hegemonia por diversos movimentos, à esquerda e à direita, mas que possuem um traço em comum: São antissistema. Eis o que a autora entende por momento populista,[1] argumento central em Por um populismo de esquerda, contribuição também situada “na conjuntura”.
O atual momento populista seria então marcado pela crise da formação hegemônica neoliberal, algo como o interregnum de Gramsci, crise cuja solução ainda não está à vista. Tal situação tem levado à perda dos pilares do ideal democrático: igualdade e soberania popular. O que está em questão é um regime político caracterizado pela articulação entre liberalismo político e democracia, duas tradições diferentes e, na visão de Mouffe, nem sempre conciliáveis. Assim, rejeitando a visão de Habermas sobre a co-originalidade de princípios, que o leva a sustentar a tese da indissociabilidade do termo Estado democrático de direito, Mouffe fala, com C.B. Macpherson, em “articulação histórica contingente”. A articulação entre a lógica democrática e a lógica liberal, portanto, embora gere uma tensão, se faz necessária, o que exige uma negociação constante entre forças políticas situadas em determinadas configurações hegemônicas.
Pensar a democracia liberal, prossegue a autora, exige ainda que a situemos em um sistema econômico. No nosso caso, trata-se do neoliberalismo, uma formação social que articula de forma específica a democracia liberal com o capitalismo financeiro de forma a esvaziar o elemento “democracia” – valores igualitários e soberania popular – mantendo apenas seu aspecto liberal, isto é, existência de eleições livres e defesa dos direitos humanos. Na verdade, o que o neoliberalismo alça a valor central é o liberalismo econômico. E esse esvaziamento do elemento democrático eliminou os espaços agonísticos que permitiriam com que diferentes projetos de sociedade pudessem se confrontar. Eis a situação denominada por Mouffe como pós-democracia.
Essa situação teria borrado as fronteiras entre direita e esquerda e feito sucumbir os partidos social democratas, que, em nome da globalização, aceitaram os ditames do capitalismo financeiro e os limites impostos à intervenção estatal e às políticas redistributivas. Na pós-política, a política tornou-se mera gestão da ordem, seara reservada aos especialistas.
Ao lado do fenômeno acima descrito é preciso também ter em conta o processo de oligarquização das sociedades europeias ocidentais causado pela hipertrofia do sistema financeiro, o que produziu a ampliação dos níveis de desigualdade. Esse processo, combinado com os efeitos da desindustrialização e agravado pelas políticas de austeridade impostas como resposta à crise de 2008, acelerou o movimento de pauperização e precarização da classe média e contribuiu para a erosão dos ideais democráticos da soberania popular e da igualdade. Sem ter em conta esse movimento não conseguimos compreender o atual momento populista.
Esse momento populista é então caracterizado – e aqui peço licença ao leitor para reproduzir suas palavras – “pela emergência de múltiplas resistências contra um sistema político e econômico que é cada vez mais percebido como sendo controlado por elites privilegiadas surdas às demandas de outros grupos da sociedade” (p.40). O momento populista, portanto, faz emergirem movimentos que se propõem a devolver ao “povo” a voz que lhe teria sido tirada pelas elites. É terreno fértil para os discursos anti-establishment. Os exemplos citados por Mouffe são alguns movimentos da direita nacionalista dos anos 1990 e a emergência de movimentos de esquerda que, na esteira dos movimentos anti-globalização, se fortaleceram após 2008, como Os Indignados do M15 na Espanha e o Ocuppy nos EUA. Os impactos de tais movimentos, no entanto, teriam sido limitados por conta de sua recusa em jogar o jogo da política institucional. A exceção seria o grego Syriza, que desafiou a hegemonia neoliberal pelos caminhos da política parlamentar. Nesse caso, seu insucesso em romper com as políticas de austeridade se deve mais às limitações impostas pela adesão à União Europeia – ao que eu acrescentaria, à zona do Euro, que é o que efetivamente retira a soberania monetária de seus membros. Entre as apostas de Chantal Mouffe estão a experiência do Podemos na Espanha e a voz insurgente de Jeremy Corbyn dentro do Partido Trabalhista inglês.
E aqui chegamos ao ponto central do diagnóstico político do livro: a incapacidade, por parte dos partidos social democratas, de compreender o momento populista e de “reconhecer que muitas das demandas articuladas pelos partidos populistas de direita são democráticas, e uma resposta progressiva deve ser dada a eles. Muitas dessas demandas vêm de grupos que são os principais prejudicados pela globalização neoliberal e que não podem ser satisfeitas dentro do projeto neoliberal” (p.44).
Diante disso, adverte Mouffe, desqualificar tais demandas como “neofacistas” ou fruto de paixões irracionais pode ser moralmente confortável, mas é politicamente frágil.
Assim, urge construir uma resposta política de esquerda que, recusando-se a responsabilizar os eleitores pela forma como as demandas são articuladas, reconheça o núcleo democrático na origem de muitas dessas demandas e ofereça uma linguagem diferente, capaz de dirigir tais insatisfações para outro adversário, um outro “eles”, ao mesmo tempo em que reconstrua discursivamente um “nós”, o povo, estabelecendo uma cadeia de equivalências entre tais demandas (demandas da classe trabalhadora, dos imigrantes, da classe média precarizada, comunidade LGBT etc.) de forma a criar uma nova hegemonia capaz de radicalizar a democracia.
Aprendendo com o thatcherismo
E como poderia se dar a criação de uma nova hegemonia?
Para responder a essa questão Mouffe resgata a eleição de Thatcher no Reino Unido a fim de extrair dali uma pista histórica, pois foi naquele momento que o consenso keynesiano foi frontalmente desafiado e abriu-se caminho para a hegemonia do modelo neoliberal. Na avaliação de Mouffe, o Partido Trabalhista inglês foi incapaz de articular as demandas que surgiam, prisioneiro que era, de sua visão economicista e essencialista de classe. Esse erro não foi cometido por Thatcher, que, plenamente ciente da natureza partidária da política e da necessidade da luta pela hegemonia, foi capaz de traçar uma fronteira política, isto é, um canal agonístico, diferenciando um “eles”, as “forças do sistema”, identificados na burocracia do Estado, nos sindicatos e naqueles que se beneficiavam de auxílios estatais, versus um “nós”, o “povo”, trabalhadores, vítimas do establishment, da burocracia e seus aliados. Eis uma estratégia populista.
Foi com essa estratégia que Thatcher foi capaz de desarticular os elementos chave da hegemonia social democrata, estabelecendo uma nova ordem hegemônica baseada no consentimento popular e pautada na ideia de liberdade individual contra os poderes opressivos do Estado. O que Thatcher fez foi intervir em diferentes frentes (econômica, política e ideológica), reconfigurando discursivamente o senso comum e consolidando um bloco histórico em torno de sua visão neoliberal, visão que se enraizou no senso comum a ponto de não ser desafiada nem com o retorno do Labour ao poder em 1997 com Tony Blair. O primeiro-ministro trabalhista teria então transmutado a social-democracia em social-liberalismo, consolidando a estratégia de consenso no centro, característica da pós-política, e mantido intacta a hegemonia neoliberal. É essa hegemonia, no entanto, que agora se encontra ameaçada.
Radicalizando a democracia
Mouffe crê no poder do imaginário democrático e afirma que o problema da modernidade é que seus princípios constitutivos de “liberdade e igualdade para todos” não foram de fato colocados em prática. Assim, não cabe à esquerda rejeitá-los, mas sim lutar por sua efetiva implementação, o que não querer dizer um rompimento radical do tipo revolucionário que refunde a comunidade política do zero, mas que seja capaz de utilizar o vocabulário democrático a fim de denunciar relações de subordinação, dominação e desigualdade como ilegítimas, e construir uma vontade coletiva (um “povo”) apta a construir uma nova formação hegemônica, colocando os valores democráticos em protagonismo ao mesmo tempo em que se preserva os princípios de legitimidade democrático-liberais. Tal estratégia, segundo Mouffe, poderia ser chamada de “reformismo radical”.
Essa perspectiva reformista radical concebe o Estado não como uma instituição neutra nem como instituição essencialmente opressora e que deve ser abolida. Diretamente inspirada em Gramsci, concebe-o como cristalização das relações de forças e como um terreno de luta. A partir da noção gramsciana de “Estado integral”, Mouffe busca enfatizar o caráter profundamente político da sociedade civil, terreno de luta pela hegemonia e que deve envolver-se com diversos aparatos do Estado a fim de transformá-los, preservando – Mouffe reafirma continuamente – as instituições da democracia liberal. E aqui a autora belga rebate as críticas que tem recebido da extrema esquerda, que a acusam de não ser radical o suficiente por sua proposta não vislumbrar saídas anticapitalistas. Para Mouffe, o equívoco dessa visão reside em tomar o modo de produção capitalista e a democracia liberal como duas faces da mesma moeda, como se esta última fosse uma espécie de superestrutura do capitalismo. As instituições políticas da democracia liberal e o modo de produção capitalista não possuem uma relação necessária, mas são, ao contrário, fruto de uma articulação histórica e contingente. Desse modo, a política do reformismo radical não defende a ordem capitalista como a única possível. Na verdade o processo de radicalização da democracia inclui necessariamente uma dimensão anti-capitalista. O que é preciso, no entanto, é construir uma luta política que tenha em mente que as pessoas são levadas a agir politicamente com base na maneira como percebem sua situação concreta e as várias formas de dominação a que estão sujeitas. É com base, portanto, em suas aspirações reais e subjetividades que elas podem ser mobilizadas, e não com base em categorias genéricas e abstratas, como “capitalismo”, argumenta Mouffe em crítica frontal às estratégias políticas do que chama de “extrema esquerda”. A não necessária relação entre capitalismo e liberalismo político permite-nos vislumbrar um modelo semelhante àquilo que Norberto Bobbio chamou de “socialismo liberal”.
A construção de um povo
De acordo com sua visão anti-essencialista, “povo” não é um referente empírico, mas uma construção política discursiva. Não é tomado, assim, a partir de categorias sociológicas.
Esse povo, portanto, depende de uma articulação performativa capaz de criar uma vontade coletiva a partir de uma cadeia de equivalência entre demandas heterogêneas. Essa criação, adverte Mouffe, não pretende anular as diferenças criando um grupo homogêneo que reduza as diferenças a uma unidade. Não se trata da categoria “massa”, tal como entendida por Gustav Le Bon (e que inspirou Schumpeter e sua concepção minimalista de democracia). Aqui as diferenças seguem ativas, mas são capazes de se contrapor conjuntamente a forças e discursos que neguem todas elas. Essa cadeia de equivalência, portanto, demanda a designação de um adversário, o “eles”, em oposição a “nós”, o “povo”, ao mesmo tempo em que garante o pluralismo.
Como exemplo para reforçar seu argumento sobre o antiessencialismo e sobre a importância do processo de articulação discursiva de demandas, Chantal Mouffe menciona o fato de que demandas por democracia tenham sido articuladas pelo populismo de direita num vocabulário nacionalista, e muitas vezes xenófobo, o que lhes roubou qualquer caráter potencialmente progressista. Tal observação vale não apenas para alguns casos europeus como também para a política de Donald Trump e seu America First.
O povo – e a fronteira política que define seu adversário – não está, portanto, dado de antemão e dotado de uma vontade pré-existente. Ele é discursivamente constituído, construído na luta política – depende, portanto, da prática social e não apenas do “discurso” – e está sempre suscetível a rearticulações.
Outro ponto – e que a essa altura já deve estar claro, dadas as opções teóricas de Mouffe – é que a concepção liberal de cidadania como status legal que concebe o indivíduo como portador de direitos é insuficiente para sua almejada radicalização da democracia. Cidadania aqui se inspira na tradição do republicanismo cívico, pressupondo envolvimento ativo na comunidade política e na esfera pública. Urge, na verdade, ressignificar a noção de “público”, deslocando a neoliberal concepção individualista de cidadão como consumidor e contribuinte, e substituindo-a por uma concepção mais ativa, a que Mouffe chama de “gramática de conduta”, que seria regida por “princípios ético-políticos da politéia democrático-liberal: Liberdade e igualdade para todos”, aplicados a uma vasta gama de relações sociais.
Trata-se então de construir uma cidadania democrática radical, pluralista, e que articule engajamentos tanto dentro das instituições representativas como em movimentos da sociedade civil e lutas sociais as mais diversas. Para isso, no entanto, é necessário a existência de condições para o confronto agonístico e para o rompimento do consenso pós-político neoliberal.
Lutas sociais, disputa parlamentar e eleitoral, demandas difusas que se unifiquem em torno do princípio democrático ao mesmo tempo em que respeitem o pluralismo e as subjetividades. Ora, como agregar tais demandas e unificar vontades, demandas e lutas difusas para constituir uma vontade coletiva e um arranjo provisório de “povo”? É necessário estabelecer um princípio articulatório, nos responde Mouffe, o que pode ser feito tanto por meio de uma demanda democrática específica que simbolize uma luta comum, como pela figura de um líder carismático. O papel da liderança carismática, embora tenha sido objeto de forte crítica por todos os lados, não deve ser visto como algo necessariamente negativo. Embora reconheça seus riscos, Mouffe argumenta não haver razão para igualar liderança forte com autoritarismo; tudo dependeria assim da maneira como se estabelece concretamente a relação entre o líder e o povo, relação que, no caso do populismo de direita, seria autoritária.
E aqui chegamos a um último e talvez mais importante aspecto da estratégia política defendida no livro: não é possível construir uma vontade coletiva sem levar em conta os afetos comuns, o que atribui ao líder carismático um papel importante. A promoção de uma vontade coletiva capaz de levar à radicalização da democracia requer a mobilização de energia afetiva, requer a inscrição desses afetos em práticas discursivas que gerem identificação com uma visão democrática igualitária. É preciso, portanto, abandonar a filosofia racionalista, a crença de que o argumento racional e frio será capaz de mobilizar tais energias e garantir fidelidade à democracia. Aqui a referência é a psicanálise de Freud, que abandona a categoria de sujeito como ente racional e a noção essencialista de identidade.
A construção de identidades políticas implica sempre uma dimensão afetiva. Influenciada também pela noção de “afecções” de Spinoza, que lhe permite examinar o processo de formação das identidades políticas como práticas em que o discursivo e o afetivo são articulados, e pela noção de “jogos de linguagem” de Wittgenstein. Mouffe fala em práticas discursivas-afetivas para designar os processos por meio dos quais os agentes sociais formam suas crenças particulares e seus desejos, formando suas subjetividades. Dito de modo simples, não é possível produzir adesão aos valores democráticos e igualitários unicamente por meio do argumento racional. A fidelidade à democracia depende da construção de identificação, de modo que a crença e a adesão a seus valores e instituições pouco depende de concedermos à democracia um fundamento intelectual. Sua visão é, portanto, pragmática à la Rorty, contra Habermas.[2] E é também, de ponta a ponta, Antônio Gramsci, chamado novamente, nas últimas páginas, para frisar a centralidade do domínio cultural para pensarmos práticas contra hegemônicas capazes de ressignificar o senso comum e subverter relações de poder e dominação.
Comentários
A proposta de Chantal Mouffe pode ser pensada sob vários aspectos. Um primeiro diria respeito a como entender a democracia, a natureza das instituições liberais – ou seriam liberal-burguesas? – e as emoções que suas formas de interação participativas e deliberativistas, entendidas de forma pragmáticas, provocam nos cidadãos, vitalizando os valores que a democracia sustenta. E assim como a sua importância para os processos de transformação social, visando a igualdade.
Sob esse aspecto sua proposta certamente desagradará os socialistas revolucionários por sua ênfase na importância da preservação da institucionalidade democrático-liberal e pela ausência de uma reflexão sobre o capitalismo. Desagradará também os liberais – aqueles que não se afugentarem já ao ver o título –, por sua aposta em uma soberania popular que claramente se sobrepõe ao figurino liberal no chamado arranjo histórico contingente. Ademais, sua proposta de “radicalização da democracia” parece, no fundo, partir de uma aposta: A de que é possível escavar, encontrar e trabalhar elementos que permitam construir performativa e discursivamente valores igualitários que, embora não essencializados, mas sim contingentes, estariam presentes em potência no “povo” a ser construído. Tal aposta implica em um risco.
Este último apontamento – sobre os riscos da “soberania popular” diante da institucionalidade liberal – certamente soaria liberal-conservador no campo da esquerda em tempos de normalidade. Talvez não o seja se seguirmos a proposta de Mouffe de refletir “na conjuntura” de um Brasil que flerta com o fascismo e põe a esquerda em um grau de defensiva que a leva posturas como, por exemplo, apostar no sistema de freios e contrapesos diante da escalada autoritária de um clã familiar alçado ao topo do Poder Executivo pela via eleitoral e que afirma cinicamente falar diretamente com o “povo” e a apenas a ele dever lealdade. Diante disso, como se tem notado, tem restado à esquerda apostar no “funcionamento das instituições”, aquelas mesmas que não se mostraram neutras diante do processo político atual.
Em texto recente, Vladimir Safatle afirmou a morte da esquerda. A radicalidade de sua afirmação – no mais, criticável – gerou críticas ferozes que fizeram sombra sobre pontos centrais de seu argumento: Safatle fala em duplos políticos como elemento do fascismo, que agora nos brinda com uma versão militarizada do que seria o seu oposto, Lula. A verdade, porém, anuncia Safatle, é a de que temos pouca polaridade política e muita duplicidade. Esse argumento compõe seu diagnóstico central, a saber, o de que a esquerda brasileira teria perdido totalmente sua capacidade de elaborar projetos alternativos e estaria presa à estratégia de um populismo débil que, a seu ver, implica necessariamente em contingentes alianças de classe com uma burguesia sem projeto. Sua crítica é a uma estratégia de alianças historicamente repetida pela esquerda e que permite a inclusão de setores descontentes da burguesia para formar um “povo” que é “uma mistura de JBS Friboi com MST”. Seria isso um populismo de caráter nacionalista que estaria esgotado, conclui Safatle.
Todo o incômodo, no entanto, não parece ser apenas com a suposta ausência de projeto, mas com o fato de que o candidato autoritário e intolerante passou a perna na esquerda e tomou para si a noção de “povo”. Ora, e não é essa a característica do momento populista de Mouffe, quando assume a possibilidade de uma figura carismática como nódulo central da articulação?
Se entendermos outubro de 2018 como “momento populista”, o que vemos é a emergência de uma figura grotesca que se apresentou como anti-sistema, como ruptura com “tudo isso que tá aí” e, com sua suposta simplicidade de hábitos, rudes e grosseiros, soube trabalhar um ambiente repleto de insatisfação com “os políticos” e com todo o sistema de poder, articulando demandas em torno de uma cadeia de equivalências que foi construída em torno da sutura de muitas demandas, sentimentos e valores oriundos dos diversos setores da sociedade, amplos o suficiente para lhe valer maioria eleitoral.[3]
Diante disso haveria de se perguntar: o que houve com a base eleitoral do lulismo? Teria ela se metamorfoseado no seu oposto em tão pouco tempo? Ou teria razão Safatle ao afirmar que temos pouca polaridade e muita duplicidade?
Vale lembrar que o fenômeno que André Singer chamou de lulismo é, antes de tudo, um produzido por um processo de realinhamento eleitoral, cujos fios ele busca desemaranhar até que eles o conduzam às classes sociais.[4] Os dados eleitorais de 2018 nos sugerem que, novamente, a conexão entre a categoria sociológica das classes sociais e seu posicionamento no espectro político não passam de arranjos também contingentes. Mais que isso; pesquisas eleitorais apontavam que boa parte do eleitorado que mantinha Lula como primeira opção migraria para Bolsonaro em um cenário sem Lula na disputa.
O fenômeno do lulismo e a experiência dos governos de esquerda na gestão do capitalismo brasileiro pode ter desafiado parte do receituário neoliberal de política econômica – e até isso é controverso – e certamente promoveu a “inclusão pelo consumo”, mas não construiu uma contra-hegemonia. E ela certamente não será reconstruída enquanto a esquerda se gabar de seus valores republicanos enquanto responsabiliza os eleitores que, como adverte Mouffe, não devem ser culpados pela forma como suas demandas e insatisfações são articuladas.
Enfim, a análise de Mouffe não dá conta – e nem pretende dar, como adverte a própria autora – das particularidades de determinados contextos e nem pretende oferecer um programa político como resposta. Para que nos seja útil, valeria, sem dúvida, avançar em uma análise sobre a atual configuração de nosso capitalismo periférico, marcado pela intensificação da exploração “moderna” de formas de trabalho como, por exemplo, o trabalho humano como tração que entrega mercadorias via aplicativos sem estabelecer vínculo empregatício com o capital que os explora, sobre como essa relação é percebida pelos que a ela estão sujeitos e sobre as subjetividades políticas daí advindas.
Como construir uma cadeia de equivalências capaz de unir os afetados pelas políticas de um neoliberalismo requentado às pressas dos anos 1990 e que se uniu com o autoritarismo intolerante para formar um governo marcado pelo obscurantismo? Como lidar com valores conservadores e religiosos cada vez mais ativos na disputa política? Por fim, mas não menos importante, como lidar com a disputa pelo “senso comum” em meio à desigual distribuição dos meios de produção do conhecimento e difusão das opiniões, agravada pela proliferação de deliberadas mentiras e desinformação propagadas pelas redes e que produzem nos indivíduos a sensação de protagonismo e atuação política (sem considerar as lógicas algorítimicas), dispensando a intermediação da imprensa tradicional, mas que, no caso atual, não trabalham valores igualitários mas, ao contrário, a intolerância?
A ascensão da direita populista na Europa e nos EUA, assim como no Brasil, parece ser antes que um fenômeno político, um fenômeno social. A insatisfação de parte da população com o “sistema” e com o condomínio de poder que cuidava da gestão do capitalismo ajuda a entender a emergência de figuras caricatas que se elegeram prometendo rupturas. De certa forma, a política foi redescoberta pela direita. E o momento populista de que fala Mouffe não se esgota no processo eleitoral, pois diz respeito à adesão contínua a discursos, visões de mundo, posicionamentos políticos e governos.
Como precisamente construir uma alternativa contra-hegemônica, para além do processo eleitoral, no nosso caso particular? Chantal Mouffe obviamente não oferece tal resposta, mas nos oferece pistas e serve de reflexão sobre fracassos acumulados e disputas a enfrentar.
Suas posições podem merecer críticas por todos os lados. Não merecem, no entanto, ser ignoradas.
Felipe Calabrez é professor de Relações Internacionais, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas.
[1] A definição aqui empregada é a mesma empregada por Ernesto Laclau em A razão populista, definido como uma estratégia discursiva de construção de uma fronteira política que divida a sociedade em dois campos e busque mobilizar os “excluídos” contra “aqueles que estão no poder”. Cf. LACLAU, E. A razão populista. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
[2] Para um debate entre R. Rorty e J. Habermas cf. SOUZA, J. C. Filosofia, racionalidade, democracia. Os debates Rorty & Habermas. São Paulo: Editora Unesp, 2005.
[3] Para uma excelente análise sobre o processo e a estratégia a que chamou de “populismo digital”, cf. CESARINO, L. Como vencer uma eleição sem sair de casa: a ascensão do populismo digital no Brasil. Internet & sociedade, n.1, v.1, fev de 2020 (2020). Disponível em
[4] SINGER, A. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

