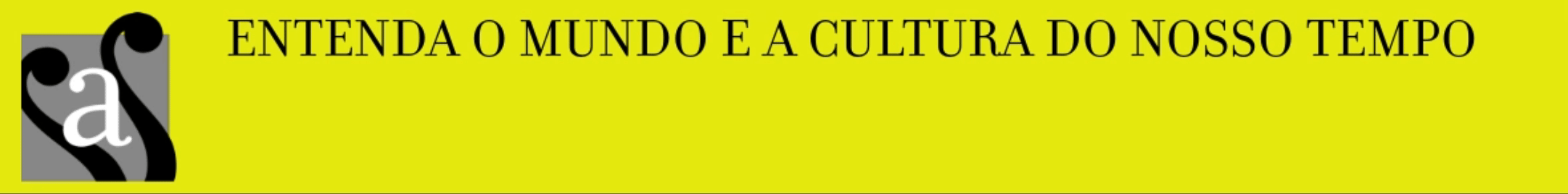O cinema revolucionário de Fernando Solanas (I)
Morto por covid há dez dias, cineasta filmou uma Argentina e uma América em luta contra a persistente colonização. E esta mesma busca refletiu-se em sua estética rebelde, intensamente criativa, desejosa de romper os padrões eurocentristas
Publicado 17/11/2020 às 10:26 - Atualizado 19/11/2020 às 17:06

Por Luciano Monteagudo, no Página12, traduzido em A Terra é Redonda
Leia a segunda parte do texto aqui
É impossível pensar no cinema argentino do último meio século sem a presença de Fernando “Pino” Solanas, que faleceu na madrugada de 7 de novembro em Paris após várias semanas de internação depois ter contraído o coronavírus. Sua figura foi determinante em todos os campos do cinema argentino: documentário e ficção, teoria e prática, direção e produção.
Premiado nos grandes festivais internacionais – Berlim, Cannes, Veneza –, Solanas nunca fez, contudo, um filme que não estivesse relacionado com o país ao qual também dedicou seus conhecimentos, energia e compromisso como militante e dirigente político. Se tivesse que definir numa só palavra o tema essencial de seu trabalho como cineasta, essa palavra seria “Argentina”. O país como um todo – com suas lutas e contradições, riquezas e misérias, trabalhadores e intelectuais – foi sua paixão e obsessão, do primeiro ao último filme, de La hora de los hornos (1968) até Tres en la deriva del caos (2020), ainda inédito devido à pandemia.
Neste enorme arco, que vai de um extremo ao outro de sua filmografia, em que prevaleceram o filme-ensaio e o documentário, houve também grandes marcos no campo da ficção, como Tangos – El exilio de Gardel (1985) e Sur (1988), dois filmes cruciais do primeiro período da recuperação democrática, que deram conta respectivamente das experiências de exílio estrangeiro e interno que viveu o povo argentino sob a ditadura civil-militar. Estes dois filmes fora do comum também abriram caminhos impensáveis para o cinema nacional, até então prisioneiro – com raras exceções – de um costumbrismo ao qual Solanas sempre deu as costas para arriscar novos experimentos estéticos, com os quais ele foi criando uma poética própria, única.
Nascido em Olivos, na Província de Buenos Aires, em 16 de fevereiro de 1936, numa família de classe média simpatizante da União Cívica Radical, Solanas fez algumas disciplinas nos cursos de Direito e Letras, mas seus primeiros estudos decisivos foram piano e composição musical, antes de se formar no Conservatório Nacional de Arte Dramática, em 1962. Essa experiência seria determinante em sua obra cinematográfica porque confirmou em Solanas a noção de encenação como a arte da convenção, uma abordagem metafórica da matéria representativa. Nesse tempo, Solanas frequentava o que ele considerava ser “na prática, minha pequena universidade”: os círculos intelectuais que se agitavam em torno dos escritores Gerardo Pissarello e Enrique Wernicke, locais de encontro que reuniam os jovens núcleos culturais da esquerda independente da época e onde eram discutidos os textos de Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini Ortiz e Arturo Jauretche.
Nessa época, Solanas animou-se a tentar a sorte com dois curtas-metragens, a ficção Seguir andando (1962), que participou do Festival de San Sebastián, e Reflexión ciudadana (1963), uma crônica irônica da posse presidencial de Arturo Illia, com textos de Wernicke. Mas também tinha que ganhar a vida e Pino fez um anúncio para um creme bronzeador que fez tanto sucesso que nos três anos seguintes fez por volta de 400 curtas publicitários. Esse exercício intenso permitiu-lhe uma formação em todas as áreas do cinema (fotografia, montagem, som, música) e que juntasse dinheiro para fazer o que se tornaria um dos filmes mais influentes na história do cinema latino-americano: La hora de los hornos.
Desde 1963, quando conheceu Octavio Getino (“Um daqueles encontros que deixam uma marca na vida de um homem e o estimulam a criar e experimentar”, Pino dixit), Solanas vinha recolhendo reportagens e documentários sobre a Argentina com a ideia embrionária de fazer um filme que abordasse o problema da identidade do país, de seu passado histórico e de seu futuro político. Em junho de 1966, quando Solanas e Getino começaram a fazer o filme que se tornaria La hora de los hornos, o golpe militar de Juan Carlos Onganía derruba o governo civil de Illia e antecipam-se, assim, as eleições de 1967, nas quais se presumia que o peronismo, há muito proscrito, sairia vencedor. O filme então é filmado em condições clandestinas, não apenas fora das estruturas convencionais de produção, mas também dos controles policiais da ditadura.
Na origem de La hora de los hornos, havia um orçamento inalienável, que respondia menos a motivações estéticas do que ideológicas, mas que inevitavelmente se manifestaria de modo decisivo na forma do filme. Se La hora de los hornos pretendia ser uma obra que apresentasse a tese da libertação como única alternativa frente à dependência (política, cultural, econômica), então o filme deveria renunciar aos modelos cinematográficos estabelecidos pelo sistema dominante. Sem ter desenvolvido ainda a teoria do “Terceiro Cinema”, que seria posterior à filmagem de La hora de los hornos, Solanas e Getino já tinham claro que aspiravam a fazer um cinema que tendesse à libertação total do espectador, entendida como seu primeiro e maior ato de cultura: a revolução, a tomada do poder.
E, para isso, o filme teria que romper com a dependência estrutural e linguística que o cinema latino-americano tinha em relação ao cinema estadunidense e europeu. O filme teria que surgir de uma necessidade própria, latino-americana. “Temos que descobrir, temos que inventar…” era um lema do ideólogo da libertação Frantz Fanon que La hora de los hornos sempre teve como emblema e que pôs em prática como nenhum outro filme latino-americano tinha feito até então, exceto os de Glauber Rocha no Brasil, em quem Solanas reconhecia um companheiro de viagem.
Com estreia no Festival de Pesaro, em junho de 1968, La hora de los hornos não apenas ganhou o prémio máximo, tornou-se também um acontecimento político e cultural. Não tinha passado sequer um mês das revoltas do “maio francês”, e a chama de Paris estava apenas começando a espalhar-se por toda a Europa. Neste contexto, o aparecimento de um filme latino-americano como La hora de los hornos, que era um chamado declarado à revolução e concluía sua primeira parte com um plano fixo e continuado do rosto imóvel de Che Guevara (cujo fuzilamento não fazia um ano), causou uma verdadeira comoção no campo do cinema, que nesse tempo questionava não só a sua linguagem, mas também a sua função política e social.
Enquanto o filme – concebido como um filme-ensaio em três partes que totalizavam 4 horas e 20 minutos – viajava pelo mundo, na Argentina do Onganiato, sua exibição só foi possível na clandestinidade, em sessões organizadas em sindicatos e organizações sociais, que eram concebidas como atos políticos de resistência. E as trocas dos rolos das cópias em 16mm eram aproveitadas para o debate, debaixo de faixas que traziam outro lema de Fanon: “Todo espectador é um covarde ou um traidor”.
A partir de La hora de los hornos, Solanas e Getino criaram o Grupo Cine Liberación, que incluía o diretor Gerardo Vallejo, o produtor Edgardo Pallero e o crítico Agustín Mahieu, dentre outros. Dali saíram vários manifestos teóricos sobre o “Terceiro Cinema”, que incluíam definições sobre o cinema militante, e que, em 1971, resultaram em dois famosos “instrumentos” intitulados Actualización política y doctrinaria para la toma del poder e La revolución justicialista, que consistiam em entrevistas pessoais aprofundadas com Juan Domingo Perón na sua residência no exílio em Madri. Tratava-se de “contra-informação”, para divulgar – em “atos” semelhantes aos de La hora de los hornos – não só a palavra mas também a imagem do líder proscrito.
Em Los hijos de Fierro (1975), seu primeiro longa-metragem de ficção, Solanas enfrentou uma complexa operação cultural e simbólica: uma versão do poema nacional de José Hernández de um ponto de vista peronista. Os filhos de Fierro no título são os descendentes daquele gaúcho rebelde, a classe trabalhadora peronista suburbana, perseguida pelo poder como o próprio Martin Fierro era no seu tempo. O protagonista deixa assim de ser um herói individual e solitário para converter-se num ator coletivo, o que fez do filme de Solanas uma experiência inédita no cinema argentino. Terminado em 1975, só pôde, contudo, ser visto no país uma década mais tarde, porque tanto Solanas como quase toda sua equipe técnica e artística foram perseguidos, primeiro pela Triple A e depois pela ditadura civil-militar, que levaram o diretor ao exílio.
Dessa dolorosa experiência, Solanas extrairia uma das suas criações mais duradouras, Tangos – El exilio de Gardel, que estreou no Festival de Veneza de 1985, onde ganhou o Grande Prêmio do Júri, ratificado alguns meses mais tarde pelo prêmio principal do Festival de Havana. Ao contrário de seus filmes anteriores, que tentavam provocar um processo de reflexão crítica, El exilio de Gardel exigia sobretudo um compromisso emocional do espectador com seus personagens, homens e mulheres à deriva numa cidade estrangeira, que procuram refúgio no imaginário cultural da Argentina, a qual tiveram que forçosamente deixar para trás.
A polifonia que já estava presente em La hora de los hornos e Los hijos de Fierro encontra em El exilio de Gardel uma forma de expressão mais livre e espontânea, com espaço para a música, a dança e até o humor. Para falar de seu filme, Solanas (como seu alter ego no filme, interpretado por Miguel Angel Solá) utiliza o termo “tanguédia”, expressão que subsume Tango + comédia + tragédia e revela o desejo do cineasta de salvar as barreiras que separam os diferentes gêneros e criar uma forma original que rompa com as estéticas tradicionais.
Realizou uma operação simétrica com Sur, prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 1988 e que funciona como a outra face da mesma moeda. O cenário já não é Paris, mas a paisagem suburbana à qual regressa o protagonista (novamente Miguel Angel Solá), após anos de prisão por sua militância sindical, uma situação que reflete metaforicamente o retorno do país à democracia. “Sur é uma viagem: da prisão e da morte à liberdade; da ditadura à democracia; da noite e do nevoeiro ao amanhecer”, dizia então Solanas, que, como no seu filme anterior, voltou a contar com a cumplicidade de Astor Piazzolla na trilha sonora original, à qual acrescentou um colar de tangos clássicos que – na voz de Roberto Goyeneche – vão comentando a ação.
Em comparação com estes clássicos modernos, El viaje (1992) e La nube (1998) não foram filmes de tanto sucesso, mas em ambos estava claro que correspondem por si mesmos a um conjunto de obras com uma singularidade absoluta no cinema argentino como é a de Solanas. No primeiro, tratava-se do percurso iniciático de um adolescente da Terra do Fogo, que parte da cidade mais ao sul do mundo numa aventura de formação por todo o continente sul-americano. No segundo, o tom tornou-se confessional e Solanas, de alguma forma, se via refletido nesse veterano teatrólogo interpretado por seu amigo Eduardo “Tato” Pavslovsky, que resistia não apenas aos embates do tempo, mas também à modernidade crua e sem memória do crasso menemismo.
A obra de Solanas recebeu um novo impulso a partir de Memoria del saqueo, quando recebeu o Urso de Ouro pelo conjunto da obra na Berlinale de 2004, um documentário que foi também a pedra angular de um enorme afresco que ele foi compondo durante mais de quinze anos. Os títulos desta grande panorâmica da realidade social, política e econômica do país são eloquentes para cada um dos temas que foi abordando. La dignidad de los nadies (2005), Argentina latente (2007), La próxima estación (2008), Tierra sublevada: oro impuro (2009), Tierra sublevada: oro negro (2010), La guerra del fracking (2013), El legado estratégico de Juan Perón (2016) e Viaje a los pueblos fumigados (2018) deram conta da resistência do povo trabalhador, do potencial científico e criativo do país, do abandono da ferrovia como instrumento de comunicação e progresso, da cobiça extrativista, dos ensinamentos do líder e da contaminação brutal da terra pelos agrotóxicos.
Nada do país era alheio a Solanas, que deixou pendente um documentário sobre a pesca e a plataforma oceânica argentina e terminou Tres en la deriva del caos, um diálogo íntimo e socrático com dois de seus muitos e grandes amigos do mundo da arte, o pintor Luis Felipe “Yuyo” Noé e o dramaturgo “Tato” Pavlovsky. “Falta ao cinema argentino contato com o real”, refletia nos últimos anos. Para compensar essa falta, Solanas decidiu – com aquela nobre ambição e essa prepotência no trabalho que o caracterizavam – cuidar ele mesmo de todos os aspectos da complexa realidade argentina, que ele abraçou como ninguém.
Leia a segunda parte do texto aqui
*Luciano Monteagudo é jornalista e crítico de cinema.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.