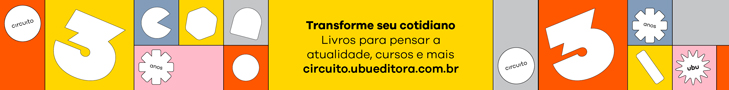Saúde digital: os riscos da “plataformização”
Fiocruz aponta que o Brasil vem seguindo políticas que priorizam a abertura ao setor privado na área de saúde digital desde os anos 2000, e em especial após a pandemia. Enquanto isso, a participação popular é deixada de lado…
Publicado 26/04/2023 às 07:49 - Atualizado 26/04/2023 às 11:57

Raquel Rachid em entrevista a Alessandra Monterastelli
A saúde digital emergiu como uma nova tendência durante a pandemia de covid-19. Consultas online passaram a ser regra para muitos médicos por todo país, como forma de diminuir os riscos de contágio – e continuam mesmo após o arrefecimento da crise, em especial no setor privado. Apesar de o boom ter ocorrido nos últimos três anos, as discussões em torno da digitalização de alguns serviços em saúde não são tão recentes, e sua concretização já é uma realidade no Brasil desde os anos 2000.
Hoje, a iniciativa privada concentra grande parte das ações nesse sentido – grande exemplo disso são os aplicativos desenvolvidos por startups de atenção primária, que oferecem monitoramento de sintomas e consultas por videochamada com médicos. A abertura desse mercado, assim como as iniciativas efetuadas pelo sistema público – como o e-SUS, em 2012 – estão inseridos em uma série de políticas tomadas pelo governo federal desde os anos 1990, aponta uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O grupo de pesquisa Implicações das Tecnologias Digitais nos Sistemas de Saúde, criado a partir do apoio da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), vem analisando as políticas para a saúde digital implementadas no Brasil até o momento e como estas estão inseridas no contexto de avanço do neoliberalismo no mundo.
“Nos últimos 30 anos foram viabilizados processos de privatização, novas formas de regulação de mercados e a abertura comercial”, apontam os pesquisadores em artigo recente da revista Ciência & Saúde Coletiva. Segundo eles, a lógica dos serviços digitais de saúde vem seguindo esse caminho por meio da gestão de grande volume de dados da população – não só daqueles coletados pelos aplicativos, mas também pelos órgãos públicos e compartilhados com empresas privadas.
O grupo chama esse fenômeno de “plataformização”, que consiste na concentração dos dados coletados e na leitura dos usuários de diferentes aplicativos como consumidores – e não como cidadãos que têm acesso à saúde como direito. A digitalização, nesse caso, ocorre através de um raciocínio “tecnossolucionista”: a ideia de que a tecnologia é a solução para os problemas enfrentados na área hoje, resumidos à simples falta de atendimento, como explica Raquel Rachid, uma das pesquisadoras envolvidas no estudo, ao Outra Saúde. Ou seja, aplicativos, plataformas e demais ferramentas digitais de saúde têm como foco coletar dados – para oferecer futuros serviços – e agilizar atendimentos, pensamento atrelado à ideia de otimização da produção.
Fique com a entrevista.
O artigo fala sobre como o modelo de “plataformização” serve ao contexto neoliberal, inclusive após a crise de 2008. Como isso ocorre?
Considerando o contexto de crises que é típico das relações sociais sob o capitalismo, a “plataformização” que nós abordamos é observada como expressão da aceleração da digitalização dos serviços públicos, notadamente inspirada em modelos de negócio desenvolvidos pela iniciativa privada. Como um fenômeno que provê respostas ao movimento de busca por valorização, que se renova a cada instabilidade mais premente do sistema, esse retrato não é exclusivo do setor da saúde. A chamada “plataformização” é operada por meio da ação do Estado em face da delegação de infraestruturas tecnológicas e da prestação de serviços públicos mediada por soluções privadas. Isso sob um discurso de inovação que escamoteia o avanço do capital – no caso do artigo, na Saúde (o que é particularmente conflitante com os fundamentos do SUS). A crise de 2008 intensifica esse tipo de operação de “cooperação” entre setores como forma de responder à expectativa por estabilização econômica. Trata-se de um processo ainda mais apressado e alastrado em razão da pandemia de covid-19.
No artigo, você conta a história desde a criação do e-SUS até a colocação do departamento de Saúde Digital dentro do ministério da Saúde, mas aponta a falta de participação popular na construção das estratégias. Qual a importância desse fator ausente, na sua opinião?
Essa é uma marca bastante visível na elaboração da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, por exemplo. Temos debatido que a ausência de espaços de participação social – mesmo daqueles que não significariam a atribuição de um caráter propriamente decisório ao controle social – está relacionada ao que se espera de usuários e usuárias nesse modelo de saúde digital: satisfação medida por meio de um certo “engajamento” e analisadas a partir de interações tecnológicas, expressas em dados por meio de técnicas questionáveis, se levarmos em contas os limites de arquitetura e modelagem prévias dessas plataformas. Essa ausência caracteriza o modelo atualmente existente. Assim, a eventual incorporação de mecanismos de participação que prescindam da problematização desse elemento será também problemática. É salutar haver disputa dos rumos traçados para a saúde digital.
Com a abertura à iniciativa privada, você coloca outro problema: a “defesa tecnossolucionista como promotora de respostas aos desafios dos sistemas de saúde”. Onde podemos achar provas deste processo e porque ele não é suficiente?
O tecnossolucionismo, como enaltecimento das potencialidades trazidas pela tecnologia em detrimento do contexto de seu desenvolvimento, pode ser amplamente evidenciado – na saúde, costuma estar associado à expectativa de que a implementação de tecnologias levará à melhora do acesso universal à saúde de forma instintiva. É preciso considerar que uma série de contradições atravessam os processos de incorporação de tecnologias pela saúde pública e que a ausência de um horizonte que retome as disputas em torno da realização do SUS não pode ser substituído por artefatos tecnológicos como se estivessem descolados do contexto de reprodução social.
Em seu artigo, você fala sobre como o Brasil se inspirou no modelo dinamarquês. É uma inspiração inusitada, pelas diferenças sociais e econômicas entre os países. Como isso aconteceu? Existe saldo positivo?
Os instrumentos de cooperação entre os países para o tema da saúde remontam a 2014, havendo renovações importantes nos últimos anos – já no contexto da saúde digital. Detalhamos essa questão ao longo do artigo, considerando o processo marcante de digitalização conduzido pelo Estado dinamarquês em aliança com o setor privado. Para além da influência dinamarquesa, é também conhecida a influência do Reino Unido em face da saúde digital brasileira – um acordo datado de 2020 que conta com a participação de uma grande consultoria transnacional no papel de executora de tarefas que não ficam expressas no texto deste termo. Aliás, em uma obra recente, as pesquisadoras Mariana Mazzucato e Rosie Collington detalham como a privatização de serviços públicos criou possibilidades de expansão da indústria de consultoria – que, não raramente, moldou reformas institucionais em países periféricos por influência de organizações