Índios: a trágica Educação "ofertada" pelo Estado
Há mais de 2 mil escolas indígenas no Brasil. Baseadas em pedagogias brancas, colonizam, domesticam e destroem uma forma de transmissão de saberes com a qual muito teríamos a aprender
Publicado 20/08/2018 às 16:49 - Atualizado 21/10/2020 às 16:14

Imagem: autor desconhecido
Por Angela Pappiani | Fotos: Helio Nobre/ikore
Não consegui controlar o sentimento. Fiquei com pena das crianças, pequenas ainda, os menores com 3 ou 4 anos, naquele cercado de folhas de babaçu, no meio do pátio da aldeia. Os dias de julho no cerrado brasileiro são secos, 40 graus, derretendo os miolos e abaixo dos 10 graus nas madrugadas, com um sereno fino que deixa tudo molhado e gelado. Os meninos, com calçãozinho vermelho e sem camisetas, dormiam sobre esteiras trançadas de palha, com o céu estrelado sobre a cabeça. O fogo, no centro do círculo, era para aquecer. Mas eu, com blusa de lã e enrolada no cobertor, tiritava de frio. As mães e irmãs levavam comida e água algumas poucas vezes ao dia. E eles resistiam, firmes, levando a sério seu papel importante na cerimônia que se repete apenas a cada 15 anos, o Wai’a.
Essa é apenas uma das muitas provas de resistência por que passam os meninos do povo Xavante. Enfrentam privações, fome, sede, frio, calor, cansaço físico, medo, pressão psicológica. São treinados assim, em longas e duras provas para se tornarem adultos fortes e resistentes, guerreiros conhecedores do território, das estratégias de sobrevivência.

Exatamente o oposto do que nós, os warazu – os não indígenas, fazemos com nossos filhos. Muitas crianças nas cidades e campos, vivem realidades de privações que ainda incluem violência física, ausência de amor e amparo. Mas, de modo geral, tentamos proteger nossos filhos de qualquer adversidade, poupá-los de desconfortos e contrariedades, cercá-los de bens materiais e facilidades que, a nosso ver, melhoram a vida e criam oportunidades.
Nas aldeias que conheci, mesmo nos lugares mais precários, onde se luta todo dia por um punhado de comida, pelo direito à água e a um pedaço de chão sob os pés, não falta amor e acompanhamento no processo de transformação das crianças em gente grande. Uma caminhada coletiva, com mães, pais, tios, primos, avós, todos juntos, participando da formação daqueles seres tão importantes, tão desejados, que sabem de suas origens e da missão que terão pela frente: guardar o seu lugar sagrado no mundo, mesmo que o lugar já não exista fisicamente.
As cerimônias que marcam a passagem do tempo são muitas: para receber o bebê que chega ao mundo, para lhe dar nome, para apresentá-lo aos espíritos e ancestrais, para proteger os dentes que nascem, para celebrar a primeira menstruação, para marcar a passagem ao mundo adulto, para formar os guerreiros e guerreiras. E cada povo tem seu jeito de lidar com essas passagens, de marcar cada um desses tempos: com cantos, danças, adornos, comidas especiais, grandes festas que reúnem várias aldeias. As provas e obstáculos estão presentes em cada uma delas.

Os bebês engatinham pelo chão de terra, se aproximam das fogueiras, brincam com formigas, dividem a refeição com o papagaio ou o macaco de estimação. Fazem parte, estão no mundo para conhecer todas as coisas, sentirem os limites e os perigos na pele e aprenderem as lições que só essa vivência permite.
Na aldeia Yanomami do Demini, duas meninas brincavam de fazer uma pequena fogueira, imitando a mãe que cozinhava ao lado. As duas tinham mais ou menos 3 e 5 anos de idade. Um desentendimento entre as duas virou briga. A menor veio chorando até a mãe, reclamando da irmã. A mãe pegou o facão, desses grandes, usados para tudo, e entregou à menina que saiu correndo atrás da outra. Eu, que presenciava a cena, fiquei gelada. A menor correu atrás da irmã, gritando, com raiva, arrastando o facão pesado por um tempo e desistiu. A outra riu, se aproximou, e as duas voltaram a brincar. A mãe continuava nos seus afazeres, tranquila. Eu perguntei sobre os riscos do que havia acontecido. Ela, generosa e paciente, me explicou: a menor se sentira poderosa com o facão na mão, ela era mais fraca e lenta que a outra, nunca a alcançaria nem teria forças para erguer o facão e machucar a irmã, que, no esforço, sua raiva havia se aplacado rápido e cada uma tivera sua lição. Sabedoria Yanomami para lidar com os filhos.
Nos anos de convivência com tantas aldeias, nunca vi uma dessas crianças machucada com gravidade, nenhum acidente fatal. As crianças nas aldeias aprendem os limites do seu ambiente, convivem com o rio, com o fogo, com a chuva, com a enchente, sobem em árvore, andam descalças na mata. Escapam das cobras, das onças, dos marimbondos porque os avós contam histórias que as preparam e rezam para protegê-las. O que mata as crianças nas aldeias é o sarampo, a pneumonia, a malária, a diarreia, a subnutrição, o agrotóxico na água e no ar, os acidentes dos caminhões precários. Causas externas, violência que envolve os territórios e vai se banalizando.

E as crianças nas aldeias trabalham, porque o trabalho é o que mantém a vida, que promove o desenvolvimento, o aprendizado, a noção do coletivo. Crianças participam de todas as tarefas da casa, carregam os irmãos menores, vão para a roça com as mães, pegam lenha e água, pescam, caçam, trançam esteiras e balaios, fazem adornos e panelas. E isso as faz membros de um povo, parte fundamental do coletivo, lhes dá um lugar, as ensina sobre matemática, geografia, história, ciência, economia, medicina, arquitetura. Quanto conhecimento é passado nas brincadeiras, nos momentos de compartilhar o trabalho e as histórias! O experimentar constrói noções fundamentais, aguça a curiosidade, faz pensar, exercita a memória, as habilidades. Nas brincadeiras, crianças imitam os adultos com criatividade e muita alegria.
Aos poucos, as escolas formais foram chegando às aldeias. Em algumas, era reivindicação do povo indígena; em outras, imposição do sistema. Mas, de qualquer forma, o que desejavam era o que prevê a Constituição: “uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária”. Direito conquistado com muita luta e que, como outros direitos, ficou só no papel. O ministério da Educação tem a responsabilidade de construir as políticas públicas para a educação e a execução nas áreas indígenas fica a cargo dos governos estaduais e municipais, onde o preconceito e os conflitos são mais presentes. Se a questão da educação escolar já é complicada a nível nacional a coisa complica ainda mais diante da diversidade de povos indígenas e realidades em cada região do país.
Até meados do século 20, o modelo de escola que existia em algumas áreas indígenas era o da missão religiosa que retirava crianças do convívio da família e as confinava em internatos onde eram proibidas de falar seu idioma e praticar sua cultura. Ali recebiam formação religiosa e aprendiam um ofício que as capacitava para se “integrarem ao mundo”, como cidadãos produtivos. Sofriam abusos físicos e psicológicos. Crianças eram entregues a famílias de brancos, muitas vezes de militares, para que fossem criadas distantes de seus territórios, de suas raízes. O plano do Estado era de acabar definitivamente com os povos indígenas, com sua diversidade cultural, construindo uma única nação, com uma única língua e cultura. O plano falhou. Felizmente os povos indígenas foram mais fortes, organizados e resistentes do que se podia imaginar. Independente das perdas irreparáveis que sofreram, conseguiram se erguer e buscar novas estratégias de sobrevivência diante da nação que seguia seu plano de desenvolvimento.
Até que outro modelo de escola chegou, dessa vez dentro das aldeias, com prédios de alvenaria, caixas fechadas e quentes que isolam as crianças da natureza, que moldam seus corpos livres ao formato da cadeira, que introduzem outra noção de tempo, o tempo parado, imóvel, sem família, sem brincadeira, sem questionamento, sem aprendizado. O tempo de olhar a nuca do companheiro, sem poder falar, ouvindo um professor, que muitas vezes nem fala o seu idioma, repetir fórmulas e conceitos totalmente alienígenas.

Durante muito tempo, algumas aldeias resistiram à entrada das escolas. Tinham medo da influência de fora, da presença dos professores não indígenas. As mães chegavam a impedir que os filhos fossem para aula. Mas aos poucos, essas comunidades resistentes foram vencidas. Muitas delas conseguiram interferir no esquema que chegava pronto, de fora, construindo materiais próprios, na sua língua, formando professores, apesar de todas as dificuldades. Mesmo essas experiências inovadoras sofrem com as regras e burocracias, com papeis a serem preenchidos, documentos e exigências do sistema que muitas vezes são impossíveis de serem cumpridas.
Em comunidades menos preparadas para enfrentar as mudanças provocadas pela escola, o que se vê são professores exercendo seu poder como os novos donos do conhecimento, confrontando os anciãos e a tradição, a merenda escolar distribuindo achocolatados e bolachas recheadas, crianças afastadas das práticas tradicionais e de suas raízes, sem conseguirem se apropriar dos novos instrumentos. E como consequência da influência da escola e de uma nova maneira de enxergar o mundo, temos crianças e jovens perdidos, sem se enquadrarem no mundo dos brancos e distantes da cultura de seu povo, com aspirações materiais que não podem alcançar e sem perspectivas dentro das aldeias.

As comunidades mais tradicionais e fortalecidas conseguem conviver com a escola mantendo os rituais, as reclusões das crianças e jovens, o tempo do aprendizado em família. Nessas aldeias, professores buscam a formação oferecida pelo Estado ao mesmo tempo que adaptam esse conhecimento de fora às necessidades e aspirações da comunidade. São criativos na construção de materiais próprios na língua indígena, usando os recursos e tecnologias para fortalecer sua forma de estar no mundo e a luta pelos direitos.
Difícil imaginar o que vem pela frente em tempos de tanto retrocesso e desrespeito aos povos tradicionais enquanto o Mercado se torna o grande senhor de tudo e todos. Podemos fazer nossa parte, apoiando os povos indígenas, contribuindo para reflexões, questionamentos e ações que transformem essa realidade.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
Um comentario para "Índios: a trágica Educação "ofertada" pelo Estado"
Os comentários estão desabilitados.
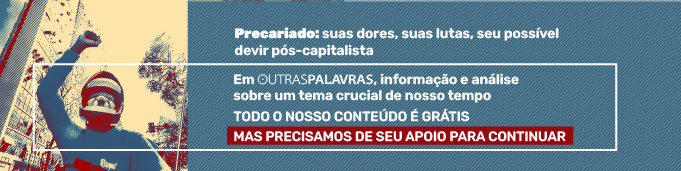

Nossa quanta ideologia, no fundo seria melhor manter aquele selvagem na idade da pedra? Ah sim por dar salários aos assim chamados antropólogos