Enfim, o direito humano a imprimir dinheiro
Uma mudança brusca de paradigmas leva Estados a ignorar a velha ortodoxia e emitir moeda, sem lastro algum, como nunca. Como isso sacode o debate político, abre espaço à transformação e obriga a esquerda a rever antigas certezas
Publicado 03/08/2020 às 20:28 - Atualizado 27/01/2023 às 18:26

Por Antonio Martins
Nada como um choque de realidade. Até há alguns meses, os partidários da Teoria Monetária Moderna (TMM) eram tidos como hereges, pelo pensamento econômico ortodoxo, e como muito temerários, pela maior parte dos marxistas. Ao sustentarem que os Estados podem imprimir moeda em larga escala, sem necessariamente provocar inflação, estes inovadores desejavam romper os limites impostos às transformações sociais pela financeirização. Jeremy Corbyn, ex-líder do Partido Trabalhista britânico, sustentou, já em 2015, que se os bancos centrais podem emitir dinheiro para salvar bancos, nada deve impedi-los de fazê-lo para resgatar os sistemas públicos de Saúde e Educação. Nos EUA, Bernie Sanders foi além. Propôs, ao longo de quatro anos, investimentos de 16 trilhões de dólares para o Green New Deal – uma Virada Socioambiental capaz de criar uma economia limpa, gerando ao mesmo tempo dezenas de milhões de empregos dignos. Ambos foram vistos como lunáticos. Como, simplesmente, imprimir dinheiro do nada? Ousavam violar a disciplina fiscal? Ignoravam a luta de classes? Então, veio a pandemia.
Um editorial e um estudo publicados pela revista Economist, na edição de 23/7, relata o que só poderia ser chamado de orgia monetária. Para salvar grandes corporações em dificuldades, o Estado norte-americano sozinho criou do nada, em apenas seis meses, aproximadamente 4 trilhões de dólares – cerca de três vezes o PIB anual do Brasil. Este dinheiro foi usado para resgatar grandes empresas que estavam superendividadas, e que, com a paralisação da economia, não poderiam continuar rolando seus débitos. Imagine, por exemplo, o caso de uma empresa aérea, ou de uma rede de hotéis, cuja receita cai abruptamente e que, portanto, já não pode usar estes recursos para empurrar a dívida com a barriga.
O Fed, banco central dos EUA, emitiu os US$ 4 tri para comprar a dívida destas grandes corporações – adquirindo suas ações, ou os papéis (debêntures) emitidos por elas como representação de sua dívida. Beneficiou empresas como a Apple, a AT&T (gigante de telecomunicações) ou mesmo a Coca-Cola… Fez isso tão obsessivamente que se tornou credor de cerca de 11% de todo o débito das corporações. A exposição do Fed à eventual quebra destas empresas chega agora a US$ 23,5 trilhões – quase 30% do PIB do planeta. No mundo rico, prossegue Economist, o exemplo foi seguido por outros bancos centrais. As operações se deram, em sua grande maioria, não por meio dos bancos convencionais, mas do que é conhecido como sistema bancário das sombras – ou “shadow banks”. Trata-se de um conjunto de instituições não reguladas pelo Estado, cujos ganhos provêm dos grandes riscos financeiros que assumem.
Secundariamente – e aqui começa a complexidade política – os Estados e bancos centrais emitiram montanhas de dinheiro também para benefício coletivo. Nos EUA, os mais pobres receberam um cheque de US$ 1,2 mil, e o Estado reforçou o seguro-desemprego dos demitidos com até US$ 600 por semana, aliviando em muito a crise social. Na União Europeia, ao contrário da compulsão por cortes sociais e “austeridade” ocorrida na crise de 2009, aprovou-se um pacote de 750 bilhões de euros — em parte empréstimos, em parte doações sem contrapartida aos países em maiores dificuldades. Até mesmo no Brasil, o ultraortodoxo Paulo Guedes não se opôs, até o momento, ao gasto de R$ 250 bilhões para pagamento de cinco meses de um Auxílio Emergencial que o governo não desejava, mas a que se adaptou. Guedes liberou antes, é claro, R$ 1,2 trilhão para o sistema financeiro…
Este conjunto de ações, aponta Economist, equivale a uma mudança de paradigma tão drástica quanto a que impôs a disciplina fiscal do neoliberalismo, a partir dos anos 1970-80. É algo que ocorre “uma vez em uma geração”, considera a revista. O capitalismo amolda-se. Quando eventos imprevistos impedem que o acúmulo e a concentração de riquezas continuem à velha maneira, o sistema transmuta-se sem pudor, para manter sua essência. Até há poucos meses, dizia-se, como se fosse uma verdade gravada em pedra, que “os Estados não podem gastar mais do que arrecadam”. Agora, estes mesmos Estados imprimem trilhões, sem nada ter arrecadado, para resgatar as corporações da crise. Secundariamente, em alguns casos, prestam algum socorro às vítimas da crise.
A quebra do velho paradigma significa que um território novo abriu-se à disputa política – e é preciso ocupá-lo. A luta de classes, é claro, não acabou: ela tornou-se ainda mais complexa e intensa. Até ontem, a Teoria Monetária Moderna era considerada fantasia. Agora, a questão está em saber para quê os Estados imprimirão, a partir do nada, moeda nova; e, portanto, não se, mas como esta emissão afetará a distribuição de poder e riqueza. O dinheiro será emitido para salvar corporações quebradas – em setores que devastam a natureza e destroem direitos, como a indústria automobilística e a Saúde privada? Será usado para que, nas bolsas de valores e cassinos financeiros, as grandes corporações continuem lucrando — enquanto a economia despenca e o desemprego explode? Ou ele assegurará a Renda Básica, a recuperação das políticas públicas, a garantia de emprego digno, a restauração das redes de infraestrutura, a transição para a Agroecologia, o resgate das pequenas empresas e do comércio local?
Mais: a mudança repentina de paradigma arrebenta uma antiga defesa do sistema. A “disciplina fiscal” dos Estados garantia à oligarquia financeira o monopólio da criação de dinheiro. Este privilégio acabou. Se os Estados podem emitir com muito menos restrições, abre-se um campo de disputa ao qual a esquerda não pode permanecer cega. Por que não propor que este pode seja usado para, digamos, financiar um vasto programa de ampliação da Saúde e Educação públicas? Por que não contratar médicos, professores, escolas padrão-CEU, período integral de ensino, unidades básicas de saúde capazes de atender sem demora, hospitais sem macas nos corredores?
Em poucos países, a esquerda no governo foi tão submissa à ortodoxia monetária como no Brasil. Todas as reformas estruturais foram adiadas sob o pretexto de que era preciso “manter o superávit primário”. Em 2014, Dilma, reeleita, contrariou frontalmente seu próprio programa para aplicar um “ajuste fiscal” que a divorciou de sua base popular e abriu caminho para o impeachment. O que impede a esquerda, agora – quando se sabe como são interesseiros os argumentos em favor da “disciplina monetária” – de propor, por exemplo, a Revolução da Saúde Pública, a Escola de Excelência, a Transformação Urbanística das Periferias, as redes de metrô, a restauração da malha ferroviária, a despoluição dos rios urbanos e tantos outros projetos? Por que não fazê-lo, num cenário em que 52% das pessoas em condições de trabalhar estão desocupadas e em que há milhões de profissionais bem formados desaproveitados e centenas de milhares de pequenas e médias empresas à beira de falência?
Muito antes de a pandemia se alastrar, a Teoria Monetária Moderna sugeria que tudo isso é possível. A condição é voltar a exercer a imaginação transformadora; enxergar a imensa energia social desperdiçada; encontrar caminhos para colocá-la em movimento. Por vias tortas – pela necessidade de salvar as corporações devastadas – o capitalismo está mostrando que, para isso, não faltará dinheiro, se houver vontade e criatividade política. Poderá esta quebra de paradigma despertar a esquerda brasileira de sua letargia aparentemente infinita?
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
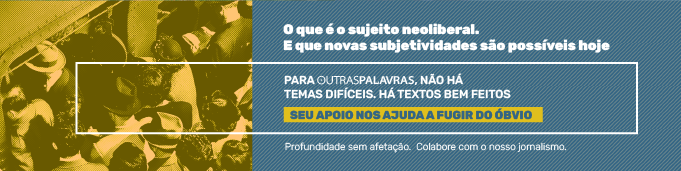

Um comentario para "Enfim, o direito humano a imprimir dinheiro"