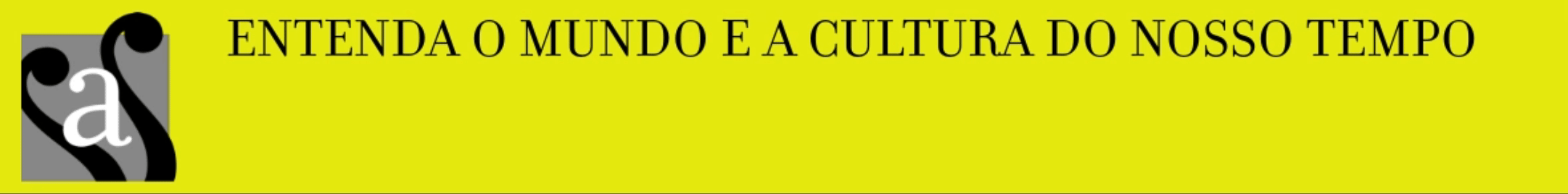Tecnopolíticas: as necessárias lutas terranas
Ação política nas redes precisa mudar e reassumir o potencial criativo e emancipador das ferramentas e ambientes tecnológicos, diz pesquisador. Caminho é lembrar que não há Big Data ou IA sem terra, energia e pessoas de carne e osso
Publicado 17/08/2023 às 19:43 - Atualizado 03/12/2025 às 22:53

Do Mainframe à Matrix: da experimentação tecnológica e social à dominância tecnopolítica
Num mundo cada vez mais tecnificado, confrontamo-nos com a exigência permanente de adotar as tecnologias que chegam sem pedir licença. No âmbito das leis ou regulamentos a sensação é que estamos a todo tempo correndo atrás do prejuízo, buscando minimizar os danos causados pelas novas tecnologias ou tentando domesticar seus possíveis usos e impactos sociais. Na pesquisa, nos esforçamos para acompanhar, analisar e refletir criticamente sobre as configurações sociopolíticas das tecnologias, mas também sobre a transformação da vida tecnomediada: trabalho, educação, saúde, justiça, cidades, etc. Todavia, pouco temos conseguido fazer com relação ao projeto/design do que está sendo criado. Entre engenheiros e desenvolvedores, o espírito geral é de que se algo pode ser criado ele será criado. Entre nós, usuários ou pesquisadores, vivemos entre a tensão do imperativo da adaptação subordinada e a busca dos desvios possíveis na apropriação criativa e na ressignificação tecnológica.
O ritmo de criação de novas tecnologias digitais é hiperacelerado e conduzido sobremaneira por corporações privadas sob um forte entrelaçamento com o capital financeiro. Num mundo dominado pelas finanças, contar com o aporte inicial de grandes investidores é fundamental para colocar os novos produtos tecnológicos em posições estratégicas no mercado. Há disputas entre os centros geopolíticos que concentram maior capacidade de criação e difusão de tecnologias digitais, que prolongam o poder de Estados e corporações através do controle sobre as tecnologias e suas infraestruturas. Sabemos que a adoção tecnológica é promotora de certas formas de vida (p.ex. do automóvel ao celular). Não se trata de uma determinação absoluta, mas de disposições socioculturais que são reforçadas através dos arranjos tecnológicos que nunca são neutros.
O arranjo tecnocientífico gestado no pós-Segunda Guerra Mundial foi adquirindo maior centralidade na dinâmica econômica ao longo do século XX, promovendo as reestruturações produtivas, as transformações das cadeias de produção e extração de valor, expandindo a nova economia informacional, da cultura e do conhecimento. O capitalismo tecnocientífico, nutrido pelo agenciamento da corrida militarista e geopolítica, se encontra no centro da disputa da hegemonia política internacional. São diversos os exemplos dessa corrida: 5G; transição energética; indústria de microchips, indústria farmacêutica, propriedade intelectual, disputa por recursos minerais.
Na história das políticas tecnológicas de diversos países da América Latina, essas questões já foram abordadas nas tradições que interrogam os modelos de modernização, as teorias da dependência e subdesenvolvimento, os modelos de inovação e difusão tecnológica, e sobretudo nas práticas dos movimentos de Apropriação Tecnológica. Importante destacar que a adoção tecnológica não é feita de forma direta e nem sempre subalternizada, havendo diferentes expressões de resistência tecnológica, apropriações e subversões tecnológicas que podem modificar o desenho, funcionamento e aplicação de um tecnologia específica. Isso não é um problema novo. Por isso, num cenário político em que nos deparamos novamente com o ascenso de um governo mais favorável a inovações sociais, a criação tecnocientífica poderia contribuir para a promoção de outros mundos não catastróficos.
Ao longo dos últimos 20 anos, trabalhamos em diversas investigações no campo das humanidades sobre problemas relacionadas à crescente mediação das tecnologias de informação e comunicação digital. De lá pra cá, muita coisa mudou: nas formas de vida, na presença ubíqua das tecnologias digitais, nos modos de uso e apropriação da internet, nas formas de ação política, na distribuição de poder e nas disputas entre atores estatais, corporativos e da sociedade civil, nas formas de regulação, na produção, circulação e controle da informação e sua economia em redes digitais.
Hoje, a produção e captura de dados digitais sobre aspectos inimagináveis de nossas vidas cotidianas fluem ininterruptamente para centros de dados com capacidade de análise, classificação e reaplicação numa escala planetária, fortalecendo assimetrias abissais de poder. Importante destacar que tanto a produção e coleta, como o tráfego e a posterior hospedagem, análise e classificação ocorre quase que totalmente sobre infraestruturas de empresas privadas transnacionais.
Se há 20 anos fazia sentido falar em cibercultura, ciberpolítica – pois o prefixo “ciber” adicionava algo específico que se constituía como uma arena de problematizações próprias –, hoje essas fronteiras são fluidas ou inexistentes, pois são raras as atividades que não sejam atravessadas por um processo de informatização digital-cibernética. Estamos, portanto, num cenário completamente diferente daquele de meados dos anos 90 e início dos anos 2000.
Até boa parte da primeira década dos anos 2000, realizávamos pesquisas no campo das humanidades que eram capazes de acompanhar os desenvolvimentos mais recentes das tecnologias digitais. No Brasil, observamos a constituição de um rico campo de investigações tecnopolíticas, procurando abarcar tanto as dimensões sociopolíticas, econômicas e culturais que atravessavam a criação e gênese tecnológica, como também os aspectos relacionados às transformações da vida social, política, econômica e cultural decorrentes dos novos modos de composição e associação com as tecnologias. Nesse período, acompanhamos a elaboração legislativa sobre os principais marcos regulatórios da internet e das tecnologias digitais no Brasil, bem como as transformações regulatórias sobre direitos civis e econômicos, entre outros.
Nesses 20 anos, vimos florescer no Brasil um ambiente acadêmico extremamente diverso e com longa capilaridade institucional em diferentes áreas disciplinares. Na área da comunicação, educação, antropologia, ciência política, sociologia, psicologia, artes, história, letras, filosofia, direito, ciências da informação e outras (só pra ficarmos no campo das humanidades), todos os principais congressos científicos disciplinares viram nascer grupos de trabalho específicos e redes de pesquisa dedicados a refletir sobre as transformações de uma sociedade cada vez mais atravessada pelas tecnologias de informação e comunicação digital. Para além das grandes áreas de conhecimento, surgiram novas redes de pesquisa interdisciplinar, com seus próprios congressos científicos, que gradualmente se transformaram em novas associações científicas, sem falar no surgimento de novos programas de pós-graduação e linhas de pesquisa onde as tecnologias digitais aparecem como elemento articulador de percursos investigativos. Relato sinteticamente essa trajetória, sem ainda ter realizado um levantamento detalhado (essa é uma tarefa em curso), mas arrisco dizer que temos no Brasil um profícuo ecossistema acadêmico-científico em humanidades dedicado a investigar, em suas diversas dimensões, a vida mediada pelas tecnologias digitais.
A primeira década do século XXI foi um período de muitas experimentações, tanto no ambiente da pesquisa acadêmica como nas práticas de grupos ativistas e movimentos sociais. Em especial, nutríamos a ideia de que a digitalização e a internet poderiam contribuir para transformações institucionais no sentido de um aprofundamento democrático: experimentos de democracia direta e participação distribuída, ciberdemocracias, formas mais avançadas de controle cidadão sobre o Estado e as corporações; economias colaborativas e formas mais distributivas da produção e consumo; políticas de acesso a dados e informações; regimes não proprietários de produção de conhecimento, novas formas de colaboração entre cientistas profissionais e amadores, etc.
Em resumo, havia um universo de pesquisas e de práticas sociais em que a inovação social e institucional se orientava por um horizonte mais solidário, emancipatório e internacionalista. Nesse momento o desenvolvimento e apropriação das tecnologias digitais estavam incorporadas (embeded) em práticas socioculturais e institucionais que não estavam dominadas, exclusivamente, por normatividades e racionalidades de maximização capitalista. As tecnologias digitais e a internet, em especial, eram portadoras de modos de composição sociotécnicos mais abertos à experimentação social e política.
Evidentemente, esse período foi marcado por disputas importantes contra os poderes constituídos: as forças oligárquicas que organizam o funcionamento do Estado, os aparatos de segurança nacional e as corporações industriais que eram ameaçadas por dinâmicas socioeconômicas emergentes e por práticas políticas potencialmente disruptivas.
Nesse mesmo período acompanhamos um acelerado processo de crescente concentração econômica e corporativa das empresas que atuam na internet ou que criaram produtos e serviços relacionados à economia informacional. Hoje, um pequeno núcleo de poucas empresas domina quase a totalidade da economia digital. A concentração é tamanha que faz os oligopólios industriais e dos meios de comunicação de massa do século XX parecerem um mercado diverso.
Verificamos também a crescente interconexão entre os processos de digitalização e financeirização da economia. Como uma cobra de duas cabeças que se retroalimentam, o capitalismo financeiro e a grandes corporações de tecnologia produziram um ambiente de reforço mútuo, capaz de acelerar e controlar a inovação tecnológica, ocupando posições estratégicas no mercado, ditando o ritmo da inovação e buscando controlar as trajetórias e linhagens de desenvolvimento tecnológico.
Nesse cenário, vivemos a reboque da inovação tecnológica conduzida pelas grandes corporações nesse arranjo finanças-Big Techs-militarização-geopolítica, reatualizando as formas econômicas extrativistas e neocoloniais descritas atualmente sob distintas nomenclaturas: monocultura tecnocientífica, colonialismo de dados, capitalismo de vigilância, etc.
A chegada e adoção dos novos dispositivos (artefatos ou softwares) são tomadas como fatos consumados. Trata-se apenas de encontrar as “boas formas” de uso que nos restam. Basta observar como é difícil imaginar outros futuros tecnológicos para a crescente automação. A chamada Quarta Revolução Industrial é comumente apresentada como sinônimo do “descarte” de milhões de pessoas. Menos trabalho para quem? Menos riqueza para quem? Já não ouvimos essa história antes? Por que esse processo ainda aparece como inexorável? Não seremos capazes de imaginar e praticar outros desenhos tecnológicos para a automação cujo resultado seria distinto na organização do trabalho?
Caso semelhante acontece com o atual debate sobre a regulação das plataformas de redes sociais corporativas. Incapazes de enfrentar o problema em sua complexidade, dada a assimetria de poder, limitamo-nos a tentar regular os seus efeitos sempre tardiamente, pois a velocidade da transformação das tecnologias que se tornaram ubíquas em nossas vidas é infinitamente superior ao ritmo de nossas instituições. Nessa corrida, se não formos capazes de assumir radicalmente o controle democrático sobre a gênese das tecnologias que utilizamos, sobre quais tecnologias queremos e como podemos controlar suas condições de aplicação, ficaremos sempre em defasagem e desvantagem.
Este é o campo da tecnopolítica! Por isso falamos provocativamente em Tecnoceno pra designar o período geohistórico em que vivemos: quando atribuímos às tecnologias o domínio ou primazia da agência sobre nossas vidas, despolitizando sua gênese e naturalizando sua existência. É nesse sentido que alguns autores tratam a crescente tecnicização como uma nova ambiência. Nesse caso, não se trata da superação crítica latouriana da clivagem moderna entre cultura e natureza, mas sim de um projeto político difuso de essencialização da técnica como segunda natureza.
O aparente sucesso do ChatGPT é performativo em vários aspectos. Acompanhamos uma corrida corporativa e geopolítica pela liderança nos modelos de inteligência artifical. No campo da inovação tecnológica a velocidade é um vetor fundamental da disputa, seja porque ela está embarcada nos ciclos de financeirização, seja porque chegar na frente na definição de uma técnica aumenta as chances de que aquela técnica torne-se o padrão adotado pelas tecnologias que a seguirão. Os efeitos econômicos e políticos da padronização tecnológica são bem conhecidos e hoje com a possibilidade da escalabilidade digital no nível planetário o domínio sobre um padrão tecnológico confere muito poder político.
No campo da pesquisa científica essa corrida pode ter efeitos sinistros sobre os quais pouco se fala. Na medida em que a pesquisa tecnocientífica é cada vez mais dependente dos investimentos privados na busca pela inovação lucrativa, ou de recursos públicos cuja lógica de investimento está orientada pela disputa intercapitalista, o sucesso de um tecnologia pode redirecionar as linhas de pesquisa, silenciando ou matando outras trajetórias de investigação tecnológica que se tornam menos relevantes. Na base do ChatGPT existem anos de pesquisa em NLP (natural language processing) sobre diversos modelos em linguística computacional. Como será que o “sucesso” de um modelo específico de inteligência artifical (baseado nas LLMs) vai impactar na pesquisa científica e nas possíveis trilhas de desenvolvimento tecnológico de modelos de IA?
Outro exemplo chocante ocorre nas interações entre educação e tecnologias digitais. A pandemia da covid-19 acelerou um processo que já estava em curso, no qual as grandes corporações de TI souberam tirar vantagem de um ambiente de fragilidade institucional e de subfinanciamento da ciência e educação no Brasil. Diante da urgência em ampliar rapidamente a adoção de tecnologias digitais na educação, a maior parte das secretarias estaduais de educação e muitas universidades públicas adotaram infraestruturas e serviços controlados pelas Big Techs (principalmente Google, Microsoft e Amazon). Não é exagero dizer que na era do capitalismo informacional nossa dependência tecnológica atualiza uma recolonização sob diversas perspectivas: cognitivo-epistemológica, cultural, energética, econômica e política.
O digital como ambiência: conflitos tecnopolíticos como lutas cosmotécnicas
Num cenário de imensa assimetria tecnológica e econômica como podemos engendrar pesquisas com capacidade de ferir o poder? Como podemos criar alternativas tecnológicas capazes de oferecer rotas de bifurcação diante do modelo tecnocientífico dominante? Como podemos disputar a produção de conhecimentos amparados em Big Data e na inteligência artificial, quando a concentração de enormes bases de dados são um requisito para o treinamento e aplicação da inteligência artificial, cuja capacidade computacional é hoje um privilégio de poucos atores, algumas grandes corporações e alguns Estados?
A história da computação teve momentos em que a capacidade de utilização criativa de computadores transbordou para fora dos centros verticais de controle. A chamada revolução microeletrônica e a produção de computadores de custo acessível a alguns indivíduos privilegiados, criou uma capacidade distribuída do poder computacional, ampliando radicalmente os processos de inovação na ponta (usuário do computador), retirando a exclusividade dos grandes laboratórios militares, corporativos ou universitários. De forma parecida, os anos iniciais da internet comercial (anos 90 até primeira década dos anos 2000) ofereceram dinâmicas de interação e de colaboração fora dos circuitos dominados pelas forças de mercantilização e militarização. Poucos se lembram, mas o espaço virtual de navegação era designado DMZ (zona desmilitarizada, em inglês), identificando claramente a origem (militar) e sua abertura para o uso civil-comercial.
Agora que a informatização digital-cibernética tornou-se uma ambiência – presença ubíqua e imanente – para quase a totalidade da vida, precisamos ativar outras imaginações tecnológicas e nos aliar a práticas tecnológicas que combinem um tanto de fuga (recusa, êxodo e subtração) com um tanto de bifurcação. Muitas delas já são praticadas por aquelas e aqueles que resistem historicamente às forças coloniais-capitalistas.
Estamos no momento de uma urgente inflexão da pesquisa e do ativismo no campo dos direitos digitais em direção aos conflitos terranos, lutas que confrontam a cosmovisão do progressismo, da mercantilização e do privilégio antropocêntrico colonial-capitalista que converte a vida humana e não-humana em recursos a serem explorados. São muitas as iniciativas que retomam das tecnologias computacionais as potencialidades (cognitivas, culturais e políticas) que elas inauguram, buscando re-territorializar e corporificar os seus sentidos, resistindo portanto às forças de abstração e extração que codificam e transformam o mundo em matéria mercantilizável. São expressões de lutas cosmotécnicas, confluências que bifurcam os vetores que sustentam o Antropo-Capitaloceno, nas quais encontramos práticas de uma tecnopolítica do Comum, decolonial, antirracista, antissexista ou anticapitalista.
O poder de escalabilidade realizado através de Big Data e da inteligência artificial depende de uma capacidade de abstração homogeneizante para a construção de padrões estatísticos. É uma forma de simplificação (redução de mundos) análoga ao que encontramos na plantation colonial. É um tipo de operação que pode ser eficiente para a realização de algumas tarefas, porém de aplicação limitada. Devemos estar atentos ao seu modelo de eficiência, pois geralmente, ela perpetua e aprofunda a assimetria dos poderes constituídos. O universo de dados que está na base do treinamento dos modelos, bem como nas escolhas da construção do modelo estatístico, sempre serão o reflexo de uma certa configuração de mundo. O problema não é só uma questão de viés ou de acurácia, mas sim o fortalecimento de um regime de verdade algorítmica que objetiva legitimar a reprodução das desigualdades existentes.
Na perspectiva de uma tecnopolítica terrana, ativar experimentações sobre inteligência artificial na educação, por exemplo, implicaria numa aliança com educadores e estudantes para criar uma inteligência artificial que amplie e fortaleça sua capacidade de ação autônoma coletiva; pensar na saúde digitalizada significa criar as condições para que trabalhadores do SUS e cidadãos possam re-envolver as tecnologias em suas práticas de promoção da saúde como um Comum; ressituar as tecnologias digitais junto às populações indígenas significa, antes de tudo, pensar que as tecnologias devem promover a defesa da vida, a garantia da terra e das condições necessárias para que suas formas de vida possam existir; pensar em tecnologias que promovam a segurança coletiva significa enfrentar a cultura securitária, militarista e carcerária que alimenta o genocídio da população negra. Sem a participação dos que são diretamente afetados pela permanente atualização dos dispositivos de exploração e dominação, as reivindicações sobre os direitos digitais correm o risco de ficar restritas aos problemas enunciados e diagnosticados por aqueles que desenham e implementam as tecnologias.
Alternativamente ao modelo da escalabilidade homogeneizante, como poderíamos realizar outros modelos de eficiência societal baseadas na proliferação da diferença no interior do sistema? E se ao invés da simplificação ecológica da plantation computacional, fôssemos capazes de criar outras de formas de colaboração na produção de conhecimento tecnocientífico, que promovam as alianças que amplificam e sustentam mundos mais diversos? Um requisito fundamental para isso ocorrer é a capacidade de autodeterminação (situada, coletiva e democrática) sobre as infraestruturas de nossas vidas tecnomediadas. Noutras palavras, uma soberania tecnológica relacional amparada na interdependência entre aqueles (humanos e não-humanos) que produzem uma comunidade política. Ao invés da soberania imunitária (das rígidas fronteiras entre o dentro e o fora, do amigo-inimigo) e da autossuficiência (do indivíduo, na nação, da empresa), investir na produção do vínculo. A prática da diversidade cosmotécnica é também uma cosmopolítica.
A criação de arranjos sociotécnicos a partir dessas lutas exige que outras racionalidades, normatividades e cosmovisões sejam inscritas no desenho e implementação da tecnologia. Podemos praticar formas de fuga e subtração das praticidades oferecidas pelas tecnologias corporativas e ao mesmo tempo criar arranjos sociotécnicos que permitam a bifurcação das trajetórias tecnológicas a favor de outros mundos. As soluções tecnológicas que as grandes empresas oferecem são “boas” para o mundo que elas sustentam. Se jogamos apenas no campo delas já estamos perdidos. O argumento é simples e o problema é mais complexo: não há data center sem terra, sem água, sem energia, sem pessoas. Talvez, retomar as tecnologias que perdemos signifique criar as tecnologias que nunca tivemos.
___________
Os argumentos e a hipótese central desse texto, aqui apresentados de forma sintética, são desenvolvidos em maior detalhe no trabalho: Da tecnopolítica às lutas cosmotécnicas: dissensos ontoepistêmicos face à hegemonia cibernética no Antropoceno
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras