A obra-prima e a elite cultural
Publicado 05/01/2012 às 13:34
“O Cavalo de Turim” foi louvado pela crítica, mas ignorado pelo público. Sobre o elitismo como critério da percepção artística.
Por Bruno Carmelo, do Discurso-Imagem.
“Em algum lugar no campo. Um fazendeiro, sua filha, uma charrete e um velho cavalo. Lá fora, o vento sopra”. A própria sinopse do filme O Cavalo de Turim pode suscitar a curiosidade de algumas pessoas e afugentar outras. A história cabe nas simples palavras acima, mas a duração é de 2h30. Ora, como o diretor compõe sua história? Em outras palavras, o que pode-se ver concretamente em tanto tempo de “vento que sopra”?
Muito foi dito sobre este Cavalo de Turim, principalmente alguns elementos copiados e colados diretamente dos materiais de imprensa, e repetidos pela imprensa sem nenhuma reflexão. Falaram bastante sobre Nietzsche e o episódio do cavalo (o filósofo abraçou um cavalo maltratado antes de enlouquecer), mas exceto a referência lacônica do narrador no início, não há nada mais sobre esta história aqui – tratar o filme de “biografia do cavalo” é um tanto absurdo. Outros falaram que “Béla Tarr filma o fim do mundo”, outra frase repetida em todos os cantos e tão grandiloquente quando inexata. Tentar aproximar este filme de Melancolia e da Árvore da Vida pelo aspecto “apocalíptico” seria uma tentação pouco justificável.
 Talvez estas aproximações e atalhos fáceis venham do fato que este filme húngaro é uma surpresa difícil de catalogar, por isso qualquer interpretação pronta parece bem-vinda. Os críticos franceses preferiram as expressões adjetivas e pouco descritivas: “Este fim do mundo tem a aparência de um murmúrio” (Excessif), ele “resiste a toda perspectiva de transcendência” (Chronic’Art), uma experiência “única, sensorial, poética, enigmática, inesquecível” (La Croix), “Béla Tarr faz um mundo diante dos nossos olhos” (Le Monde), “o cinema de Tarr não procede por rupturas, mas por deslizamentos sucessivos” (Positif).
Talvez estas aproximações e atalhos fáceis venham do fato que este filme húngaro é uma surpresa difícil de catalogar, por isso qualquer interpretação pronta parece bem-vinda. Os críticos franceses preferiram as expressões adjetivas e pouco descritivas: “Este fim do mundo tem a aparência de um murmúrio” (Excessif), ele “resiste a toda perspectiva de transcendência” (Chronic’Art), uma experiência “única, sensorial, poética, enigmática, inesquecível” (La Croix), “Béla Tarr faz um mundo diante dos nossos olhos” (Le Monde), “o cinema de Tarr não procede por rupturas, mas por deslizamentos sucessivos” (Positif).
Que o filme seja ou não tudo isto dito acima, o fato é que existem 150 minutos de película, e concretamente alguma coisa se passa diante dos olhos do espectador durante este tempo todo. Antes de partir para as conclusões sublimes e metafísicas, talvez valha a pena descobrir quais os mecanismos utilizados para se atingir tamanho prazer (sensorial, abstrato, quase orgásmico) da crítica.
Ora, a família descrita pela sinopse vive um quotidiano miserável, mas sem piedade nem reclamações. Todas as manhãs, a filha se levanta, se veste, vai ao poço, busca água, volta, cozinha duas batatas, que ela e o pai comem com as mãos, um sentado em frente ao outro. Depois eles alimentam o cavalo, limpam o estábulo e voltam para casa. Esta é basicamente a mesma ação que se repete durante os cinco dias mostrados em tela, e divididos solenemente na tela preta com as inscrições “primeiro dia”, “segundo dia” e assim por diante.
 O tédio que poderia nascer desta repetição banal é amenizado pelo exercício de estilo, pela lenta e gradual composição da imagem. No primeiro dia, vemos apenas o pai comer, num plano fixo. No segundo dia, vemos somente a filha. No terceiro, filha e pai são vistos num plano de conjunto, com a porta da casa ao fundo. No quarto dia, novo plano de conjunto, mas desta vez com a cama ao fundo. Béla Tarr compõe aos poucos o espaço, revelando estas mesmas ações com um prazer da composição, da luz e do som, que constituem em si o objeto de estudo deste filme. Esqueça o cavalo, esqueça Nietzsche, esqueça o fim do mundo: este é essencialmente um filme sobre a imagem e sobre a mise en scène – a miséria dos protagonistas serve sobretudo a eliminar qualquer elemento narrativo capaz de alterar o quotidiano dos personagens. A miséria e o isolamento geográfico garantem a imobilidade necessária ao exercício de estilo do diretor.
O tédio que poderia nascer desta repetição banal é amenizado pelo exercício de estilo, pela lenta e gradual composição da imagem. No primeiro dia, vemos apenas o pai comer, num plano fixo. No segundo dia, vemos somente a filha. No terceiro, filha e pai são vistos num plano de conjunto, com a porta da casa ao fundo. No quarto dia, novo plano de conjunto, mas desta vez com a cama ao fundo. Béla Tarr compõe aos poucos o espaço, revelando estas mesmas ações com um prazer da composição, da luz e do som, que constituem em si o objeto de estudo deste filme. Esqueça o cavalo, esqueça Nietzsche, esqueça o fim do mundo: este é essencialmente um filme sobre a imagem e sobre a mise en scène – a miséria dos protagonistas serve sobretudo a eliminar qualquer elemento narrativo capaz de alterar o quotidiano dos personagens. A miséria e o isolamento geográfico garantem a imobilidade necessária ao exercício de estilo do diretor.
O mesmo ocorre com as idas e vindas ao poço, com as imagens através da janela, que são vistas ora do ponto de vista do poço, ora da porta da casa, ora acompanhando os personagens… Os planos são longuíssimos, seguindo a lógica de um imperturbável steadycam que desenvolve uma coreografia perfeitamente cronometrada a cada entrada e saída de cômodos. Às vezes, pela narração pedante, o filme se assemelha à literatura; pela coreografia da câmera e pelos movimentos controlados de cada personagem, poderia se pensar num espetáculo de dança; pela mesma música repetitiva mas com mudanças discretas, O Cavalo de Turim se assemelha ao desenvolvimento rítmico de uma partitura musical.
A música respira uma certa nobreza, o preto e branco bastante trabalhado também mostra refinamento, e toda esta confluência de aspectos de artes diferentes confere inevitavelmente o selo de “artístico” o filme. Vale lembrar que desde o nascimento do termo “filme de arte”, em 1908, os elementos mais importantes para que uma obra cinematográfica fosse considerada artística eram estes: a impressão de dificuldade da realização (o preto e branco, os planos-sequência), a singularidade da narrativa, a referência às outras artes consagradas. Este filme húngaro é uma “obra de arte” no sentido mais clássico e velho do termo.
 Não deixa de ser curioso, portanto, ver uma parte da crítica clamar sua intensa modernidade – em comparação com as montagens frenéticas dos filmes de estúdio. Pode-se acusar estas pessoas de terem memória curta, mas muitos críticos culturais já falavam que não havia novidades na produção cultural, e que toda impressão de originalidade era cíclica: o 3D de antigamente virou a sensação de hoje, os planos-sequência teatrais dos anos 40 nos aparecem como sinal de modernidade em pleno 2011. Um valor permanece estável: o interesse do “público especializado”, ou seja, dos críticos, pela imagem que reflete a própria imagem, e que faz do cinema seu objeto de estudo. Já o “conteúdo”, a arte do storytelling (“contar uma história”), é algo cada vez menos valorizado pela elite do cinema moderno, pós-1945.
Não deixa de ser curioso, portanto, ver uma parte da crítica clamar sua intensa modernidade – em comparação com as montagens frenéticas dos filmes de estúdio. Pode-se acusar estas pessoas de terem memória curta, mas muitos críticos culturais já falavam que não havia novidades na produção cultural, e que toda impressão de originalidade era cíclica: o 3D de antigamente virou a sensação de hoje, os planos-sequência teatrais dos anos 40 nos aparecem como sinal de modernidade em pleno 2011. Um valor permanece estável: o interesse do “público especializado”, ou seja, dos críticos, pela imagem que reflete a própria imagem, e que faz do cinema seu objeto de estudo. Já o “conteúdo”, a arte do storytelling (“contar uma história”), é algo cada vez menos valorizado pela elite do cinema moderno, pós-1945.
Sobra uma experiência interessantíssima para o “público especializado”, e insuportavelmente tediosa para o espectador comum. O Cavalo de Turim é destas obras-primas elitistas, “burguesas” em seu formalismo e na beleza da miséria que retratam, além da ausência de conexão com a realidade e com a sociedade. Este filme apresenta um conhecimento e domínio da linguagem cinematográfica invejável, mas que poderia perfeitamente se encontrar no cinema de 70 anos atrás. Este cinema belo, instigante e inteligente é também, ao mesmo tempo, reacionário, conservador e esnobe.
——-
O Cavalo de Turim (The Turin Horse, A Torinói Ló, 2011)
Filme húngaro-alemão-suíço-francês dirigido por Béla Tarr.
Com Erika Bok, Mihály Kormos, Janos Derzsi.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

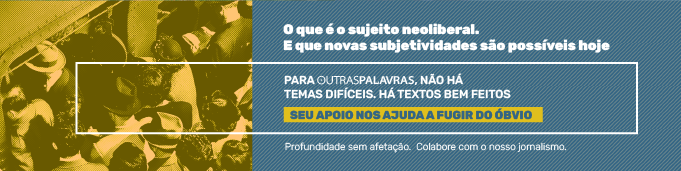

O PIOR FILME DA MINHA VIDA!
Oi, Victor,
Acredito que existem diversas maneiras de se analisar um filme, pondendo passar pela imanência, como você propõe, ou também por um olhar à recepção do filme. Não acredito que um método seja mais válido que o outro, são apenas duas perspectivas diferentes. Dito isto, logicamente nenhuma análise será objetiva, mas os dados mostram que O Cavalo de Turim foi um dos dez filmes com melhores notas da crítica francesa no ano de 2011, e também um dos dez maiores fracassos de público no mesmo ano. Pode-se chegar a conclusões diferentes a partir destes mesmos dados, mas seria difícil negar que os códigos do filme “de arte”, aqui levados ao extremo (em noção de ritmo, narrativa etc.) não despertaram a atenção do filme médio. Por fim, o artigo nunca nega o potencial criativo do filme, nem sua beleza ou sua relevância estética, como você aponta, mas apenas sugere que estes valores não são partilhados por todos os espectadores de cinema.
Tentar classificar um filme pelo público que o aprecia – esse é “filme de rico”, aquele é “filme de pobre”, esse é “para o espectador comum”, aquele “agrada somente a crítica especializada” é, ao mesmo tempo, o exercício mais impossível (como sondar a experiência de cada espectador?), o atalho mais curto para atacar a “crítica especializada” como um imenso monolito de burrice e esnobismo, e a maneira mais fácil de evitar aquele que sempre foi o trabalho primordial do crítico: prestar atenção aos detalhes da escrita cinematográfica, descrever as operações do filme e desvendar seus potenciais efeitos de sentido.
“Conservador e esnobe” é quem sentencia, com uma soberania autoritária, que o filme é “uma experiência insuportavelmente tediosa para o espectador comum”, ao invés de procurar oferecer uma leitura, de saída, particular, mas que parta do filme e ofereça a nós, leitores comuns, uma visada crítica e reflexiva legítima sobre a obra.
Enquanto continuarmos a evitar, na crítica, a matéria imanente dos filmes (tratando-a como um simples exercício diletante de estilo e ignorando seu potencial genuíno de experiência estética), seguiremos a confirmar os guetos e a confinar os espectadores em seus devidos lugares.