Assédio: por que as explicações fáceis não satisfazem
Não responsabilize apenas indivíduos, nem aceite saídas superficiais. Que tal rever relações entre “homem”, “mulher” e sexo?
Publicado 16/04/2014 às 15:47
Não responsabilize apenas indivíduos, nem aceite saídas superficiais, como vagões segregados. Que tal rever relações entre “homem”, “mulher” e sexo?
Por Marília Moschkovich | Imagem: Pieter Pietersz, Homem, Mulher e Roca
No meio de tanto debate sobre o assédio que as mulheres sofrem diariamente em espaços públicos – metrô, trens, praças, pontos de ônibus, na rua, entre outros –, uma questão tem passado batida. Curiosamente, é a única questão que nos permitirá pensar em soluções eficazes para esse tipo de problema: de onde vem o assédio? Por que o assédio acontece?
Nos comentários pela internet, a primeira resposta que encontramos trata o assédio como um problema individual do homem que assedia. “É um doente”, ou “é louco”, são as considerações mais comuns. Pois vejam, se esse fosse um problema individual, uma doença, um problema mental, será mesmo que teríamos tantos casos? Basta escutar as mulheres: dificilmente encontramos mulheres que nunca tenham sofrido nenhum tipo de assédio em nenhum tipo de espaço público. Se assediar é uma doença, então estamos diante de uma pandemia e o mundo está mesmo perdido. Não haveria solução, exceto internar em manicômios cada um dos homens que assedia – e provavelmente sobrariam livres muito poucos pra contar a história.
Esse raciocínio também é problemático porque tira do homem que assedia a responsabilidade por seus atos. Assim como quando se culpa as mulheres pelo estupro que sofrem, essa forma de pensar trata os homens como animais irracionais movidos a hormônios e estímulos das mulheres – o que não é verdade, além de pressupor uma heterossexualidade que em muitos casos não existe.
Um segundo ponto de vista joga a origem do assédio para a maneira como organizamos os espaços. É nisso que se baseia a ideia de um vagão exclusivo para mulheres, por exemplo. Segundo essa maneira de pensar, o problema do assédio é misturar homens e mulheres no mesmo espaço. Bastaria separá-los para garantir que isso não ocorra. Teríamos, no limite de tal argumento, que separar homens e mulheres para absolutamente tudo em todos os espaços. Ou confinar as mulheres em seus lares. Preciso mesmo continuar escrevendo pra que fique claro onde isso chega?
Por fim, outra visão, que em geral se aproxima um pouco dessa nos papos que acompanhei pela web, considera que esses assédios são comuns porque a população mais pobre não tem acesso à educação. Pensar isso é assumir que homens de classe média e alta não assediam (o que é mentira), e que não utilizam transporte público nem frequentam locais públicos (o que também é mentira). Pior ainda, essa ideia corrobora fortemente para a constante criminalização da pobreza que todos os dias é reforçada em nossa sociedade. O homem pobre – e negro – seria sempre um “perigo”, já que não teve acesso à educação formal. Se o mundo realmente funcionasse assim, seria incrível, não haveria nenhum tipo de assédio e violência sexual dentro de universidades. Só que a realidade nos mostra que não é bem por aí.
Se não é bem por aí, então é por onde? Se o problema não são os homens individualmente, nem os espaços públicos mistos, nem a falta de educação formal a uma parcela da população… então qual é o problema?
Bem, o problema está no conceito machista que sustentamos do que são “homens” e “mulheres”. Explico.
Há toda uma cultura em torno do que homens e mulheres podem e devem fazer em nossa sociedade. Todos e todas nós somos socializados com essas expectativas. Quando apreendemos, desde o nascimento, com base nas experiências concretas e reais, o que é “homem”, “mulher”, e em qual dessas categorias nos enquadramos, carregamos também, de brinde, uma carga de expectativas específicas para cada uma dessas identidades. Nos construímos, enquanto sujeitos, sobre essas expectativas. Entre as centenas de expectativas destinadas à categoria “homem”, por exemplo, a sexualidade como algo “instintivo” e “animal”, “incontrolável” é uma delas. Entre as centenas de expectativas destinadas à categoria “mulher”, por outro lado, a sexualidade é colocada como algo que se deve evitar.
Quando 26% de uma população entrevistada – não importa quem seja essa população, homens ou mulheres, nem se ela é a amostra estatística perfeita ou não – diz que as mulheres “merecem” ser estupradas caso essa sexualidade não seja “comportada”, é justamente por causa desse tipo de associação da nossa cultura. O estupro e o assédio não têm a ver com desejo sexual incontrolável. Têm a ver com um esquema de poder em que a própria sociedade/cultura cria dispositivos para manter as pessoas “na linha” (quem falou muito disso foi Michel Foucault – fica minha dica de leitura). O estupro ou assédio entendidos socialmente como uma “punição” são o desenho mais óbvio disso. Quer dizer: é toda uma mentalidade que precisa ser trabalhada, e sobretudo uma relação com a sexualidade que precisa ser revista. Enquanto sociedade, lidamos muito mal com isso.
Há uma outra questão nesse “fundo”: é a maneira como nós construímos instruções de como podemos e devemos nos relacionar (entre homens e mulheres). Uma antropóloga muito interessante, chamada Gayle Rubin, propôs nos anos 1970 que para acabar a opressão de gênero seria preciso revolucionar o parentesco. Isso quer dizer que, quando nascemos, já nascemos numa sociedade cheia de esquemas, estruturas, divisões, instituições. Apreendemos conceitos sobre a vida a partir disso, e construímos nossa visão de mundo. Um dos esquemas mais basilares que apreendemos logo ao nascer vem justamente da família. A visão jurídica sobre a família no Brasil reflete precisamente as relações que podemos chamar de parentesco – dito de maneira muito simplificada: que “categorias” têm poder sobre que outras “categorias”. Assim, por exemplo, não precisamos pensar muito para compreender que “pai” é uma categoria que dispõe de poder sobre “filho”. Da mesma maneira, nesse sistema, “marido” dispõe de poder sobre “esposa” (um exemplo é a tradicional mudança de sobrenome das mulheres, que “circulam” entre famílias como se fossem bens – é o que a Gayle Rubin diz, comentando um outro importante antropólogo chamado Lévi-Strauss). Podemos dizer que entre as coisas mais imediatas que aprendemos assim que chegamos no mundo, está o poder dos homens sobre as mulheres (já que o que faz um ser humano ocupar categoria “marido” ou “esposa” é essa classificação em “homem” ou “mulher”).
Todo tipo de assédio e violência machista baseia-se exatamente nesse esquema. Criamos e sustentamos uma hierarquia (e portanto uma divisão desigual de poder) entre homens e mulheres todos os dias, sem sequer notarmos. É preciso muita atenção para romper com essas pré-noções que inclusive utilizamos para nos construirmos enquanto seres humanos, homens e mulheres, nesta sociedade, neste tempo histórico, nesta cultura.
Isso não significa que não seja possível pensar, a curto e médio prazo, estratégias e políticas emergenciais para reduzir a frequência do assédio em espaços públicos. Significa que mesmo essas estratégias precisam partir da desconstrução de hierarquias entre homens e mulheres – e sobretudo da desconstrução de estereótipos sobre esses grupos – se tiverem por objetivo resolver alguma coisa. Pensadas dessa maneira, de quebra, ainda colaboram a longo prazo para que esses estereótipos caiam por terra, possibilitando uma sociedade mais justa e igualitária.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



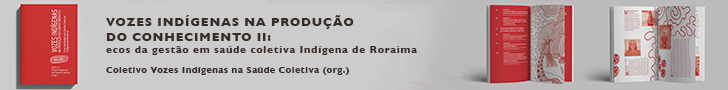
Ótimo!
Texto fraco. A autora propõe uma discussão mais profunda sobre o tema e, no entanto, oferece uma explicação rasa. Primeiro porque limita a uma as diversas causas que influem para a ocorrência do problema e segundo porque invalida considerações divergentes com argumentos falaciosos. Exemplo disso se encontra na passagem em que a autora “invalida” a relação entre os assédios e a má qualidade da educação pública sob o argumento de que, se tal relação de fato existisse, não haveriam casos de assédio nas classes alta e média. Ora, ninguém duvida da relação entre violência e miséria e os índices de homicídios nas classes mais elevadas não precisam ser reduzidos à zero para que essa relação seja verdadeira. Isto porque, como afirmei, a conduta violenta ou criminosa não é determinada por um único elemento, mas por uma pluralidade de vetores que convergem para a ocorrência do ato. Assim sendo, não está incorreta a suposição de que uma melhoria na educação poderia ser um caminho para se solucionar, ou ao menos reduizr o problema em debate, afinal, ao se eliminar os fatores que determinam a concretização de um crime, diminui-se paulatinamente a sua incidência.
A autora ainda piora, quando afirma que o reconhecimento da mà educação enquanto fenômeno que contribui para o problema tem como consequência necessária uma política de criminalização da pobreza. A falácia aqui é dupla: primeiro porque as consequências sociais negativas frutos de interpretações equivocadas de uma tese não necessariamente a invalidam. Seria o mesmo que dizer que o evolucionismo deve estar errado simplesmente porque foi utilizado para justificar praticas relacionadas à eugenia. Depois, é muita presunção da autora supor que a população não tenha capacidade de discernir a pessoa pobre em si da condição a que ela está submetida, esta sim degradante. De modo que a relação causa-e-efeito entre o reconhecimento da baixa qualidade da educação publica como elemento que influencia na incidência dos assédios (causa) e a crminalização da pobreza (efeito) não é verdadeira.
Muito bom, obrigada por compartilhar seus conhecimentos que favorecem uma discussão clara sem divindades no meio em q a discussão serve tanto para os homens reverem o seu papel quanto para mulheres entenderem que a luta não é fácil. … obrigada!