A testa enrugada da lei e o olho da rua
Num romance finalmente publicado no Brasil, Robert Walser realça apreensões atualíssimas e contraditórias: não conseguir trabalho e sofrer com ele
Publicado 07/06/2011 às 20:38
Por Priscila Figueiredo*, colaboradora de Outras Palavras
“Usar uniforme é algo que, a um só tempo, nos humilha e enobrece. Parecemos pessoas privadas de liberdade, o que talvez constitua humilhação, mas ficamos bem de uniforme, e isso nos distancia da vergonha profunda dos que andam por aí em trajes mais que próprios e no entanto sujos e esfarrapados. (…) Talvez abrigue um ser humano bastante vulgar. Ou talvez corra sangue aristocrático em minhas veias. Não sei. De uma coisa tenho certeza: no futuro, o que vou ser é um zero à esquerda, muito redondo e encantador. Na velhice, terei de servir a jovens grosseirões, arrogantes e mal-educados; do contrário, vou precisar mendigar para não perecer.”
Este é Jacob von Gunten, narrador do romance de mesmo nome de Robert Walser, que o escreveu em 1908 e que apenas agora chega ao Brasil, pela Companhia das Letras, em tradução muito viva de Sérgio Telarolli. Suíço originário de Biel, cantão de Berna, região de língua alemã, Walser viria a se tornar de fato um zero à esquerda, comendo o pão que o diabo amassou entre trabalhos e bicos de todo tipo, inúmeras mudanças de casa e peregrinações, até poder largar o corpo em uma instituição psiquiátrica, primeiro em Berna, depois em Herisau, onde ficou por 24 anos até morrer. A iniciativa da internação teria partido de sua irmã, assustada com o estado mental do irmão, cada vez mais isolado e decerto mais parecido com a mãe, depressiva crônica, e dois outros irmãos, um dos quais tinha se suicidado. Walser tinha crises de insônia, grandes ataques de ansiedade e tornava-se especialmente agressivo depois de beber. Isso veio a prejudicar bastante suas relações nos círculos intelectuais alemães dos quais teve inicialmente um reconhecimento expressivo. Entre eles, faltava-lhe urbanidade, e seu provincianismo ficava evidente. Entre seus vizinhos suíços provincianos e pequeno-burgueses, no entanto, devia se sentir um tanto oprimido e estranho.
O trecho acima do livro, que seria como o diário do aluno mais astuto e ao mesmo tempo mais insolente do Instituto Benjamenta, escola de formação de empregados domésticos (Walser de fato passara por um desses em Berlim), apanha muitas de suas ambivalências, de que o livro inteiro desenvolve um vocabulário variado. O uniforme, como o aprendizado na escola, é humilhante, mas é garantia de menos humilhação: Jacob sabe de antemão que não está destinado a uma carreira grandiosa, de sucesso, que seu teatro social não vai se desenrolar no centro dos salões, mas nos corredores, junto às portas, nos cantos, entre os cômodos, isto é, seu teatro é o dos criados. Se algumas vezes pode estar no centro da vida mundana (pela mão de seu irmão, este, sim, bem-sucedido) é como ator que engana os atores da sociedade, os arrivistas, que por um momento chegam a pensar que ele é um deles. Talvez porque, como diz, embora sem convicção, ele traga sangue aristocrático nas veias. Isso não é certo, porém. Talvez Jacob, com seu talento mimético, tenha podido assimilar alguns gestos aristocráticos apenas para não parecer tão plebeu. Ou apenas para se proteger um pouco, pois sabe bem como os vira-latas são tratados.
O uniforme protege, é garantia de que ao menos se está livre da vergonha absoluta dos miseráveis, os inempregáveis, no jargão de hoje. O medo da miséria, das “catacumbas e corredores da pobreza e da humilhação” (como diz numa das passagens mais belas e terríveis do livro) ronda cada um dos alunos, e, assim como o uniforme, o instituto, apesar de seus métodos tolos e emburrecedores, igualmente humilhantes, também é uma espécie de defesa. Embora todos estejam à espera (espera por vezes ociosa, cheia de sonolência, vazio e autocorrosão, que estaria pouco depois no centro de alguns dos importantes romances do século 20, como A montanha mágicae O deserto dos tártaros, espera de uma boa colocação, no caso, não é difícil que algum deles possa abandoná-la e retornar à casa pedagógica, onde as dificuldades e decepções se mostram, em retrospecto, menores que as do mundo.
O Instituto é claramente contraposto à vida e lá tudo é descrito como meio petrificado, meio desumanizado. Ainda assim, os medos produzidos pelo mundo do trabalho (e nesse caso de um trabalho, como o doméstico, em que se está muito mais sujeito aos caprichos de uma autoridade fisicamente mais próxima) fazem Jacob adiar bastante a sua saída de lá. Em certo sentido, ele não sai. Apesar de sua divisão interior, admiração sincera à servidão mais completa e humilde e tendência reflexiva (“pensar é resistir, o que é sempre muito feio e desagregador”), ou talvez por causa dessa divisão, que nos faz rir muito na verdade, de algum modo ele consegue desencantar os poderes dos Benjamenta, os donos da escola, que no início o amedrontam, sobretudo o homem, como um bicho-papão a uma criancinha. Ele consegue ainda, diferentemente dos personagens de Kafka, romper a rede de idealizações e imaginações que cercam o centro do poder, descobrir o segredo de seu gesto caprichoso e de seu olhar distante, tornando-o algo próximo, não tão aflitivo. Ao menos em relação ao diretor ele consegue isso –logo, é como se ele pensasse que é melhor ficar por aqui mesmo, junto a um poder pequeno mas decifrado. Não que a diferença social seja suprimida, não que as cóleras do seu patrão deixem de apavorá-lo; acostumar-se com elas, contudo, já é alguma coisa; e pôde se desenvolver aqui uma relação de dependência mútua, com admiração e ternura recíprocas –é verdade também que com uns tabefes de vez em quando vindos do gigante e uns desaforos sem consequências da parte do anão. É como se este achasse um jeito de se aprumar nessa sociabilidade de tipo ainda paternalista, não obstante sua imaginação e suas leituras do socialismo (referidas no romance anterior, O ajudante) desarranjem um pouquinho a plena subserviência.
Muito de sua dubiedade, entre a servidão voluntária e a fumaça revolucionária, tem o gene daquele tipo de personagem produzido pela literatura alemã, primeiro com o Iluminismo e depois com a Revolução Francesa, e que tantas vezes se confunde com o próprio escritor que o concebeu: um homem culto, pequeno-burguês, entusiasmado com as profundas transformações sociais no país vizinho, entusiasmado com a carreira de um homem comum, plebeu, como Napoleão Bonaparte, mas na verdade de mãos atadas no contexto ainda feudal e socialmente estratificado de seu país. Walser, pode-se perguntar no entanto, não era suíço, e a Suíça não teria desenvolvido uma democracia muito antes da Alemanha? Talvez de Walser se possa dizer o que Lukács disse de Gottfried Keller, de Zurique, a quem incluiu em sua obra Realistas alemães do século 19: “Ele era um escritor alemão do mesmo modo que o genebrino Rousseau era um escritor francês”.
Jacob Von Gunten, mais ainda que O ajudante, também traduzido entre nós (editora Arx, 2003), e talvez mais que por sua prosa curta, não traduzida, vemos claramente a influência tão comentada sobre Kafka. Walter Benjamin, que escreveu sobre ambos os autores, observou ser a obra inteira deste último um catálogo de gestos, tal como aquele que se desenrola no teatro da natureza de Oklahoma em America e no qual, à semelhança do teatro chinês, a ação é dissolvida no elemento gestual. Em Walser parece que estamos no começo dessa dissolução em gesto: “Depois, toquei a campainha, e uma criatura simiesca abriu-me a porta. Era Kraus. Naquele momento, tomei-o simplesmente por um macaco”, “os senhores educadores e professores estão ou dormindo ou mortos; ou parecem estar mortos, ou petrificados”, “Fiz uma profunda reverência, quase até o chão, ante a criatura que já não me dedicava atenção nenhuma”, “sempre enfureço um pouquinho a testa enrugada da lei; depois, tento acalmá-la”, “Bastante divertidas são nossas orelhas. Elas mal ousam ouvir com atenção. Sempre se contraem um pouco, receosas de que alguém as puxe de repente, por trás, em sinal de advertência”, “O Sr. Benjamenta é um gigante, e nós, pupilos, somos anões (…)”, “Depois, rastejei de volta para o instituto e para o meu uniforme de pupilo”. Nossa atenção é conduzida da ação, mais abstrata, para uma imagem bastante concreta, como num close-up: testa enrugada, orelhas um pouco contraídas, macaco. A percepção do leitor retém a sobrancelha levantada, a gesticulação de um chimpanzé, o rastejar de um lagarto, as orelhas meio caninas dos alunos, a mágica desproporção física de um gigante, ainda que o mundo em questão não seja mítico ou mágico, não seja um mundo com seres híbridos, em que seres humanos podem virar coisas, animais… Não será mesmo? O efeito final da escrita produz essa dúvida no centro da representação de um ambiente na verdade bastante convencional.
O que são essas rugas, essas mineralizações das ações? Quando ele fala em “testa enrugada da lei” vejo nessa testa não só as rugas da autoridade que ele insulta às vezes, nuns arroubos de revolução, como ele mesmo diz, mas os sinais de pânico no rosto e no corpo de quem está submetido a ela. A expressão sintetiza o temor primitivo de ambos os lados: o de perder a autoridade e o de ser engolido por ela. Esse romance talvez seja, como nenhum outro de que me lembro, um catálogo de apreensões e profundas inseguranças, a começar pelo receio de não conseguir trabalho, “colocação”, e o receio de, tendo-o, não suportá-lo, por excessivo ou por psicologicamente opressor. Pois é preciso lembrar que nessa época ainda não havia se constituído na Europa a rede de proteção que caracterizaria o Estado de Bem-Estar Social nos países capitalistas, consolidado no início da Guerra Fria, no fim da qual se inicia o processo de seu desmonte, nitidamente acelerado em certas paragens com, ou sob o pretexto, da crise financeira de 2008 – os 40% de desemprego entre os jovens na Espanha, as reformas da previdência, o aumento de horas de trabalho etc. que o digam. O medo do olho da rua e da miséria – e o medo de mais pressão e capricho no mundo do trabalho – parece que se alastra. Por aí já se nota o quanto essa obra nos serve neste momento.
–
Priscila Figueiredo é poeta e ensaísta. Tem graduação em alemão e português na USP, onde faz o pós-doutorado na área de Teoria Literária. É autora de Em busca do inespecífico (ed. Nankin, 2001) e Mateus (editora Bem-te-vi).
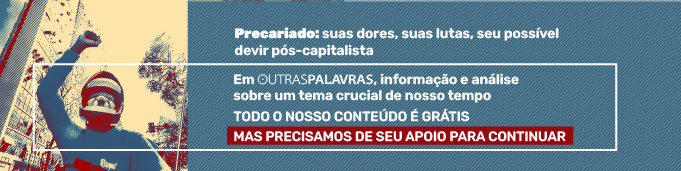
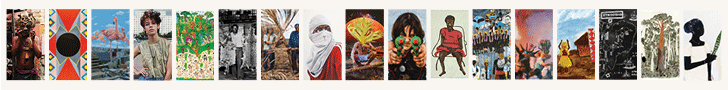

Estupendo texto e ótima ilustração!