Metáforas do vírus
Em Susan Sontag, formas saudáveis de ficar doente: rebelar-se contra superficialidade diante dos mortos. Evitar discursos biomédicos e a glamourização. Afinal, as palavras também são contagiosas — como sabem bolsonaros e trumps…
Publicado 18/05/2020 às 19:13 - Atualizado 18/05/2020 às 19:20

Ilustração de uma rua durante a Grande Praga em Londres, 1665, com um carrinho da morte e pessoas em luta
Os sentimentos relacionados com o mal são projetados numa doença. E a doença (assim enriquecida de significados) é projetada no mundo.
Susan Sontag, A doença como metáfora.
Aqui os anti-heróis não são tarabagans, nem ratos. Não que não estejam, mas chegam de outro modo. Esta doença também revela sintomas esteticamente mais fracos do que nos clássicos romances da morte em massa: escaras, membros inchados, hemorragia, ínguas de sangue azulado. Mas a mudança de cenário não impede a fabricação de palavras apodrecidas pelos mesmos gases. Como demonstra a história, bastam alguns micróbios invadindo a circulação, encalhando em uma usina qualquer e pronto, está feito o estrago. Deixam de presente só uma caveira medieval, que é tanto a sua quanto a minha. No íntimo sabemos que cada geração fabrica, inclusive a nossa – com as tintas que tem – uma natureza morta. São as Vanitas que nos pertencem e nós as amamos: livro, crânio, ampulheta, uma taça entornada, esta pedra corroída e um vaso de flores prestes a murchar. Pode-se tranquilamente acrescentar à tela um iPad e o adesivo de uma maçã mordida.
Pelo que a filosofia revela das nossas paixões, o medo do Yersinia pestis à varíola à tifo à tuberculose à grippe à aids ao ebola ao câncer é essencialmente o mesmo. Ou a gente queima semitas e feiticeiras, ou flagela as próprias costas. Dadas as devidas proporções históricas e licenças poéticas, por suposto. E se na praga de Justiniano identificamo-nos plenamente com soldados romanos do século VI, nas novelas de Boccacio somos a aristocracia florentina do século XIV, dançando bêbada com cadáveres sensuais. Quem nunca? No diário meio fake de Daniel Defoe, não passamos de comerciantes ingleses na fétida City do século XVII. Somos por um instante este John que morre engasgado no próprio sangue e ainda tem que entregar, no dia seguinte, pelas mãos da viúva, o seu melhor cavalo. Até os Estados liberais mais modernos têm o seu Heriot, um imposto qualquer sobre a morte.
Se mudou muito? Mudou. Mas vejamos, a sociedade informatizada, com toda a tecnologia biomédica desenvolvida nos últimos cento e cinquenta anos (de Louis Pasteur a Oswaldo Cruz a Bonaventura Clotet), quando detecta alterações genéticas numa cepa de vírus da gripe aviária, toca fogo no galinheiro. Ufa! Para aftosa, uma hecatombe humanizada. Nem mais um pio. Nem um muuuu. Só que de tempos em tempos não dá, inevitável, algo escapa, os bichos são ardilosos. De um segundo pra outro os besteróis de zumbis e chupacabras podem começar a fazer mais sentido. Você sabe, uma boca também é um tipo de cova e um tipo de monstro. Uma hora ficamos presos pela língua nessa ratoeira que provavelmente ajudamos a construir. E o que nos resta é lavar as mãos.
Viralidade: a idade do vírus não é sempre a nossa? Mas nós mal sabemos o que ele é, o vírus. Não há palavras precisas para descrever o que ele é; logo, por constrangimento, inventa-se uma resposta franca e tautológica: “um vírus é um vírus”. Isso não é verdade. Muitas palavras são infecciosas. O que fazer? Bem, podemos macerar um composto de hortelã, cravo e capim-limão para enfiar no bico do corvo (outra utilidade para a máscara de carnaval) como faziam os “cirurgiões da peste”. Evita odores desagradáveis. Porque aquele morto insepulto não cansa de afirmar, com extrema eloquência, os sofisticados aromas da decomposição.
Nós não sabemos o que “somos nós”, tampouco. Mas o fato é que, enquanto são apenas os vizinhos que morrem, o cheiro é literário. Sabemos que um avô expira entubado na UTI da Santa Casa, mas a maior parte da audiência prefere imaginar o porteiro de Orã segurando um rato preto pelas patas. A imaginação não é moral nem imoral. E vamos!, não se pode negar que um dos passatempos preferidos da humanidade tem sido observar como os outros morrem. Das bruxas na fogueira da inquisição espanhola à guilhotina à cadeira elétrica asséptica dos americanos, ao motoqueiro coberto de lona à beira de uma rodovia do Terceiro Mundo. Não que isso signifique apenas maldade ou estupidez. Há muitos que se reconhecem no rosto do defunto, outros que vão a velórios para enterrar a si próprios, aos poucos, até chegar de fato a sua vez.
Substituímos o prazer em ver leões destroçando guerreiros nos estádios, sim, e criamos regras bastante rígidas para o futebol. Mas mesmo assim, de vez em quando os visigodos se enfrentam. Um craque quebra a perna. Substituímos a aura e a lâmina do matadouro sacrificial por dispositivos antiempaque e pistolas de pressão; o cepo de madeira por azulejos brancos, com traquitanas desinfetadas. Começa o desmonte: chifres serrados, patas e rabo cortados, couro extraído e abdômen aberto para separação das vísceras. O resultado é o mesmo. Mas uma coisa é certa: na Alta Idade Média, morreram menos famílias de ferreiros do que famílias de açougueiros, pois, ao que parece, o Rattus rattus não gosta de ferro com ferro. Gosta de carnes moles. A condição sanitária é, ainda, um dos componentes determinantes do contágio.
Pandemias são indissociáveis, historicamente, dos processos de alteração do meio ambiente. Foram os portos e as novas rotas comerciais (como são os aeroportos, hoje) que transformaram endemias controláveis em epidemias devastadoras. É o caso das pulgas da Peste Negra ao desembarcarem no porto de Gênova, atrás de gente desnutrida; matéria-prima que não estava em falta. Ainda não está. Nesses dias tenho lido muito, inclusive poemas e romances, que ajudam a entender aspectos importantes das epidemias ao longo da história. E o que estas ficções (as melhores, ao menos) parecem dizer é que não existe nada mais contra a própria literatura do que dar um verniz à catástrofe, ao sofrimento. Este vírus, além do mais, não está absolutamente do nosso lado. Ele não iguala a sociedade, apesar da aparente homogeneização comportamental. Não é comunista: é racista, é classista. Mata muito menos gente no Morumbi do que na Brasilândia. Fosse comunista, a varíola não teria exterminado os Goytacá.
Os processos de produção e distribuição de patógenos em massa estiveram ligados a projetos de expansão e colonização bem diferentes, do imperador bizantino Justiniano (primeira pandemia de Yersinia pestis) a Xi Jinping, Donald Trump et caterva (Covid-19). Sobre isso, leia-se Big Farms Make Big Flu, de Rob Wallace; e também Contágio Social: coronavírus e a luta de classes microbiológica na China, do Coletivo Chuang. – E daí?, “eu não sou coveiro”, disse o presidente do Brasil. Mas não é só isso o que ele disse. A linguagem da política institucional é uma linguagem infecto-contagiosa – uma linguagem essencialmente viral. William Burroughs disse isso antes mesmo que os líderes começassem a governar pelo Twitter: Language is a virus (…). Hoje, mais do que nunca, é pelas redes intrincadas da web e deepweb que as palavras circulam, engordando equações de Big Data. Que tenham oferecido máscaras com design vintage para combater o vírus, já não é novidade. Irmã moda, Irmã morte. Mas podem ter oferecido também aquilo com o que você sonhou na noite de ontem.
Ailton Krenak disse, bem antes de eclodir esta última pandemia: “É preciso adiar o fim do mundo para contar mais história”. E o Eduardo Viveiros de Castro cunhou esta bela frase de efeito: “O chocalho do xamã é um acelerador de partículas”. Com ou sem pandemia, a linguagem é a única tecnologia sem a qual não há, para nós, mundo possível. Não tem “fora”. Mas existem furos. Bordas, barrancos (significados) que estão sempre erodindo na linguagem: limens. A linguagem da doença é viral (como a própria doença). E sem dúvida é viral a linguagem publicitária, por trás da inteligência artificial; como é viral a linguagem do poder – essa doença da linguagem. As artes, a poesia e a literatura também podem ser (e muitas vezes são) doentias, submetidas a vários poderes mesquinhos, “contagiantes”, e quanto mais se pretendem puras ou revolucionárias, mais próximas de evocar o magarefe terceirizado. E agora?
Não sei. Encontro algum socorro no belo livro “A doença como metáfora”, da Susan Sontag, texto que se insurge contra uma atitude superficial diante da doença, da morte e dos mortos. É preciso não se tornar refém dos automatismos de espectador, do luto anestésico, dos discursos biomédicos (quase militares) da morte, do tempo ao qual as doenças parecem nos condicionar contra a nossa vontade. Quando dizemos que algo terrível “é um câncer”, atribuímos um peso à palavra. Do mesmo modo, sobressai a violência quando alguém diz que fulano está tão magro que até parece “aidético”. Sabemos quem o presidente dos EUA está querendo contagiar, ao repetir incessantemente que se trata agora de um chinese virus. As políticas migratórias já mudaram e, talvez, por muito tempo.
Por outro lado, a estetização e a glamourização de uma doença também são uma constante ameaça. Porque produzem uma certa mutação e replicação de estereótipos, que levam a outras formas de enquadramento social. Podemos lembrar, mais uma vez com Sontag, que a moda feminina do século XX, “com seu culto pela magreza, é o ultimo baluarte das metáforas conexas com a romantização da tuberculose em fins do século XVIII e princípios do século XIX.” A verdade é que ainda não sabemos em que medida o regime estético do presente será afetado pelo coronavírus, para além do uso de máscaras, que até ontem enfeitavam (em séries viralizantes da Amazon ou da Netflix) o cenário de uma distopia asiática.
Não seria possível encontrar um destino poético às revoltas individuais dos que hoje estão fechados em casa (na melhor das hipóteses), com seus dramas particulares, sua fragilidade, seus medos e seu sentimento de impotência? Talvez sim. De qualquer modo, são muitas as ferramentas (palavras, palavras) que nos oferecem o tempo todo para envernizar e ornamentar o matadouro. Contra elas, escreve Sontag: “Meu ponto de vista é que a doença não é uma metáfora e que a maneira mais honesta de encará-la – e a mais saudável de ficar doente – é aquela que esteja mais depurada de pensamentos metafóricos, que seja mais resistente a tais pensamentos.” Hoje, temos a obrigação de pensar em todas as formas de contágio. O vírus não é transmitido apenas por gotículas de saliva, mas também pelas palavras. A palavra metáfora vem do grego μεταφορά, que significa transferência, mudança, transporte. O que nos leva de novo ao início: metáforas do vírus.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


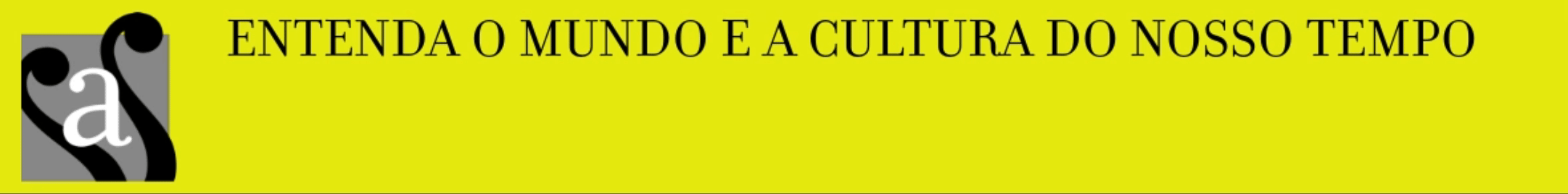
Tornei-me um dos seus admiradores, professor. Há muito!
Mergulhado em fontes históricas, aproximou a nossa história atual.da passada, e é possível sentir todo mal estar no corpo físico como se estivéssemos doentes. E talvez estejamos mesmo, cegos , fingindo não enxergar o que tanto é feio e já cheira mal. Sua escrita é visceral.
Obrigada por proporcionar-nos essa leitura. Cuide -se.
Excelente reflexão. Adorei. Obrigada.