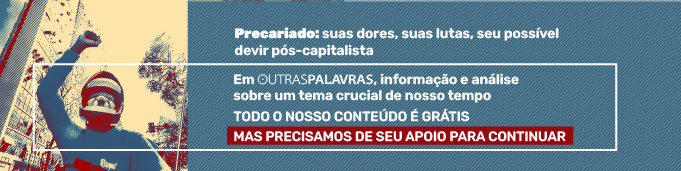Cinema: Um épico da formação do Brasil moderno
Em Todos os mortos, uma família de cafeicultores encontra-se, numa São Paulo que se urbaniza, com sua ex-escravizada. Sob o drama familiar, feridas históricas: o fim recente da escravidão, a infância da República e a aurora do século 20
Publicado 17/09/2020 às 13:38 - Atualizado 17/09/2020 às 13:48

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema do Instituto Moreira Salles
Em sua 48ª edição, o Festival de Cinema de Gramado, que começa nesta sexta-feira, terá suas mostras competitivas exibidas pela TV, no Canal Brasil, e pela internet, na plataforma de streaming do canal.
Na robusta programação, entre curtas e longas-metragens brasileiros e latino-americanos, estão os novos filmes de Ruy Guerra (Aos pedaços), Felipe Bragança (Um animal amarelo), Camilo Cavalcante (King Kong en Asunción), Angela Zoé (O samba é primo do jazz), Joana Mariani (Me chama que eu vou), Cibele Amaral (Por que você não chora?) e da dupla Marco Dutra e Caetano Gotardo (Todos os mortos). É deste último, programado para sábado (19/9), que vamos tratar aqui. Voltaremos a falar do festival na próxima semana.
Pelo título e pela filmografia pregressa de Marco Dutra (Trabalhar cansa, Quando eu era vivo, As boas maneiras), seria lógico esperar que Todos os mortos fosse um filme de terror. É e não é. O elemento fantástico só intervém no final, e mais como alegoria do que como fenômeno sobrenatural. O horror que o filme aborda é mais insidioso: trata-se da nossa (de)formação social e seus fantasmas onipresentes.
A história se passa em São Paulo na virada do século XIX para o XX, mais precisamente nos meses finais de 1899 e iniciais de 1900. As trajetórias de duas famílias se entrelaçam. A matriarca Isabel (Thaia Perez), ex-senhora de escravos numa fazenda de café vendida depois para imigrantes italianos, mora na cidade com uma filha adulta, Ana (Carolina Bianchi), que toca piano e tem um comportamento estranho e introspectivo. A outra filha, Maria (Clarissa Kiste), virou freira e vive num convento, visitando a família nos feriados – e a narrativa toda se dá em torno de feriados (Independência, República, Natal, Carnaval).
Ritual fake
Convencida de que a esquisitice de Ana provém de um trauma vivido na infância na fazenda, a freira Maria vai ao interior buscar a ex-escrava Iná (Mawusi Tulani), praticante de uma religião de origem africana, para que esta encene um ritual de descarrego. Não precisa ser “de verdade”, mas apenas um teatro para sugestionar a irmã e livrá-la da perturbação. Macumba para turista, ou, mais exatamente, para a sinhazinha branca.
A contragosto, Iná aceita a incumbência, vem para São Paulo com o filho pré-adolescente, João (Agyei Augusto), e acaba ficando. Mãe e filho arranjam pequenos trabalhos e ao mesmo tempo buscam o pai de João, que veio anos antes procurar emprego e sumiu na metrópole florescente.
Impossível (e indesejável) resumir aqui todos os temas que a narrativa enfeixa a partir dessa situação, do “racismo cordial” brasileiro à edificação torta de uma cidade como São Paulo, da sucessão de imigrações à formação de um subproletariado urbano, da hipocrisia moral da família tradicional à solidão reservada aos que têm um comportamento discordante da norma.
Se a narrativa parece em alguns momentos prestes a perder o foco, dada a profusão de fios de interesse, dois eixos seguros se mantêm: de um lado, a obsessão da personagem Ana em enterrar no jardim da casa tudo aquilo que a atormenta (cartas do pai, roupas “maculadas”, etc.); de outro, o encanto do menino João em descobrir todos os rios que correm pela cidade, inclusive os já poluídos: um olho concentrado na procura pelo pai, o outro aberto às maravilhas de um mundo novo. (A ironia extrafílmica é que muitos dos rios paulistanos hoje também estão soterrados.)
É desses movimentos opostos que o filme extrai sua tensão e sua força: um desejo de sepultamento e uma pulsão de descoberta, fluência, renovação. Digamos, forçando um pouco a barra, que são duas atitudes possíveis diante de um passado histórico trágico que ainda nos assombra (porque persiste sob outras formas): enterrar os fantasmas no quintal ou encará-los como peças em jogo, passíveis de transformação. Neste caso descobrir, como o pequeno João, a persistência do ancestral no seio do moderno.
A força da música
Algumas situações estimulam a imaginar continuações possíveis. Por exemplo: esboça-se a certa altura o aprendizado de música do menino negro no piano da patroa branca – e, por extensão, a mistura da música europeia com ritmos africanos. No filme, a promessa é abortada bruscamente. Mas não foi essa, de certa maneira, a história da origem do chorinho, do samba e de outros gêneros musicais brasileiros?
Por falar em música, paixão constante dos dois diretores, há no filme uma bela homenagem à grande cantora Alaíde Costa, a primeira figura que aparece em cena, no papel da velha Josefina, uma ex-escrava que concilia o trabalho e o cultivo da beleza, seja na música ou nas artes manuais. E as cenas de batuque, dança e cantoria são envolventes.
A circunscrição da trama num marco temporal tão significativo (fim recente da escravidão, infância da República, aurora do século 20), abordando tantas linhas de força históricas, sugere um épico condensado em crônica familiar – um “épico de câmara”, por assim dizer, no sentido em que o 1900 de Bertolucci seria um épico sinfônico. Um filme que certamente dará o que falar, em Gramado e em toda parte.
Diretoras
Uma última dica. Acabam de ser lançados dois filmes brasileiros poderosos dirigidos por mulheres.
Três verões, de Sandra Kogut, está no Telecine Play, Now, Vivo Play e Oi Play. Falei dele quando passou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2019.
Aos olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo, também abordado brevemente, entra em cartaz em drive-ins pelo país afora e nas plataformas Net Now, Vivo Play e Oi Play pelo Canal Brasil.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras