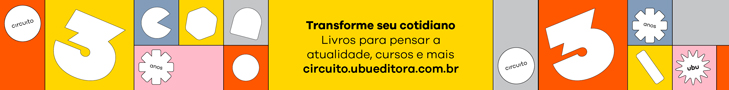Cinema: Paranoias de um apátrida
Em Synonymes, de Nadav Lapid, um perturbado judeu recém-chegado a Paris. As memórias do serviço militar, o cursinho para cidadania francesa, a recusa em falar hebraico. Em esquetes surreais, ele percorre as ruas de uma metrópole estilhaçada
Publicado 19/12/2019 às 15:02 - Atualizado 10/07/2020 às 12:08

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema do Instituto Moreira Salles
Não é todo dia que um filme renova em nós a crença nas infinitas potencialidades criativas do cinema. Salvo engano, é o caso de Synonymes, realizado em Paris pelo israelense Nadav Lapid, ganhador do Urso de Ouro e do prêmio da crítica no festival de Berlim.
Vemos, de início, um jovem chegar com sua mochila a um amplo apartamento parisiense totalmente vazio de seres e mobília. Corta para o dia seguinte. Ele sai de seu saco de dormir, se despe e entra na banheira para um banho quente. Ao sair do banheiro, constata que roubaram sua mochila, suas roupas, tudo. Nu e trêmulo de frio, ele sai à rua na vã esperança de surpreender o ladrão (aos olhos brasileiros salta a lembrança do filme O homem nu). O rapaz volta correndo para a banheira, mas desfalece de hipotermia. Um jovem casal, vizinho de apartamento, o encontra ali, semimorto.
Condição do apátrida
A descrição um tanto longa é para dizer que nessa inusitada sequência inicial, que dura poucos minutos, estão contidos em grande parte, como num casulo ou embrião, não só o sentido fundamental do filme como sua estratégia de exposição. Um corpo nu – que só supomos ser de um homem judeu por causa do pênis circunciso – perdido numa grande cidade do mundo: a imagem mais essencial possível da condição do apátrida.
Synonymes, de certa forma, é o desenvolvimento dessa condição básica em diferentes situações, crescentemente complexas – num movimento análogo ao do protagonista, Yoav (Tom Mercier), recém-chegado de Israel, que para se familiarizar com a língua francesa vai desfilando sinônimos das palavras que aprende, com a ajuda de um dicionário. Yoav se nega a falar hebraico com seus compatriotas, e até mesmo na embaixada de Israel, onde vai trabalhar como segurança. Quer se tornar francês na marra, por meio da língua.
Essa identidade pessoal instável se traduz ou se concretiza na própria estrutura narrativa do filme, ela própria oscilante, estilhaçada, dando a impressão de se reinventar a cada nova sequência. Tudo é narrado do ponto de vista de Yoav, mas se trata de um narrador não confiável, dado à fantasia e à fabulação – ou mentalmente perturbado –, de tal maneira que a certa altura o espectador já não sabe ao certo o que é “real” e o que é delírio do protagonista. Suas memórias do serviço militar em Israel são tingidas de ficção, como pequenos contos que “transbordam” para seus dias em Paris.
Na capital francesa, os episódios têm sempre algum grau de absurdo, ainda que partindo de situações verossímeis: o ensaio ou filmagem de um vídeo pornô, conspirações de um grupo judeu antinazista, uma rebelião na embaixada, o surto de Yoav num concerto de música de câmara, seu estranho triângulo amoroso com os vizinhos salvadores etc.
Aprendiz de cidadão
Há uma sequência particularmente perturbadora: numa espécie de cursinho para aspirantes à cidadania francesa, em que a professora exalta a laicidade e a tolerância como valores fundamentais da república, os alunos são convocados a declamar ou cantar a letra do hino nacional. É ao mesmo tempo cômico e trágico ver aqueles imigrantes oriundos da África, da Ásia e do Oriente Médio recitarem o verso da Marselhesa que diz: “O sangue impuro regará a nossa terra”. Do ponto de vista francês, o “sangue impuro” é o deles.
Do mesmo modo, os limites da tão exaltada fraternité são questionados pelo desenvolvimento das relações de Yoav com o casal que o acolheu (Louise Chevillotte e Quentin Dolmaire).
Entre um e outro desses pequenos esquetes mais ou menos surreais, Yoav corre desatinado pelas ruas de Paris, acompanhado por uma nervosa câmera na mão, muitas vezes com a velocidade de exposição alterada, o que intensifica a sensação de instabilidade e perigo. Em certos momentos, o que parecia ser a visão pessoal de Yoav se revela uma falsa câmera subjetiva, ao incluir o próprio personagem no quadro. A ideia de narrador não-confiável se estende à própria câmera e seu manuseio.
Nada disso talvez funcionasse com tanta força se não fosse a atuação também inusitada do jovem Tom Mercier, que compõe uma figura enigmática, impenetrável, que a gente nunca sabe o que fará em seguida. Sua composição faz lembrar por momentos o Jean-Paul Belmondo do Acossado de Godard. Remete também ao Marlon Brando de O último tango em Paris, lembrança reforçada pelo sobretudo mostarda e pelo apartamento antigo vazio, ambos semelhantes aos do filme de Bertolucci. Nos três casos, são personagens errantes na metrópole cosmopolita.
Muita coisa importante com certeza está deixando de ser dita, pois Synonymes é desses filmes com muitas portas de entrada e diferentes camadas de significação. É, acima de tudo, uma obra capaz de desconcertar o espectador, algo cada vez mais raro nos dias de hoje.
Elia Suleiman
Por uma feliz coincidência, está entrando em cartaz outro filme notável em que um personagem vindo do Oriente Médio conflagrado se defronta com os horrores e delícias das metrópoles ocidentais, e no qual o tema da identidade nacional também é central. Estou falando de O paraíso deve ser aqui, do palestino Elia Suleiman, ganhador do prêmio da crítica em Cannes. Comentei-o brevemente aqui quando foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
Protagonizado pelo próprio Suleiman, O paraíso se desloca de Nazaré, sua cidade natal, para Paris e Nova York, expondo com a argúcia do olhar estrangeiro (e apátrida) as contradições e absurdos de cada um desses lugares. Pode ser interessante cotejar essas duas obras – a do israelense e a do palestino – e seus olhares sobre o mundo contemporâneo.
Humberto Mauro
Quem se interessa pela história do cinema, em especial do cinema brasileiro, não deve perder o encantador documentário Humberto Mauro, realizado por André di Mauro, sobrinho-neto do grande pioneiro. Composto quase inteiramente de trechos de filmes e do áudio de entrevistas do diretor, é um trabalho de grande sensibilidade e inteligência estética, ao adotar como eixo de sua exposição a contraposição entre natureza e tecnologia que esteve sempre no centro do trabalho de Humberto Mauro.
“O progresso não é fotogênico”, afirma o pioneiro, já veterano, numa entrevista dos anos 1960. Mas as belas imagens de usinas, engenhos, trens, máquinas e engrenagens extraídas de seus próprios filmes parecem contradizer a máxima do cineasta, que em meio século (de 1925 a 1974) realizou doze longas-metragens e mais de duzentos curtas, boa parte deles para o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE).
Mas é no registro da natureza, de fato, que transborda o talento poético do diretor mineiro, sintetizado em sua célebre frase: “Cinema é cachoeira”. Ao privilegiar o modo como Mauro captou plasticamente o mundo rural e o mundo urbano, para além dos dramas ingênuos e frequentemente frágeis que ambientou neles, o documentário homenageia, perpetua e reverbera a arte desse grande desbravador.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras