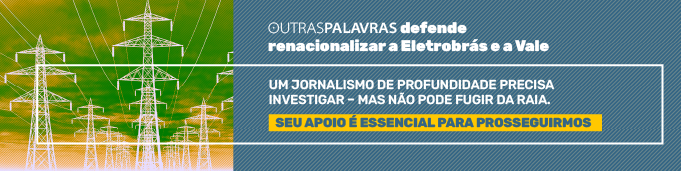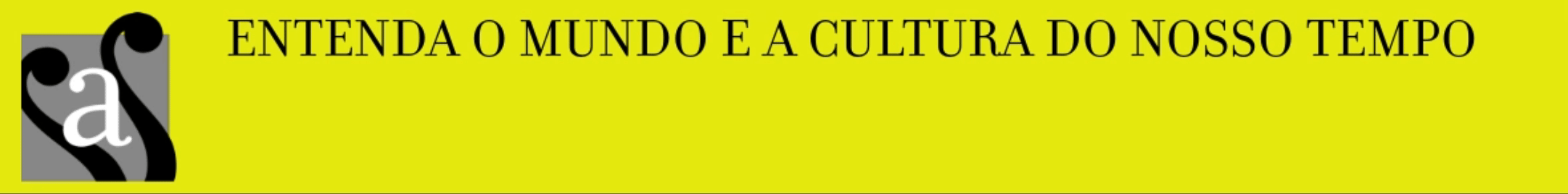Fellini, o cineasta que virou adjetivo
Rio, São Paulo e Brasília receberão retrospectiva do icônico diretor italiano, que completaria 100 anos. Dos filmes neorrealistas aos mais poéticos, ele equilibrou com genialidade tradição e vanguarda, lirismo provinciano e modernidade urbana
Publicado 09/01/2020 às 13:14 - Atualizado 10/07/2020 às 12:08

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema do Instituto Moreira Salles
O mundo desmorona lá fora, mas o ano cinéfilo começa em grande estilo, com uma retrospectiva completa da obra de Federico Fellini, que faria 100 anos no próximo dia 20. A mostra, que acontece até 3 de fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, segue depois para São Paulo (26/2 a 23/3) e Brasília (24/3 a 19/4). O site dos CCBBs está em manutenção, mas com algum esforço é possível consultar a programação.
A filmografia de Fellini não é particularmente extensa: vinte longas-metragens realizados ao longo de quarenta anos, de Mulheres e luzes (1950), codirigido por Alberto Lattuada, a A voz da lua (1990), mais um punhado de episódios em filmes coletivos. Mas poucas obras, em qualquer arte, falaram com tanta força e intimidade aos corações e mentes do século vinte. Resta saber como o novo século a receberá e avaliará.
Armadilha do “felliniano”
Muitíssimo já se falou sobre Fellini, e no entanto ele segue driblando as tentativas de enquadramento e explicação, pelo simples fato de que seu cinema é multifacetado, cambiante, desmesurado. O próprio adjetivo “felliniano”, ao evocar o exuberante e o grotesco, uma espécie de surrealismo prêt-à-porter, mais limita do que esclarece uma compreensão de seu universo.
“Felliniano”, de certo modo, é o Fellini autorreferente e autoparódico de sua última fase, que fez do exagero, do delírio e do bizarro suas marcas registradas, a ponto de o fotógrafo britânico David Bailey (a inspiração para o protagonista do Blow up de Antonioni) dizer: “Gosto de Visconti porque ele me sufoca de bom gosto, e de Fellini porque me sufoca de mau gosto”.
Ver ou rever os filmes de Fellini numa mostra tão abrangente ajuda a compreender sua trajetória, que começa no neorrealismo e vai construindo uma poética extremamente pessoal, equilibrando de diversas maneiras algumas tensões permanentes: entre a província e a metrópole, paganismo e catolicismo, hedonismo e consciência moral, cultura popular e sofisticação estética, tradição e vanguarda.
Há quem diga, provavelmente com razão, que Fellini nunca deixou de ser um provinciano, ao mesmo tempo fascinado e horrorizado com a modernidade urbana e cosmopolita, essa nova Babilônia sintetizada na Roma um tanto idealizada de seus filmes.
A perplexidade do homem do interior diante da metrópole está presente já em seus primeiros longas, em especial no extraordinário Abismo de um sonho (1952), em que dois jovens caipiras recém-casados literalmente se perdem em Roma durante sua lua de mel. Estão ali também outras constantes do cinema do diretor: o amor pelas formas da cultura popular (no caso, as fotonovelas), a força do imaginário em confronto com o real, o peso do catolicismo, a sedução da carne.
A primeira fase da produção felliniana, a meu ver, chega ao seu ponto de máxima intensidade e excelência com A doce vida (1960), obra-prima absoluta em que emerge seu alter ego, o jornalista vivido por Marcello Mastroianni, um interiorano já aclimatado à metrópole e mergulhado até o pescoço em sua efervescência amoral.
Da imagem inicial (a estátua de Cristo pairando sobre a cidade, transportada por um helicóptero) à última (a comunicação frustrada entre o protagonista e uma menina-anjo, na praia), o filme é marcado por uma profunda inquietação moral herdada do catolicismo, mas que o critica e transcende.
Impasse e autorreferência
Depois desse ápice, vem o momento de impasse e crise criativa, que Fellini transforma em grande arte com Oito e meio (1963), marco de libertação estética, reflexão sobre o próprio fazer cinematográfico, usina de ideias e procedimentos narrativos, mas ao mesmo tempo sinal de angústia de um artista que não sabe se tem mais alguma coisa a dizer. Lembra a célebre frase de John Cage: “Não tenho nada a dizer. E estou dizendo. E isso é poesia”.
A partir desse ponto de inflexão, tem-se a impressão de que o real (social, humano, geográfico) do primeiro Fellini cede terreno a um mergulho cada vez mais profundo no imaginário do próprio diretor, em seu delírio visionário ou, segundo seus detratores, em sua ego trip. É o Fellini “felliniano” que entra em cena, em filmes crescentemente oníricos, de Julieta dos espíritos (1963) a A voz da lua (1990), passando por Satyricon, Casanova, Cidade das mulheres, Ensaio de orquestra, E la nave va.
Nenhum desses filmes é desinteressante ou irrelevante, pois em todos vibra o talento ímpar do diretor para criar uma poética visual poderosa, mas talvez suas obras mais significativas sejam as que mesclam ficção e documentário, porque nelas o substrato do real contrabalança e dá consistência ao voo da fabulação.
É o caso de Os palhaços (1970), em que o cineasta revisita uma das fontes populares de sua arte, o circo (as outras são o teatro de variedades, as histórias em quadrinhos e as fotonovelas), e de Roma (1972), acerto de contas pessoal com a “cidade eterna” e suas múltiplas dimensões, dos afrescos pagãos do subsolo às ruidosas motocicletas que percorrem suas ruas à noite, iluminando fantasmagoricamente seus monumentos – só para citar dois momentos inesquecíveis.
Mas, paradoxalmente, é em seu mergulho mais autobiográfico que Fellini alcança talvez sua expressão mais universal. Estou falando de Amarcord (1973), evocação poética de sua infância em Rimini. De certa forma, está tudo ali, junto e misturado: a (de)formação moral religiosa e sua crítica, o horror do fascismo, a tentação do sexo, a família e suas arestas, a miragem da América, o próprio cinema como sonho e libertação – tudo envolto num humor maroto e embalado pela música plangente de Nino Rota.
A estrutura episódica e circular da narrativa, que começa e termina com a chegada das manine (minúsculos flocos de neve que anunciam o fim do inverno e início da primavera), confere um tom de reflexão serena sobre a passagem do tempo, quase igualando memória, imaginação e sonho. O efeito é tão poderoso que “amarcord” virou sinônimo de obra memorialística (Fulano fez seu amarcord).
Gênio cansado
Em outros filmes de suas últimas décadas de cinema Fellini reflete (ou melhor, fantasia) sobre temas como o machismo (Cidade das mulheres), a guerra (E la nave va) e a televisão (Ginger e Fred), mas sempre sobrepondo ostensivamente seu estilo ao objeto abordado.
Seu último longa, A voz da lua, é o testamento de um gênio cansado, que parece se declarar impotente diante da vulgaridade ruidosa em que o mundo se transformou. A certa altura, um dos dois protagonistas, o maluquinho Ivo (Roberto Benigni), declara: “Se fizéssemos um pouco de silêncio, poderíamos compreender alguma coisa”. Fellini, contraditoriamente, não conseguia silenciar. Só a morte o calou, três anos depois, aos 73 anos de idade.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.