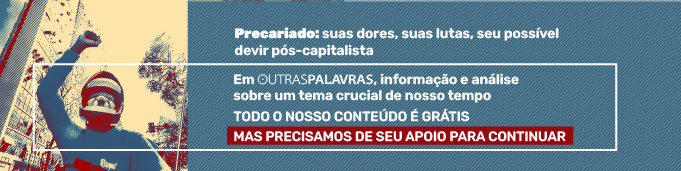A revolução não será performatizada
Novo livro lança hipótese provocadora sobre os levantes que marcaram anos 2010. Sem um projeto de mundo, movimentos trocaram a árdua organização de contra-hegemonia por brilho fugaz na mídia e redes sociais. Este narcisismo foi sua ruína
Publicado 05/10/2023 às 19:25 - Atualizado 17/10/2023 às 18:59

Por Chris Hedges | Tradução: Antonio Martins
Houve uma década de revoltas populares de 2010 até a pandemia global em 2020. Essas revoltas abalaram os alicerces da ordem global. Elas denunciaram a dominação corporativa e as políticas de “austeridade” e exigiram justiça econômica e direitos civis.
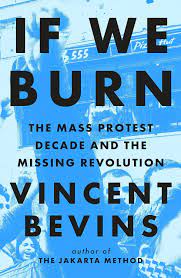
Houve levantes populares na Grécia, Espanha, Tunísia, Egito, Bahrein, Iêmen, Síria, Líbia, Turquia, Brasil, Ucrânia, Hong Kong, Chile e durante a Revolução da Luz da Coreia do Sul. Políticos desacreditados foram expulsos do cargo na Grécia, Espanha, Ucrânia, Coreia do Sul, Egito, Chile e Tunísia. Nos Estados Unidos, os acampamentos Occupy estenderam-se por 59 dias. A reforma, ou pelo menos a promessa dela, dominou o discurso público. Parecia heraldar uma nova era.
Então veio a reação. As aspirações dos movimentos populares foram esmagadas. O controle estatal e a desigualdade social se expandiram. Não houve mudanças significativas. Na maioria dos casos, as coisas pioraram. A extrema direita emergiu triunfante.
O que aconteceu? Como uma década de protestos em massa que parecia prenunciar uma abertura democrática, um fim à repressão estatal, um enfraquecimento da dominação das corporações globais e instituições financeiras e uma era de liberdade se transformou em um fracasso humilhante? O que deu errado? Como os banqueiros e políticos odiados conseguiram manter ou recuperar o controle? Quais são as ferramentas eficazes para nos livrarmos da dominação corporativa?
Vincent Bevins, em seu novo livro If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution [Se tocarmos fogo: A década dos protestos em massa e a revolução que faltou], relata como as coisas falharam em vários aspectos.
Os “tecnootimistas”, que asseguravam que as novas mídias digitais eram uma força revolucionária e democratizante, não previram que governos autoritários, corporações e serviços de segurança interna poderiam aproveitar essas plataformas digitais e transformá-las em instrumentos de vigilância em massa, censura e canais para propaganda e desinformação. As plataformas de redes sociais, que tornaram os protestos populares, foram em seguida usadas contra nós.
Muitos movimentos em massa, por não implementarem estruturas organizacionais hierárquicas, disciplinadas e coerentes, foram incapazes de se defender. Nos poucos casos em que movimentos organizados alcançaram o poder, como na Grécia e em Honduras, os financiadores internacionais e as corporações conspiraram para retomar as rédeas de forma impiedosa.
Na maioria dos casos, a classe dominante rapidamente ocupou os vazios de poder criados por esses protestos. Eles ofereceram novas marcas para repaginar o antigo sistema. Essa é a razão pela qual a campanha presidencial de Barack Obama nos EUA, em 2008, foi consiiderad “O caso de marketing do ano” pela Advertising Age. Ganhou o voto de centenas de profissionais de marketing, chefes de agências e fornecedores de serviços de marketing reunidos na conferência anual da Associação Nacional de Anunciantes dos EUA. Superou concorrentes como a Apple. Os profissionais sabiam. A marca Obama era o sonho de um profissional de marketing.
Com muita frequência, os protestos se assemelhavam a “flash mobs”. As pessoas reuniam-se em espaços públicos e criavam um espetáculo midiático, em vez de se envolverem em um desafio organizado e prolongado do poder.
Guy Debord captura a futilidade desses espetáculos/protestos em seu livro A Sociedade do Espetáculo. Observa que a era do espetáculo significa que os enfeitiçados por suas imagens estão “moldados por suas leis”.
Anarquistas e antifascistas, como os do “black bloc”, muitas vezes quebravam janelas, jogavam pedras na polícia e viravam ou incendiavam carros. Atos aleatórios de violência, saques e vandalismo eram justificados na linguagem do movimento, como componentes de uma “insurreição espontânea”. Essa “pornografia da violência” encantou a mídia, muitos dos que a praticaram e, coincidentemente, a classe dominante – que a usou para justificar mais repressão e demonizar os movimentos de protesto.
A falta de teoria política levou os ativistas a usarem a cultura popular – filme como V de Vingança – como pontos de referência. As ferramentas muito mais eficazes e politizadoras das campanhas educacionais de base, greves e boicotes foram ignoradas ou marginalizadas. Como Karl Marx havia compreendido, “Aqueles que não podem se representar serão representados”.
If We Burn é uma análise brilhante e magistralmente escrita do surgimento dos movimentos populares globais, dos tiros nos pés que dispararam, das estratégias empregadas pelas elites corporativas e governamentais para manter o poder e sufocar as aspirações de uma população frustrada. Também especula sobre as táticas que os movimentos populares devem empregar para lutar com sucesso.
“Na década de protestos em massa, explosões nas ruas criaram situações revolucionárias, muitas vezes por acidente”, escreve Bevins. “Mas faltam a um protesto os recursos para aproveitar uma situação revolucionária, e esse tipo específico de protesto débil.”
Os ativistas experientes entrevistados por Bevins ecoam esse ponto. “Organizem-se”, diz Hossam Bahgat, o defensor egípcio dos direitos humanos, a Bevin no livro. “Criem um movimento organizado. E não tenham medo da representação. Achávamos que a representação era elitismo, mas na verdade é a essência da democracia.”
O esquerdista ucraniano Artem Tidva concorda. “Eu costumava ser mais anarquista”, diz Tidva no livro. “Naquela época, todos queriam fazer uma assembleia; sempre que havia um protesto, havia uma assembleia. Mas acho que qualquer revolução sem um partido organizado dará mais poder às elites econômicas, que já estão muito bem articuladas.”
O historiador Crane Brinton, em seu livro A Anatomia da Revolução, escreve que as revoluções têm precondições reconhecíveis. Cita a difusão do descontentamento, que passa a afetar quase todas as classes sociais; os sentimentos generalizados de aprisionamento e desespero; as expectativas não cumpridas; a solidariedade unida, em oposição a uma pequena elite no poder; a recusa da elite intelectual a continuar defendendo as ações da classe dominante; uma incapacidade do Estado em atender às necessidades básicas dos cidadãos; uma perda constante de ânimo, entre a própria elite no poder; deserções no círculo interno; um isolamento paralisante que deixa os poderosos sem aliados ou apoio externo e, finalmente, uma crise financeira.
As revoluções sempre começam, escreve Brinton, fazendo demandas impossíveis, cujo atendimento significaria o fim das antigas configurações de poder. Mas – mais importante – os regimes despóticos sempre entram em colapso interno primeiro. Uma vez que seções do aparato governante – polícia, serviços de segurança, judiciário, mídia, burocratas – não obedecem mais às ordens (não atacam, encarceram ou atiram em manifestantes), o antigo regime, desacreditado, paralisa-se e entra em fase terminal.
Mas essas estruturas internas de controle raramente vacilaram, durante a década de grandes protestos. Elas podem, como no Egito, ter se voltado contra os líderes do antigo regime, mas também trabalharam para minar os movimentos populares e suas lideranças. Elas sabotaram os esforços para retirar o poder das corporações globais e oligarcas. Elas preveniram a chegada de líderes populares ao governo ou os removeram do posto.
A campanha cruel travada contra Jeremy Corbyn e seus apoiadores, de 2017 a 2019, quando ele liderou o Partido Trabalhista do Reino Unido em 2017 e 2019, foi orquestrada por membros de seu próprio partido, corporações, a oposição conservadora, comentaristas, celebridades, uma imprensa mainstream. Esta máquina ampliou os assassinatos de reputação feitos por membros do exército britânico e os serviços de segurança. Sir Richard Dearlove, ex-chefe do MI6, o serviço secreto de inteligência do Reino Unido, advertiu publicamente que o líder trabalhista representava um “perigo real para nosso país”.
Organizações políticas disciplinadas não são, por si só, suficientes, como provou o governo de esquerda Syriza na Grécia. Se a liderança de um partido anti-establishment não estiver disposta a romper com as estruturas de poder existentes, ela será cooptada ou esmagada, quando suas demandas forem rejeitadas pelos centros de poder reinantes. Em 2015, “a liderança do Syriza estava convencida de que, se rejeitasse um novo programa de ‘resgate’, os credores europeus cederiam diante da agitação financeira e política generalizada”, observou Costas Lapavitsas, ex-deputado do Syriza e professor de economia na Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, em 2016.
“Críticos bem-intencionados apontaram repetidamente que o euro tinha um conjunto rígido de instituições com sua própria lógica interna; e estas rejeitariam de pronto as demandas para abandonar a austeridade e anular a dívida”, explicou Lapivistas. “Além disso, o Banco Central Europeu estava pronto para restringir a provisão de liquidez aos bancos gregos, sufocando a economia – e o governo do Syriza com ela.”
Foi exatamente o que aconteceu.
“As condições no país tornaram-se cada vez mais desesperadoras à medida que o governo consumia reservas de liquidez, os bancos ficavam perdiam depósitos aceleradamente e a economia mal se movia”, escreveu Lapivistas. “O Syriza é o primeiro exemplo de um governo de esquerda que não apenas foi incapaz de cumprir suas promessas, mas também adotou o programa da oposição, na íntegra.”
Tendo sido incapaz de obter qualquer compromisso da Troika – Banco Central Europeu, Comissão Europeia e FMI – o Syriza “adotou uma política severa de superávits orçamentários, aumentou os impostos, vendeu bancos gregos a fundos especulativos, privatizou aeroportos e portos e está prestes a cortar as aposentadorias. O novo resgate condenou uma Grécia afundada na recessão a um declínio de longo prazo, pois as perspectivas de crescimento são fracas, os jovens educados estão emigrando e a dívida nacional pesa muito”, escreveu ele em 2008.
“O Syriza fracassou não porque a austeridade seja invencível, nem porque a mudança radical seja impossível, mas porque, miseravelmente, não estava disposto nem preparado para desafiar o euro”, observou Lapavitsas. “A mudança radical e o abandono da austeridade na Europa exigem confronto direto com a união monetária em si.”
O sociólogo americano-iraniano Asef Bayat, que Bevins observa ter vivido tanto a Revolução Iraniana em 1979 em Teerã quanto o levante de 2011 no Egito, distingue entre as condições subjetivas e objetivas para as revoltas da Primavera Árabe, que eclodiram em 2010. Os manifestantes podem ter se oposto às políticas neoliberais, mas também foram moldados, ele argumenta, pela “subjetividade” neoliberal.
“Faltava às primaveras árabes o tipo de radicalismo – em perspectiva política e econômica – que marcou a maioria das outras revoluções do século XX”, escreve Bayat em seu livro Revolução sem Revolucionários: Compreendendo a Primavera Árabe.
“Ao contrário das revoluções da década de 1970, que defendiam um poderoso impulso socialista, anti-imperialista, anti-capitalista e de justiça social, os revolucionários árabes estavam mais preocupados com questões amplas de direitos humanos, responsabilidade política e reforma legal. As vozes predominantes – tanto islâmicas quanto seculares – aceitavam o livre mercado, as relações de propriedade e a racionalidade neoliberal sem críticas. Sustentavam uma visão de mundo acrítica que apenas prestava homenagem às preocupações genuínas das massas por justiça social e distribuição.”
Como Bevins escreve, uma “geração de indivíduos criados para ver tudo como se fosse uma empresa foi desradicalizada, passou a ver essa ordem global como ‘natural’ e tornou-se incapaz de imaginar o que é necessário para realizar uma verdadeira revolução.”
Steve Jobs, executivo-chefe da Apple, morreu em outubro de 2011, enquanto ocorria o acampamento Occupy no Zuccotti Park. Para minha consternação, várias pessoas no acampamento queriam fazer uma homenagem em sua memória.
As revoltas populares, escreve Bevins, “fizeram um trabalho muito bom em abrir brechas nas estruturas sociais e criar vazios políticos”. Mas os vazios de poder foram rapidamente preenchidos no Egito pelo exército; no Bahrein, pela Arábia Saudita e pelo Conselho de Cooperação do Golfo; e em Kiev, por um “grupo diferente de oligarcas e nacionalistas militantes bem organizados”. Na Turquia, isso foi eventualmente preenchido por Recep Tayyip Erdogan. Em Hong Kong, foi Pequim.
“A manifestação em massa coordenada de forma horizontal e digital e sem líderes é, em essência, ilegível”, escreve Bevins.
“Você não pode observá-la ou fazer perguntas e chegar a uma interpretação coerente com base em evidências. Você pode reunir fatos – milhões deles. Mas você não conseguirá usá-los para construir uma leitura clara. Ou seja: o sentido desses eventos será imposto a eles de fora. Para entender o que pode acontecer após uma explosão de protesto, você não deve prestar atenção apenas em quem está esperando nos bastidores, para preencher um vazio de poder. Você deve prestar atenção em quem tem o poder de definir o próprio levante.”
Em poucas palavras, ao poder organizado é preciso opor poder organizado. Esta é uma verdade que táticos revolucionários como Vladimir Lênin – para quem a violência anárquica era contraproducente – compreendiam. A ausência de estruturas hierárquicas nos movimentos de massa mais recentes (justificada como forma de prevenir o culto à liderança e garantir que todas as vozes fossem ouvidas) tinha intenções nobres, mas tornou os movimentos presa fácil. No tempo em que as assembleias do Occupy Wall Street reuniam milhares de pessoas, por exemplo, a difusão de incontáveis vozes e opiniões significou paralisia.
“Sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário”, escreveu Lêni.
As revoluções exigem organizadores habilidosos, auto-disciplina, visões ideológicas alternativas, arte e educação revolucionárias. Exigem desafio continuado ao poder e líderes que representem o movimento. As revoluções são processos longos e difíceis, que exigem anos de preparação, em que as estruturas do poder são corroídas, muitas vezes de forma imperceptível. Nosso exemplo deveriam ser as revoluções bem-sucedidas do passado, assim como seus teóricos – mais que as imagens que nos fascinam nas mídias de massa.