“Quem atirou em nóis errou”
Assim cantavam usuários de unidade de saúde mental, durante um Carnaval. Em prática artística, implantadas no Brasil e na Bélgica, uma instigante sabotagem à racionalidade neoliberal: transtornos, fobias, medos são responsabilidade coletiva
Publicado 28/02/2020 às 18:53 - Atualizado 19/11/2020 às 08:28

A experiência de colonialidade no Brasil é sistêmica, material, simbólica, intersubjetiva, cotidiana e capaz de afetar um organismo social inteiro. A etiqueta sócio-politico-econômica herdada por séculos de colonialismo é molecularmente percebida nos trópicos, ou atuais pastagens em expansão. A colonialidade está em toda parte, assim como está a resistência à racionalidade colonial. “O real resiste”1 e sempre resistiu. Nunca fomos tão coloniais. Enquanto mulher, branca, de classe-média-alta, descendente de imigrantes italianos e espanhóis, fui educada, dos pés até a cabeça, pelo eurocentrismo. Carrego e sou carregada por privilégios que denunciam a manutenção histórica de relações subalternizadas. Sou parte de uma classe social constituída em detrimento da racialização do outro e através da universalização da própria, uma vez que o branco nunca foi racializado. O branco de classe-média-alta é, aqui e agora, o privilégio encarnado de uma superioridade racial que o colonialismo naturalizou e que a colonialidade continua.
O relato da minha experiência enquanto pesquisadora artística é, portanto, o de alguém que teve, dentre muitos outros, o privilégio de transitar entre Brasil e Bélgica durante anos. No Brasil sempre fui “a gringa” por ser branca e na Europa nunca fui “a brasileira” por ser branca. Mas, não é só a branquitude que me localiza enquanto sujeito universal, a patologia neurótica também me confere pertencimento a uma subjetividade hegemônica.
BRANCO-HETEROSEXUAL-NEUROTICO-HOMEM-CISGÊNERO
o espelho que não aguentamos mai

Para Anibal Quijano, o colonialismo se encerra enquanto período histórico de dominação mas a colonialidade expande e continua as estruturas de poder coloniais até os dias de hoje.“A noção de colonialidade atrela o processo de colonização das Américas à constituição da economia-mundo capitalista, concebendo ambos como partes integrantes de um mesmo processo histórico”2. Nesse sentido, a colonialidade transcende o término histórico do colonialismo através da manutenção da lógica colonial, que sedimentada nas relações de dependência entre norte e sul global, torna-se uma racionalidade, uma razão de mundo. O Brasil sempre foi um exemplo gritante da continuidade dessas relações de dependência em esferas sociais, materiais, simbólicas e intersubjetivas. O que herdamos do colonialismo foi toda uma organização da vida. Quijano desdobra o conceito de colonialidade pra entender a manutenção da lógica colonial em todos os seus aspectos. Ele fala sobre a colonialidade do poder enquanto manutenção de um padrão de poder mundial que se articula principalmente através da “classificação racial da população do mundo depois da América”3 A racialização do outro foi crucial pra que o colonialismo definisse o sujeito modelo dentro do padrão de poder e de sua organização social. “Todo esse acidentado processo implicou no longo prazo uma colonização das perspectivas cognitivas, dos modos de produzir ou outorgar sentido aos resultados da experiência material ou intersubjetiva, do imaginário, do universo de relações intersubjetivas do mundo; em suma, da cultura”4 A partir daí, o sistema-mundo-global vai se articulando através do controle de todos os aspectos de organização da vida. “Assim, no controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, está a empresa capitalista; no controle do sexo, de seus recursos e produtos, a família burguesa; no controle da autoridade, seus recursos e produtos, o Estado-nação; no controle da intersubjetividade, o eurocentrismo”5
Silvia Rivera Cusicanqui, uma das pensadoras fundamentais sobre a cultura oral Andina, leva o entendimento de colonialidade à um transbordamento. Para a sochóloga6 “O pós-colonial é um desejo, o anticolonial uma luta e o descolonial um neologismo da moda”7. Ela entende que os processos de luta anticolonial estiveram presentes desde os tempos coloniais, e que o descolonial aparece como uma moda muito recente “que usufrui e reinterpreta esses processos de luta, mas que os despolitiza, pois o descolonial é um estado ou uma situação, mas não é uma atividade, não implica uma agência, nem uma participação consciente.”8 Silvia extrapola as noções de colonialidade produzidas e disseminadas somente na academia assim como questiona a centralidade atribuída a Quijano quanto a um entendimento histórico permeado e informado por outrxs pensadorxs de Abya Yala9, como ela, juntamente com povos originários, chama o continente denominado de América. Para ela o colonialismo se expressa “negando a humanidade dos outros”10 e nesse sentido “uma pessoa não pode se descolonizar sozinha”11. É preciso fazer-lo em grupo, mobilizando o agenciamento coletivo para uma luta anticolonial. É nessa radicalidade de práxis, onde o entendimento de colonialidade não se dissocia de uma prática anticolonial que Cusicanqui reivindica a produção e circulação de conhecimento através de práticas que tensionem todas as normas impostas pela hegemonia colonial. Esse tensionamento precisa ser feito a partir da superação e deslocamento do eurocentrismo como percepção do mundo e de como sociabilizamos nele. “Temos que produzir conhecimento a partir do cotidiano” e através de formas de cuidado do desejo coletivo. “O desejo coletivo está fora de todo realismo, como apresentado pelo poder. Essa é a brasa que deve ser cuidada ”12

A racionalidade colonial, que racializou grupos e sub-grupos de gente, inaugurou, com a criação da América, a noção de “eu” (igualdade) e “outro” (diferença), “eu” enquanto centro de referência de mundo e o “outro” enquanto margem, periferia. Surge, com a criação da ideia de raça um eu-egoíco, referência de si mesmo e em busca do mesmo. Se o homem, cisgênero, branco, heterossexual foi sendo construído como sujeito emblemático do eurocentrismo, a subjetividade neurótica passa a ser elemento definidor dessa equação hegemônica de sujeito. Homem-cisgênero-branco-heterossexual-neurótico. Pra todos esses marcadores foi preciso construir seu oposto, daí o projeto civilizatório colonial-moderno e sua lógica de pensamento e domínio dual entre homem e mulher, branco e negro, hetero e homossexual, neurótico e psicótico.
É desse lugar de subjetividade neurótica, de mulher, branca, latino-americana que chego pela primeira vez no Hospital Psiquiátrico Dr. Guislain em Gent na Bélgica em 2014. Trabalhar com a loucura é, de fato, o tapa-na-cara pra entender a profundidade do buraco colonial. Precisei ir pro norte da Europa ocidental pra entender como a racionalidade colonial invadiu, expropriou e mercantilizou a subjetividade. Pra que o europeu se configurasse enquanto identidade superior o não-europeu precisou ser amplamente identificado e definido. Pra entender o colonizado é preciso entender a subjetividade do colonizador.
(NÃO) COMA O MICROFONE
desaprender a normalidade neurótica ou comer as normas
Chego no Hospital Psiquiátrico Dr. Guislain com um projeto de pesquisa artística. Minha proposta era atuar na fissura da linguagem entre neuróticos e psicóticos. Entro no espaço DELES. ELES estão reunidos para o encontro da manhã. Me junto a ELES em um quase circulo. Agora é minha vez de falar. EU-FALO. De início, tropeço na hegemonia que me carrega. Apresento um projeto articulado, a priori, típico daqueles que projetam uma situação descolada das urgências do território. Minha fala é precisa e articulada o bastante pra dar conta da euforia teórica, mas imprecisa diante daqueles que me escutam. Pra falar é preciso escuta. A língua DELES é Dutch, a MINHA é português. NOSSO único acesso é o Inglês. A língua global. Nos comunicamos fora de NOSSA língua materna que é apenas uma dentre as muitas diferenças ali. Eu falo outra língua e também objetivo meu pensamento de forma estranha. Eu-objetivo. Sou estranha ali, mas normal em qualquer outro lugar. Ali, a hegemonia neurótica é alienígena. Alien pra ELES e agora, de repente, pra mim. EU. ELES.

Enquanto falo me assisto. Estranho a (minha) linguagem. A linguagem hegemônica é interrompida. Me sinto fora da linguagem e sozinha na hegemonia neurótica. Sozinha na eficiência. Sozinha na lógica de projeções, de projetos, projeções de projetos já projetados, projeções de desejos desejados, projetos de aceleração neurótica, aceleração de conquistas, conquistas de sucesso. A linguagem neurótica pode ser colonizadora até mesmo saindo da boca de uma latino-americana em pleno norte europeu. O neurótico, enquanto subjetividade hegemônica, coloniza. É como se eu assistisse uma linguagem que fala através de uma boca que já nem quer mais falar. E eles observam minha fala, fálica, falida, sem espelhar minha neurose. A neurose sem espelho se desespera. É como uma criança mimada sem referência que a confirme. Quanto menos sou espelhada, mais a hegemonia de certa linguagem é denunciada. Não tenho voz que já não seja uma projeção. Continuo falando já que o silêncio é o maior medo do neurótico. Continuo sendo coreografada por palavras que simulam a pronuncia certa na minha boca. E então sou terminada. Término de fala. Termino. E com a ignorância viciada do neurótico, que agrada pra ser aplaudido, espero a confirmação como um pet de mim mesma. Alguns me olham com desconfiança, outros observam, outros simplesmente me olham como se não tivesse falado, outros, nem mesmo me olham. Ficamos ali, estranhando uns aos outros, mas permanecemos, na suspensão do estranhamento. O que o grupo me mostra é que não precisamos resolver o estranho e muito menos o constrangimento com o que não se identifica. A ansiedade com o buraco da linguagem era somente minha. Pra eles não havia euforia caduca da interação ou medo do silêncio.

É desse buraco que recomeço. O que se seguiu, a partir do primeiro momento de suspensão, onde minha fala não era espelho mas objeto de estranhamento, foi todo um exercício de desaprendizagem. O projeto precisou ser desaprendido. Desaprender. Manter a suspensão do silêncio, segurar a ansiedade de confirmação neurótica, criar condições pra que o estranhamento não seja resolvido de imediato, suspender o encontro e a conversa antes mesmo que ela se complete pela aceleração produtivista. Essa parecia ser a fissura na linguagem entre neuróticos e psicóticos, mas pra além desses dois pólos, era uma fissura de abertura entre os limites da instituição psiquiátrica e artística, fissura entre o dentro e o fora das estruturas institucionais. Desaprender a disciplina do contato social performado entre neuróticos diariamente, mas que ali, com desviantes de um sistema normalizado e medicados por uma instituição que pretende a cura, tais maneiras sociais neuróticas eram interrompidas, estranhadas. Estranhar o normal passou a ser uma fissura que eu não podia deixar passar. Que seja dizer “oi tudo bem?”, não porque vc realmente quer saber como o outro está, mas simplesmente porque aquela pergunta “se faz”. Ali, perguntar “oi tudo bem” teria uma resposta não normatizada. Uma resposta de fato: “Não, não estou bem”. Afinal, sabemos, não estamos nada bem.

O que fizemos durante cinco anos foram situações de conversa. Encontrar a escuta foi fundamental. Nos encontrávamos no jardim. No fora. A arquitetura da instituição psiquiátrica já deixava claro que a disciplina da “cura” está em cada tijolo, portas, na disposição de mesas e cadeiras. As conversas não tinham começo, nem meio, nem fim, nem mesmo o espaço tinha entrada ou saída definida. O convite era para um encontro sem demanda determinante. Havia café. Ao longo dos anos a conversa se dilatou. O espaço virou uma instalação, um dispositivo de objetos que foram sendo agregados. Microfones, efeitos de voz, instrumentos, toca-discos, máquinas de escrever, objetos-relacionais13, uma cozinha móvel, fantasias, pedras. Toda uma ecologia de objetos foi se configurando no jardim. Artistas, usuários, arquitetos, ativistas, filósofos, músicos, psicanalistas, esquizoanalistas e pesquisadores foram convidados a participarem das sessões que chamamos de “(Não) Coma o Microfone”.
Improvisamos encontros, conversas, refeições, textos coletivos, suspendemos papéis sociais enquanto a paciente – cotidianamente “servida” na instituição psiquiátrica – podia cozinhar e cuidar do grupo, ou o mestre de Chi-Kung14, recém saído de uma crise, fazia sessões abertas pra iniciar nossos encontros, ou mesmo quando os objetos-relacionais de Clark eram usados pela paciente no corpo da psicanalista, ou ainda quando um jovem terapeuta é arrebatado pela mudança de comportamento de seu paciente, que foragido do confinamento em estado de surto, é encontrado no jardim, assentado pelo improviso com o microfone. O que improvisávamos era um espaço de cuidado onde as chamadas “doenças mentais”, transtornos, fobias, medos, eram responsabilidade coletiva. O espaço era responsabilidade coletiva. Cuidar dele, era como cuidar de quem nele circulava e de um sistema de relações adoecido. As pessoas que vieram de fora, lá do mundo neurótico que performa bem a ficção capitalista de sujeito, entravam em crise durante as sessões. Percebiam que ali, a normalidade de (não) relação social que os domesticava, era impossível. Impossível porque interrompida, descontinuada. Estranhamento do normal. O que se improvisava no jardim, ano após ano, era uma conversa que descolava a “doença mental” do sujeito individualizado e a colocava na roda enquanto problema em comum. Olhar a doença mental enquanto sintoma da sociedade era pratica de politização.

Nos perguntávamos se a instituição estava doente. Em uma das sessões, Gino (paciente que morava na instituição há mais de quinze anos) pega o microfone, e como se num rap diz: “Há uma grande cabeça, uma cabeça onipotente. Funciona de cima pra baixo. Ele tem o poder de lidar com a grana mas não tempo pra ter contato com o contexto onde a grana é investida. Ele é o chefe. A realidade dos pacientes, enfermeiros e médicos não importa. Sua decisão é absoluta. Estamos todos isolados uns dos outros, o chefe de seus funcionários, os funcionários dos pacientes, os pacientes uns dos outros. Nos trancamos dentro do quarto. Isolados e individualizados. Vigiamos uns aos outros. Todos denunciam o que é desviante pra agradar o poder. O chefe vigia os médicos, os médicos vigiam os terapeutas, os terapeutas vigiam os enfermeiros, os enfermeiros vigiam os pacientes, os pacientes se vigiam. Todos trabalhamos aqui, somos todos funcionários da instituição. Vigiamos. Tá todo mundo fazendo fofoca. Me sinto vazio, não consigo perceber o outro e quando eu quero abraçar o outro tenho medo da vulnerabilidade”
Hierarquias monolíticas, individualização do cuidado, medo do outro, medo da vulnerabilidade que o contato com o outro representa. A narrativa de Gino dá o diagnóstico preciso sobre a doença das instituições cooptadas, produzidas e reproduzidas pela ideologia neoliberal. Mais ainda, Gino diagnosticou a racionalidade neoliberal em si: a “generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação”15. Essa racionalidade, razão do capitalismo contemporâneo, se expande desde o colonialismo enquanto sistema-mundo-global. Se o colonialismo impôs goela abaixo o eurocentrismo enquanto razão do mundo e alicerce da expansão do capitalismo, o neoliberalismo é a performance ápice de tal razão hegemônica.
A RAZÃO DO MUNDO
seu adoecimento é culpa sua

O que a racionalidade neoliberal compreende é que individualizar a doença mental camufla o próprio sistema-mundo-global que a gera. Individualizar o cuidado significa responsabilizar o indivíduo pela própria doença e por sua cura. Mas significa, acima de tudo, mutilar a sociedade enquanto corpo coletivo que se mobilize.”Não existe essa coisa de sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos.” O slogan de Thatcher repercute na escalada do Neoliberalismo na Europa assim como na ditadura de Pinochet no Chile e no imperialismo norte americano de Reagan.
A hegemonia dessa racionalidade neoliberal, pode ser percebida quando nos deslocamos entre o norte e o sul global do capitalismo. O que se percebe não é somente uma hegemonia que se alastra mas também aquilo que resiste a ela. No deslocamento entre norte e sul global pode-se perceber que a expansão dessa razão que individualiza todos os aspectos da vida é acompanhada, historicamente, por formas de resistência a tal racionalidade.
A pratica artística “(Não) Coma o Microfone” vai se formulando ao longo dos anos enquanto um dispositivo de politização da saúde mental e de resistência a individualização do cuidado. Não se trata de uma proposta de “cura” daqueles denominados “pacientes” e muito menos sessões de “arte-terapia” onde o “artista” estimula o “paciente” na produção de algo “artístico”. A arte, não como acessório mas como qualidade de sociabilização. “(Não) Coma o Microfone” é uma proposta de “hackear” a instituição, chacoalhar sua lógica de segregação entre aquilo que está dentro e fora dela, assim como as estruturas de poder e hierarquia de seus papéis sociais internos. Com “(Não) Coma o Microfone” propomos um outro-espaço onde as relações possam ser improvisadas fora da lógica da eficiência. E pra isso é preciso tempo. Um outro tempo onde o espaço-do-outro também possa ser improvisado fora de papéis sociais pré-estabelecidos pelo funcionamento institucional. É esse tipo de suspensão que a prática de “(Não) Coma o Microfone” ensaia. É sempre um ensaio. Seja o ensaio de um outro-eu, onde o sujeito desaprende a si mesmo, seja o ensaio de um outro-espaço onde sujeitos possam imaginar outros mundos. Um fora que se articula dentro da instituição.
Em 2019 “(Não) Coma o Microfone” é instalado na instituição psiquiátrica Colônia Juliano Moreira (Rio de Janeiro-BR). A inserção de um mesmo dispositivo, agora sendo experimentado em plena periferia do capitalismo, revela que a racionalidade neoliberal adoece a todos, seja em uma cidade considerada epicentro das políticas da esquerda progressista na Bélgica, seja em um bairro dominado pela milícia e abandonado pelo poder público no Brasil. Nessa transposição, de uma mesma prática artística que quer coletivizar o cuidado e politizar a doença mental, fica claro que o projeto civilizatório-colonial-moderno continuou suas estruturas de poder entre norte e sul global, materializando de fato a relação de colonialidade proposta por Quijano. A colonialidade não só implica uma relação de dependência econômica entre centro e periferia do capitalismo, mas também a dependência a um pensamento científico, originado no norte e aplicado no sul. A racionalidade neoliberal é a culminação dessa razão hegemonizante, no entanto, as diferenças como cada território é abatido e resiste a pancada neoliberal são significativas.
A história da loucura no capitalismo é marcada pela violação de direitos humanos das pessoas afetadas pela construção da loucura, sua organização e controle. Identificar, diagnosticar e gerenciar a loucura são etapas do controle social dentro do projeto de dominação e poder do colonialismo/moderno responsável pela expansão do capitalismo no mundo. A maneira como lidamos com a loucura – e com tudo que é desviante da normalidade eurocêntrica – é produto, e ao mesmo tempo recurso, de um sistema-mundo-global que vêm se configurando desde a colonização das Américas até hoje.
No Brasil, o gerenciamento da loucura sempre foi atualizado através da relação entre raça, divisão do trabalho e a chegada da medicina-legal enquanto modelo científico europeu no período da abolição. É a partir do fim do século XIX que a medicina legal formula um modelo psicofísico que racializa as “deficiências” da suposta raça negra como forma de legitimar o controle dessa raça na sociedade. Junto com a criminologia e a psiquiatria, a medicina legal, se desenvolve enquanto mecanismo sistemático de manutenção do poder da classe dominante branca sob a população negra.
Com a abolição a criminalização da loucura passou a ser instrumento eficiente de atualização do projeto colonial/moderno/capitalista. Com o enfraquecimento de barreiras mais visíveis de separação e exclusão foi necessário criar mecanismos de controle social mais sutis, invisíveis, virtuais pra que novas estruturas de hierarquização e subalternidade fossem estabelecidas.
Através da construção histórica do corpo negro enquanto “corpo perigoso”, tornando-o “objeto” de pesquisa da medicina legal e psiquiátrica enquanto sede e produtor de patologias como a loucura, o gerenciamento da loucura garantiu a permanência da supremacia branca na organização e controle social do Brasil.
A criação da loucura e sua manutenção no ocidente foi caracterizada primordialmente pela necessidade de posicionar socialmente todos aqueles desviantes do sistema econômico capitalista em expansão. No Brasil a marginalização dos corpos que não serviam de forma alguma para a lucratividade prevista pelo capital foi, e ainda é, acentuada pela racialização dos corpos.
O MUSEU E O HOSPITAL
instituições afogadas pela onda neolibera
Meu primeiro contato com o território da Colônia Juliano Moreira (BR) não foi um déjà vu do abismo de linguagem que cai no Hospital Psiquiátrico Dr. Guislain (BE). Ali o abismo é racial. Eu, a mulher branca e neurótica, sendo apresentada, pela curadora branca e neurótica para um grupo de usuários da rede pública de saúde mental em sua maioria negros e negras. Isso não é mero detalhe, é a materialização do privilégio histórico da branquitude. No entanto, o que se materializa ali não é uma relação estável de racialização e subalternidade, há naquele contexto pulsão visível na desconstrução e descolonização de estruturas de poder e controle social. O Pólo Experimental não é um espaço marcado pela lógica tutelar de um hospital psiquiátrico, parece uma casa, um espaço de convivência, onde usuários são artistas e artesãos, onde os estúdios são organizados por quem os usa, a cozinha limpa por quem nela cozinha e toda uma dinâmica de relações que compõem uma lógica própria dentro da instituição.

É o Pólo Experimental que uso como referência pra traçar algumas diferenças entre os contextos psiquiátricos onde “(Não) Coma o Microfone” aconteceu. Mas, talvez, seja melhor começar pelo Museu. Sim, em ambas instituições há um museu. Tanto no Hospital Psiquiátrico Dr. Guislain quanto na Colônia Juliano Moreira há intersecção entre as instituições culturais e psiquiátricas. Em uma o museu é criado pra documentar a história da psiquiatria na Bélgica, mais especificamente as invenções de Joseph Guislain, branco, rico, médico e psiquiatra, na outra o museu recebe o nome em homenagem ao artista Arthur Bispo do Rosário, negro, pobre, louco, asilado na Colônia Juliano Moreira, onde produziu todas as suas obras durante os 49 anos de internação. A história de ambos os museus é complexa e passa por fases de distanciamento e aproximação com a instituição psiquiátrica com as quais se conectam. Geopoliticamente, temos dois museus em continentes caracterizados por diferenças cruciais. De um lado a Bélgica que experimenta as políticas neoliberais no centro do capitalismo e do outro o Brasil que é experimentado enquanto laboratório neoliberal na periferia do capitalismo. As consequências que qualquer instituição sofre, seja no norte ou sul global, por conta das políticas neoliberais são notáveis, mas o impacto que as políticas de austeridade tem entre os territórios do colonizador e do colonizado são incomparáveis.
Em ambos o museu e o hospital psiquiátrico, vão sendo, ao longo da guinada neoliberal, cooptados até que a doença e a criatividade virem capital. Dali em diante a instituição passa a lidar com a individualização extrema de seus trabalhadores pra que possam, no tempo eficiente e produtivo, gerir e empreender a produção daquilo que garanta lucro. Ambas as instituições, museu e hospital psiquiátrico, em ambos os países, Brasil e Bélgica, lidam com a precarização exacerbada pela demanda de lucro. Mas de fato, as estruturas muito bem fincadas pela acumulação primitiva demoram mais a ruir do que aquelas já carcomidas na sua origem pela continua expropriação.
BURACO NA NARRATIVA
vamos olhar pro outro lado
Mas há um buraco nessa narrativa, uma contradição, uma fratura que foge da tendência em enxergar na Europa a sobrevivente possível de uma catástrofe que ela mesma criou. As formas de resistência contra a guinada neoliberal que vão se formulando na América Latina são exemplo dessa fratura que pode redirecionar o nosso olhar eurocentrico para alternativas formuladas na periferia de um sistema que nos adoece cotidianamente. “É tempo de nos libertarmos do espelho eurocêntrico onde nossa imagem é sempre, necessariamente, distorcida. É tempo enfim de deixar de ser aquilo que não somos”16 . Ou ainda como nos convida Cusicanqui para uma processo de entendimento daquilo que resiste a hegemonia eurocêntrica, é preciso “Falar à outrxs, falar com xs outrxs” (…) “falar depois de escutar, porque escutar é também uma forma de olhar, um dispositivo para criar a compreensão da empatia, capaz de mobilizar a intersubjetividade”17
Aquilo que mobilizei durante cinco anos de trabalho com o projeto DETM no Hospital Dr. Guislain parecia já estar mobilizado nos cinco primeiro minutos no Pólo Experimental. Em Gent houve grande esforço pra trazer pacientes e funcionários do hospital para o jardim onde improvisávamos um encontro, um espaço de cuidado coletivo. A desconexão entre as instituições culturais e psiquiátricas era também nítida, mesmo que fossem coladas arquitetonicamente. Havia maior tendência em sucumbir a racionalidade neoliberal do cada um por si. E mesmo que o desconforto e o adoecimento causados pela individualização fossem nítidos e compartilhados, parecia não haver estratégias de mobilização pra que o desejo coletivo pudesse interromper a pressa, a carreira, o sucesso, a eficiência, a vida privada e todos os fracassos implícitos em tais parâmetros hegemônicos de relação.
Os cinco primeiros minutos de encontro com o contexto do Pólo Experimental já diziam muito sobre a pulsão de um desejo coletivo que resiste a um processo histórico de transformações violentas. Em pleno bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, há um território atravessado pela invasão e expropriação de um território indígena, pela instalação da colônia agrícola Engenho Velho, pela criação da Colônia Juliano Moreira e sua tradução do ideário de colônia-agrícola na concepção de um hospital-colônia, por décadas de violência dentro do manicômio seguidas pelas transformações reivindicadas pela luta antimanicomial, pela criação de centros de atenção psicossocial que pudessem substituir as internações compulsórias daqueles desviantes, pela abertura do Museu Bispo do Rosário, seu Pólo Experimental e todo um processo de negociação entre a arte de mercado e a arte política, e ainda uma sucessão de transformações territoriais e de expansão urbana que podem mapear a história do país.
Ali, no Pólo Experimental, em um espaço de convivência colado na mata, composto por um grupo de pessoas que driblam a relação tutelar de instituições psiquiátricas e mobilizam a construção de um espaço em comum, montamos uma rádio temporária pra conversar sobre saúde mental e capitalismo. Foram convidados os próprios usuários, que logo passaram a ser os anfitriões e mediadores da conversa, músicos, servidores públicos que trabalhavam desde a limpeza do hospital até a direção, pesquisadores, artistas, ativistas, e aparições surpresa. Durante duas semanas nos encontramos pra improvisar uma conversa que também pudesse apontar estratégias de resistência em um momento de Brasil que exacerba o projeto colonial, discriminatório, exploratório e que agora vê cair a fachada de uma democracia burguesa sempre restrita.
A conversa foi uma manifestação, ou como disse uma participante “um furo no capital”. Nos reunimos sem produzir nada que desse lucro. Nos reunimos pra conspirar, pra acordar a veia da indignação, pra alinhar o desconforto e os medos e pra tensionar papéis sociais que mantém o protagonismo de fala. Passamos o microfone pra lá e pra cá entre canções de amor perdido, toques de Zumbi dos Palmares, denuncias sobre a marginalização da periferia e a centralidade dos espaços elitizados da “cidade maravilhosa”. Fomos lembrados nos muitos textos escritos em papelão de que o “normótico é o normal em um sistema adoecido”, que “conversar é um utopia”, que os “muros internos precisam cair” assim como os externos já estão, que precisamos “encarar a realidade do buraco” assim como o buraco da realidade, que “pensar incomoda”, que a “sociedade tá adormecida”,que “ficamos com as normas mas não ganhamos a liberdade”, que “hoje em dia quem mija no cachorro é o poste” e ainda que o “coração bate setenta minutos por segundo”. Reconhecemos que confabular juntos nos organizava enquanto voz coletiva, mobilizamos a empatia ao ver que no adoecimento do outro está o de cada um, chacoalhamos os papéis sociais acostumados com protagonismos e hierarquias que a patologização pode gerar, aliviamos a barra de uma mulher que não precisou tomar o remédio porque aquela conversa já baixava sua pressão. E quando não tinha conversa tinha música. Algo que sempre teve nos encontros na Bélgica, mas que ali, mais uma vez me surpreendia pela intensidade coletiva. Quando se cantava se cantava junto, uma mesma música. Era o samba. Descobri que o grupo tinha um bloco de carnaval, intitulado por eles mesmos de Império Colonial. O colonizado se apropriando de fato do titulo do colonizador. Devorando a opressão e a transformando em paródia.
Enquanto o samba do Império Colonial me afetava, chacoalhando em mim certa esperança na força coletiva das vozes que cantavam o refrão “quem atirou em nós errou”, me assistia no perigo da romantização da loucura e da precariedade enquanto forças heroicas que pudessem nos tirar do buraco civilizatório em que estamos. Atenta sobre esse perigo, percebia ali uma potência na qualidade de sociabilização que é mais do que um conforto paliativo para o isolamento social que nos adoece. O que fazíamos ali era uma prática de cuidado coletivo efetivo mas não eficiente nos moldes neoliberais. Efetivo porque criava condições afetivas, subjetivas, simbólicas e discursivas pra materializar problemas e alternativas em comum. Estarmos juntos, todos os dias, cuidando de um espaço, onde comemos, escrevemos, debatemos, denunciamos e até cantamos é uma alternativa pra medos e temores que nos querem fazer acreditar serem individuais.
SABOTE A RACIONALIDADE QUE TE ADOECE
A alienação social que se instala com a racionalidade neoliberal precisa ser sabotada. O diagnóstico de Gino não se limita somente a instituições psiquiátricas mas a todas as esferas da vida cooptadas pela produtividade, gerenciamento e eficiência econômica. Individualizados e tutelados pelo investimento privado vamos virando esses sujeitos-ilhas, nutridos por medos e fobias e pelo slogan de que vencer na vida é derrotar o outro. O outro é meu medo e meu adversário.
Essa lógica meritocrática, do eu-capaz porque sozinho, é forjada na psicologia pela cultura da autoajuda. O casamento perfeito entre lógica econômica e sua sistematização na esfera subjetiva. A cultura de autoajuda, sua lógica de felicidade e superação, é o manual psicológico da meritocracia. Essa ficção do super-eu, livre, autônomo, capaz, produtivo, determinado, competitivo, é a hegemonia de racionalidade que não aceita nenhuma outra. O que tal ficção consegue é unir no sujeito duas funções primordiais pra produção de capital; neste caso a felicidade. O sujeito passa a ser ao mesmo tempo consumidor insaciável de uma imagem-idéia de felicidade e ao mesmo tempo aquele que produz e reproduz tal imagem-idéia. A cultura do selfie é emblemática nessa lógica onde o sujeito é produtor, consumidor e vigilante constante da idéia-imagem de felicidade. Ele não só reencena as simulações de felicidade como é a própria mão que trabalha pra que a imagem seja capturada, compartilhada e consumida. “Ser feliz” não basta é preciso produzir a imagem que comprove a felicidade. Nessa rotina de postagens e stories em tempo fugaz, onde não só quem produz tal imagem precisa acelerar sua produção mas o olho de quem vê acelera sua capacidade de consumo e desejo do desejado, os limites do sujeito vão se tornando cada vez mais endurecidos, os limites da normalidade vão se fechando cada vez mais. Ser desviante dessa lógica caduca que se vende como normal se torna corriqueiro assim como a proliferação dos transtornos mentais gerados pela impossibilidade de “ser-feliz”. A cultura do selfie seria como uma auto-colonização constante. Não só porque impõe um sujeito universal que deve ser replicado, mas porque escraviza a vida pela produção incansável de uma imagem inatingível. Esse sujeito-selfie, a serviço de uma subjetividade do gozo, com a vida sempre a postos pra ser compartilhada, a vida empreendida para ser postada, a vida-resultado constante, tornou-se referência tão sólida, fixa, intransponível, que nos tornamos periféricos a ela dentro de nós mesmos.
Escutar a loucura e transtornos contemporâneos como a depressão, é escutar os sintomas de uma sociedade adoecida. Nessa escuta, é recorrente a percepção de que na loucura ou nos transtornos, se configura a lucidez de quem não consegue mais performar uma ficção que se tornou norma. Corpos que já não aguentam mais. Interromper a inércia que performa uma ideia de sociedade é interromper um sistema que nos adoece. É preciso interromper essa narrativa do sucesso, acordar desse pesadelo do selfie, dessa euforia de compartilhamento do eu, desaprender a lógica empreendedora de si mesmo, descolonizar o imaginário da auto-vigilância e fortalecer as conexões contra-hegemônicas.
***
O projeto Não Coma O Microfone acontece através do encontro e trabalho de muitas pessoas. Seu núcleo duro na Bélgica é formado pela artista Veridiana Zurita, a psicanalista Petra Van Dyck, o músico Stan Anthenuis e a escritora Lea Dietschmann. No Brasil o projeto teve sua primeira edição como parta da exposição Utopias: Vida para todos os tempos e glórias no Museu Bispo do Rosário. http://museubispodorosario.com/2015/04/03/utopias/
Para saber mais sobre o projeto e como fazer parte dele acesse o link onde uma plataforma de compartilhamento e confluências está em construção. https://veridianazurita.wixsite.com/mysite
Notas:
1https://www.youtube.com/watch?v=wx_Pd-rpEhc O Real Resiste, de Arnaldo Antunes (2019)
2 DO COLONIALISMO À COLONIALIDADE pag.2
(Wendell Ficher Teixeira Assis sobre o conceito de Anibal Quijano)
3DO COLONIALISMO À COLONIALIDADE pag.2 (Wendell Ficher Teixeira Assis speaks about the concepts of sobre o conceito de Anibal Quijano)
4 Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, pag. 06 (Anibal Quijano, 2005)
5 Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, pag. 06 (Anibal Quijano, 2005)
6 É difícil definir Cusicanqui porque ela dribla, provoca, e chacoalha a todo momento a linguagem, suas normas, durezas e limites. Muitas vezes refere-se a si mesma como “sochóloga”, mistura de “chola” com socióloga, palavra que alguém um dia usou para defini-la com descrédito e que ela transforma em bandeira.
7 http://revistaanfibia.com/ensayo/contra-el-colonialismo-interno/
8 https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidiano-pensamiento-indigena
9 http://latinoamericana.wiki.br/verbe
10 http://revistaanfibia.com/ensayo/contra-el-colonialismo-interno/
11http://revistaanfibia.com/ensayo/contra-el-colonialismo-interno/
12http://revistaanfibia.com/ensayo/contra-el-colonialismo-interno/
13 Objetos Relacionais inspirados no trabalho da artista Lygia Clark (1920-1988)
14Prática de meditação e exercícios chinesa
15A nova razão do Mundo: Ensaios sobre a sociedade neoliberal. (Pierre Dardot e Christian Laval, 2016)
16Colonialismo e colonialidade, Quijano 2005
17http://revistaanfibia.com/ensayo/contra-el-colonialismo-interno/
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
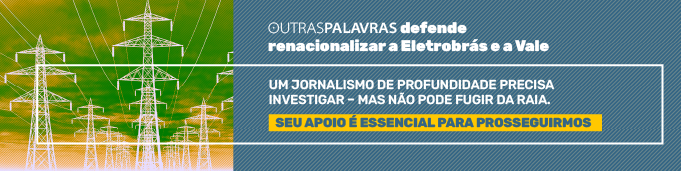
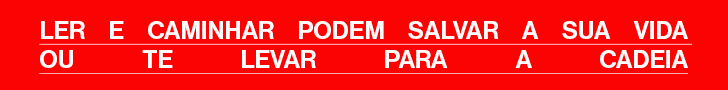
Não consigo ouvir o podcast. Tem outro link?