Cultura, seus três significados e sua libertação
Um livro provocador destaca: por séculos, inexistiu a noção de que uma obra cultural pode ser vendida. E indaga: como transformar, hoje, autoria e propriedade, com base nos Comuns? Que caminhos garantirão a sobrevivência dos artistas e produtores?
Publicado 09/04/2021 às 18:38 - Atualizado 09/04/2021 às 18:39
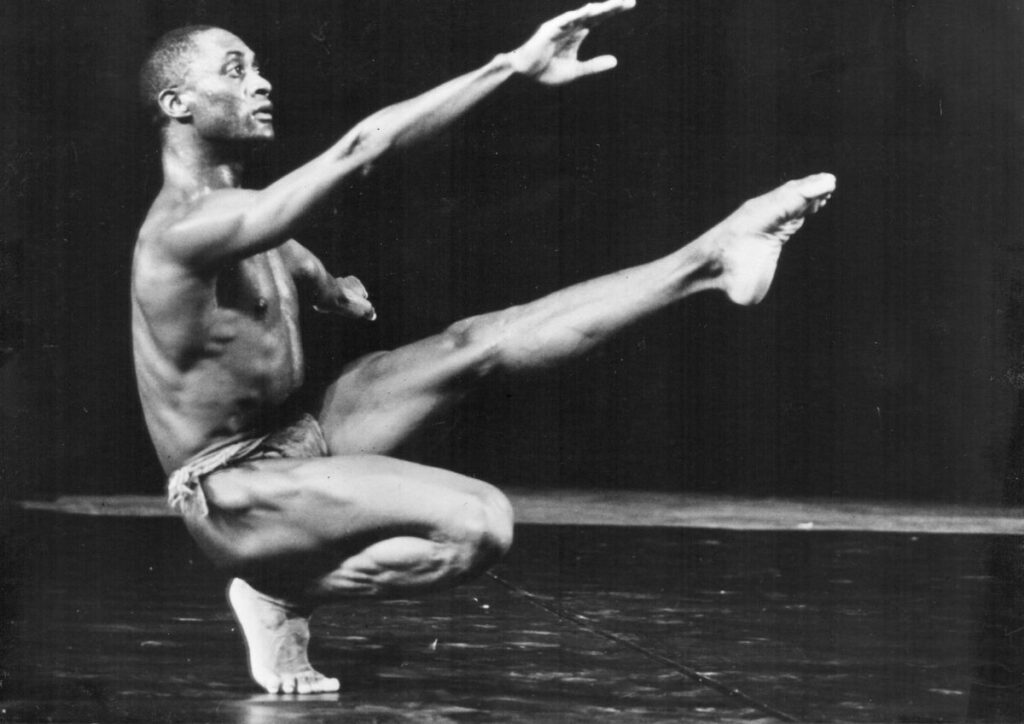
Por Leonardo Foletto
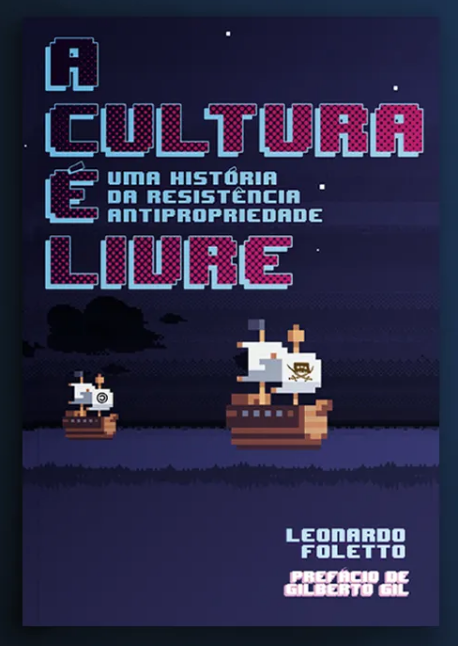
MAIS
O texto abaixo é a introdução do livro
A cultura é livre: uma história da resistência antipropriedade
De Leonardo Foletto
Saiba mais e compre no site de nossa parceira editorial Autonomia Literária
A palavra “cultura” teve tantos sentidos no decorrer da história que vamos, de início, buscar uma definição para conseguir acrescentar a ela o livre que nomeia este livro. O primeiro capítulo do livro Micropolíticas: cartografias do desejo (1984), de Felix Guattari e Suely Rolnik, tem o título “Cultura: um conceito reacionário?”, um texto que traz diferentes sentidos de cultura que podem nos ajudar: o sentido A é definido como cultura-valor corresponde a um julgamento de valor que determina quem tem e quem não tem cultura. É manifestado, por exemplo, em certos diálogos corriqueiros nos quais se fala que “tal sujeito é bem-educado, estudou em colégios caros, viajou o mundo, tem cultura”.
O sentido B é o de cultura-alma coletiva, algo que, diferentemente do primeiro, todos têm: há cultura negra, cultura queer, cultura underground. Seria o conjunto de produções, valores, modos de fazer e de viver, “uma espécie de alma um tanto vaga, difícil de captar, e que se prestou no curso da História a toda espécie de ambiguidade1“. A cada alma coletiva (os povos, as etnias, os grupos sociais) é atribuída uma cultura; em muitos casos, é também sinônimo de civilização, algo que foi bastante problematizado na antropologia, área na qual a cultura é foco central e que, por isso mesmo, conta com inúmeros conceitos e debates.
O sentido C proposto por Guattari e Rolnik é o de cultura-mercadoria, como um produto posto num mercado de circulação monetária. É um sentido mais objetivo que os outros dois, pois se refere a algo que podemos ver e tocar: um livro, um quadro, por exemplo. Poderíamos usar esse sentido para designar outra noção, a de bens culturais, que seriam aqueles objetos postos em circulação em um mercado que inclui outras pessoas além de seu criador. Alguns exemplos são um desenho publicado num blog na internet, um vídeo produzido a oito mãos em um smartphone e disponibilizado numa plataforma de streaming, textos políticos diagramados em formato de zine para serem vendidos ou distribuídos numa banquinha na rua, um livro de poesia de uma editora, um ensaio sobre arte em uma revista mensal. Existem diversos outros; basta satisfazer a necessidade de serem organizados em algum formato reconhecido e circularem para diversas pessoas.
No sentido A, não é como falar na liberdade de uma cultura que é vista como um valor, pois, ainda que seja possível escrever, não é lógico falar em “valor livre” em oposição a um “valor fechado”, por exemplo. Um sujeito que é tido como alguém que tem cultura não é identificado como portador de uma cultura livre. No sentido B, cultura como “alma coletiva”, ela já é livre a priori; não há cultura underground que não seja livre, nem uma cultura como o samba ou hip-hop, por exemplo, que seja toda ela fechada e propriedade de uma única empresa. Mas há bens culturais produzidos no âmbito dessas culturas que não são livres, objetos que bebem nas ditas almas coletivas e passam a circular num dado mercado e se tornam propriedade de alguns.
É, por fim, no sentido C de “cultura” que vamos falar aqui de cultura livre: como uma cultura que é colocada em circulação a partir de certos bens culturais em um dado mercado, bens que são de livre acesso, difusão, adaptação e valor – todas características que vão ser tensionadas ao longo deste livro. Ainda que essa cultura seja uma mercadoria, tida em conjunto como um valor distintivo e fruto de uma alma coletiva que carrega suas políticas e relações sociais, essa distinção por ora nos situa num conceito ao longo das próximas páginas.
Definida uma noção maleável de cultura e de cultura livre, podemos passar para outros conceitos que é importante que estejam, embora em versão mínima, neste prólogo. A noção de que um texto, um livro, uma peça teatral, um quadro possa ser vendido por um valor determinado não é algo dado desde sempre na história da humanidade, mas sim uma concepção estabelecida como senso comum a partir dos séculos XVII e XVIII, com o surgimento dos primeiros monopólios dados a impressores, da invenção do copyright, da propriedade intelectual e dos direitos de autor. Antes disso, havia, claro, produção de livros, desenhos, pinturas, esculturas, peças teatrais sendo feitos e postos em circulação para diferentes públicos, mas não havia um consenso de que essas obras circulariam em troca de uma certa quantia, que seria paga ao seu dono, ou a quem as produziu. E não havia por diversos motivos: primeiro porque a circulação era restrita, dada a dificuldade de se produzir (no caso de um livro, por exemplo); segundo porque a forma de fruição dessas obras era comumente coletiva e oral, não individual; e terceiro porque não era muito claro o sentido de que uma dada obra tinha algum dono ou mesmo um autor, como dito no capítulo 1: “Cultura oral”.
Só começa a fazer sentido a relação dos bens culturais como mercadorias com um determinado preço e com autor quando, no século XV, se cria uma máquina de impressão que propaga certos tipos de bens culturais para públicos muito maiores do que existiam até então. Daí se estabelecem formas de controlar a circulação desses bens com leis, como o copyright, um direito concedido a alguém, de modo exclusivo, para produzir e reproduzir uma obra, como apresentado no capítulo 2: “Cultura impressa”. Logo depois, surge a noção de propriedade intelectual, que se consolidou nos séculos seguintes como um ramo do direito civil, que vai buscar regular criações do intelecto humano, como mostrado no capítulo 3: “Cultura proprietária”, a partir de uma relação, até hoje questionada, com a propriedade física.
A partir do século XIX, a propriedade intelectual se consolida dividida em dois ramos. Um deles é o direito de autor, estabelecido na sequência do copyright, no século XVIII, na França do Iluminismo, como um conjunto de prerrogativas dadas por lei a uma pessoa ou uma empresa a quem se atribui a criação de uma obra intelectual. Os direitos autorais vão ser, por sua vez, divididos em outros dois ramos: os direitos morais, referentes às leis que regem a autoria de uma obra e a sua integridade, ou seja, a possibilidade ou não de alterar uma dada criação; e os direitos patrimoniais, que regulam a produção e reprodução comercial dessa obra.
Nesse período já se percebe que havia uma situação mais complexa na circulação de uma obra para muito mais pessoas; que, com isso, se passava a uma fruição menos coletiva e cada vez mais individual de bens culturais; e, também, que o autor de uma determinada obra pode ser identificado como aquele “que permite superar as contradições que podem se desencadear em uma série de textos2”. No final do século XIX e durante o século XX, quando essas noções se consolidam no senso comum e em um sistema legal de propriedade intelectual, são inúmeras as formas, em especial na arte e na contracultura, de contestar o estabelecido.
“Preciso pagar a alguém para ler um livro?”, “Sou dono deste texto?”, “Quem disse que não posso usar um trecho de uma obra para fazer outra, ou para inventar uma nova forma de arte, novos bens culturais?” Alguns movimentos, vanguardas, artistas e coletivos enfrentam o status quo do direito autoral e da autoria e, por isso, se tornam defensores de uma cultura livre antes de o termo se popularizar, assim como há outros que questionam a condição de originalidade de uma dada obra numa época de propagação das máquinas técnicas de reprodução, como informado no capítulo 4: “Cultura recombinante”.
O outro ramo em que se divide a propriedade intelectual é a chamada propriedade industrial. É ligada à produção e uso de determinados bens em escala industrial, o que amplia o controle legal da criação para processos, invenções, modelos, desenhos, identificados como obras utilitárias – ou seja, que são usadas para um determinado fim em um dado mercado, em oposição ao direito autoral, que rege a criação artística, científica, musical, literária e que, nessa concepção, não seriam utilitárias. As propriedades industriais têm como seu elemento registrador principal a patente, uma concessão pública – fornecida por algum órgão de Estado, portanto – para um dado titular explorar comercialmente, de modo exclusivo e limitado no tempo, uma determinada criação. Da lâmpada incandescente à máquina fotográfica de filme, do fonógrafo de Thomas Edison até o software, as patentes são monopólios de exploração comercial de uma ideia que geram muito dinheiro, por isso também muitas batalhas e questionamentos críticos, especialmente do século XIX em diante.
A expansão da tecnologia digital e sua quase onipresença na vida de boa parte dos mais de sete bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra no século XXI resultam em condições ainda mais complexas de produção, circulação e comercialização de bens culturais. Com isso, outra noção que perpassa esta obra se torna ainda mais maleável: o que é cópia e o que é original, afinal? Se a internet somente funciona na base da cópia de dados e arquivos que são repassados e compartilhados, é possível controlar a reprodução de uma música milhões de vezes copiada e que, entretanto, continua a existir igualmente em todos as milhões de cópias? A discussão em torno do compartilhamento de arquivos na rede e suas consequências resulta, enfim, no capítulo 5: “Cultura livre”, não por acaso o maior de todos.
Tradições milenares no Extremo Oriente e em alguns povos originários da América Latina nos mostram que o mundo não é só o que chamamos de Ocidente e que a perspectiva sobre o que é cópia, original, livre e coletivo tem diferenças significativas entre culturas diversas. São ideias que nos incitam a descolonizar nosso olhar ocidental aplicado às histórias, filosofias e modos de pensar as coisas e o mundo como conhecemos, e buscar modos diferentes de ver essas questões, como é o caso do conceito de shangai, na China, sinônimo de produto falso, fake, mas também um jeito de ver os bens culturais como elementos sempre em transformação de acordo com cada contexto, objetivo e fim, sem uma única e sagrada origem. E também a perspectiva de alguns povos ameríndios que, ao não separar sujeito e objeto, tornam o vocabulário desenvolvido sobre propriedade e direito autoral insuficiente para ser usado com esses povos, como apresentado no capítulo 6: “Cultura coletiva”. É a partir da mescla de algumas dessas experiências não ocidentais citadas e de uma visão desde o chamado sul global que, ao final desse capítulo, apontamos algumas alternativas para a propagação e a defesa de uma cultura livre hoje.
1 Guattari; Rolnik, Micropolíticas: cartografias do desejo, p.19.
2 Como Michel Foucault conceituou em seu conhecido ensaio “O que é um autor?”, em 1969 em Ditos e escritos, v. 3.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

