Torre de marfim acossada e escola sem partido
O que haveria em comum entre o editorial da Folha contra a greve na USP e a proposta sustentada por uma celebridade do cinema hard pornô?
Publicado 29/06/2016 às 19:45
Por Priscila Figueiredo* | Imagem Vitor Teixeira
No mesmo dia que Alexandre Frota, o ex-modelo e celebridade do cinema hard pornô, foi recebido com seu grupo, “revoltados on line”, pelo ministério da Educação, o editorial de um jornal acusava a “greve na torre de marfim”, com o que pretendia se referir à suspensão das atividades pelo movimento de funcionários, alunos e docentes das três universidades paulistasi. Mas, por um deslizamento rápido do olhar, pelo qual deixamos de lado os vários participantes de uma conversa ou os ouvintes de uma exposição e um tanto impolidamente fixamos a atenção em apenas um deles, movidos por alguma inclinação mal ocultada, timidez, falta de urbanidade ou mesmo consideração, a greve quase é reduzida, já pelo título, aos docentes e, mal disfarçadamente, à Universidade de São Pauloii. E é destes efetivamente que se trata, afinal os tradicionalmente identificados à Torre de Marfim do título, mais do que o são os funcionários, aqui meros coadjuvantes, e mesmo os alunos, nem sequer mencionados. Ocorre que o editorialista não só limita o melhor de sua atenção a uma universidade e a uma das categorias como também escolhe uma entre várias razões pelas quais foi desencadeada a paralisação. Preferindo se concentrar na reivindicação de ajuste salarial, escamoteia, entre outros, um motivo importante para o movimento dos professores na USP, a “proposta”, apresentada pela reitoria, de reestruturação do trabalho docenteiii. Mas talvez esta não tenha sido mencionada porque não há o que se preocupar quanto a ela, que está sendo encaminhada – de fato, trata-se de um programa acalentado no fundo do peito do jornal muito antes de sê-lo pelo professor Marco Antonio Zago quando este nem ainda sonhava em ser reitor. A concepção de uma nova instância na universidade para se encarregar de a cada 5 anos estabelecer a “lista dos improdutivos” a ser punida e eventualmente enxugada ou eliminada ocorre quase 30 anos depois que a própria Folha tomou para si a tarefa, ainda em caráter experimental, de mostrar como é que se devia fazer com vagabundos. Estes, aliás, ou estão em greve ou na torre de marfim, e é bom que um e outro sejam suprimidos a médio prazo.
Como lemos em certa altura: “Avessos aos fatos concretos, os docentes uspianos mais uma vez seguiram o comando desarrazoado dos servidores”. Seriam avessos aos fatos concretos porque estão isolados nas alturas da teoria, luminares que são, como se diz em outro momento com sarcasmo – pois não se pode usar de outra forma esse termo, que ganhou o sentido do mandarim que perdeu o rumo do mundo e não tem, além do seu privilégio, nenhuma função social. Na verdade, esses luminares gostariam que a universidade fosse uma torre de marfim, mas ela não é, nos adverte o anônimo autor, pois está inserida na realidade prática e contábil do Estado e do país em crise. E, presumindo-se intocados pelas oscilações da economia, fazem uma exigência sem fundamento porque eles mesmos não têm os pés no chão. Depois de assim qualificá-los, resume o que seria propriamente o fato digno de figurar no artigo, no qual os funcionários, sozinhos, não poderiam estar, embora já viesse de antes a sua greve: Os docentes uspianos mais uma vez seguiram o comando desarrazoado dos servidores. Na verdade, não são os docentes, todos os docentes, mas meros 150 entre 6.000, explica em seguida. Compreendemos então que o artigo os não tem o mesmo sentido totalizador nos dois casos. De fato, por que teriam? Docentes e servidores não não são a mesma categoria e, se o direito nem sempre tem a mesma aplicação num caso e outro, por que teria a linguagem? O comando desarrazoado dos funcionários, que devem ser legião, é seguido por uma módica fração de sabichões (porque evidentemente só contam os que estavam na assembleia, e não o conjunto daqueles que acolhem suas deliberações e se consideram também em greve). Em suma, é como se fosse Zeus e sua aristocrática gente aderindo ao comando de sátiros e bacantes.
O ornamento mitológico foi sugerido pelo próprio texto: relatando a recusa dos funcionários em aceitar proposta de reajuste de 3% e omitindo o fato pelo qual ela veio encontrá-los numa greve que já ocorria – o aviso de despejo do local onde o Sintusp tem sua sede há décadas, recebido com 30 dias de antecedência –, o autor conclui: “como se a corporação tivesse um direito divino à reposição plena da taxa de inflação” (grifo meu)iv. Isso é de intrigar porque, se não me engano, os deuses não trabalham, como nos ensina toda mitologia. O deus Hefesto trabalhava no Olimpo, é verdade, mas é porque pegava no batente –se encarregando da forja e outras coisinhas—que tinha um defeito físico, isto é, era coxo. Trabalhava porque era coxo ou era coxo porque trabalhava? Não sei, mas a interdependência desses dois traços talvez indicasse que pegar no pesado é que era um defeito, que a perfeição olímpica tinha conservado um certo travo amargo mas funcional, reminiscência de tempos mais duros e arcaicos. Enfim, como os aristocratas, também afastados da produção material, os deuses não põem a mão na massa e fruem eternamente de amáveis conversações, ócio e prazer erótico (não sonegado a Hefesto, afinal deus, apesar do defeito e da ocupação). E, assim sendo, não têm remuneração, pois jamais falta o seu maná.
O fato é que, numa espécie de transe topográfico, somos arrancados das alturas do minarete e enfiados nas fileiras comandadas por selvagens centuriões, a quem seguimos irracionalmente, decerto não mais iluminados, muito menos iluministas ou luminares. Das altas paragens da contemplação teórica baixamos à obtusidade prática. E esta, como a outra, não deve ser coisa boa. Misturados aos demais trabalhadores, já há alguns anos celetistas e não funcionários públicos, nos abrutalhamos também, selvagens que querem, como eles, a prerrogativa divina de recompor o salário. Ou seja, depois de puxados para baixo da fortificação, no chão batido do dissídio, somos chutados de volta para o alto, agora para as alturas etéreas, onde na verdade gostaríamos de estar. Mas não podemos deixar de perguntar: e quanto ao direito dos juízes de aumentar em 40% o supersalário, ainda acrescido de vários outros “auxílios”? Se conservar o que já existe seria divino e esticar bem além da corrosão inflacionária é magistrático, a conclusão singela a tirar é: os magistrados estão acima dos deuses. E quanto à maioria da população que não terá, nesse quadro, seu salário reposto e muito menos espichado e parte da qual já engrossa a cifra de quase 11% de desemprego? Ora, além de não serem deuses e muito menos magistrados, jamais devem pretender ser um e outro. Os docentes e funcionários têm a pretensão de ser deuses, mas os magistrados pedem e são atendidos, sem nem cogitar o plebeu mecanismo da greve, porque estão investidos não de um direito imaginário, mas de um poder de fato. Já faz um tempinho a gente tem percebido que a série ontológica brasileira deve ser algo como: humanos e bestas que se conformam em não ser deuses, bestas que querem ser deuses, humanos que querem ser deuses, deuses propriamente e magistrados. Por fim, renunciar a direitos é que é humano – é isso que estão dizendo. Faz todo o sentido na era em que começam a circular tranquilamente umas declarações antes indecorosas, ao menos na dita esfera pública e sem o disfarce de um eufemismo qualquer, como “nenhum direito é absoluto”, “A constituição não cabe no orçamento” – agora lhes faz evidente companhia o juízo de que defender o que se adquiriu é divino. Enfim, é preciso se adaptar ao velho imperativo do nosso ordenamento social: “Ponha-se no seu lugar”. Mandamento que foi um pouquinho arranhado pelos anos de lulismo e agora estufa o peito.
O jornalista não gosta nem de teoria nem de prática, e vai ficando claro que a nem por isso menos bela antítese greve na torre de marfim, o bom momento do artigo, é um ataque tanto ao direito de greve quanto ao “direito de cidade da torre de marfim”v, ao reconhecimento social da “vida contemplativa”, aquele lugarzinho retirado, um tanto abstrato na verdade e cada vez mais rarefeito, fora do qual não há pensamento teórico, ainda que este possa depender de certas condições materiais. No Brasil ele nunca teve tanto prestígio (a não ser quando equivocadamente confundido à irracional cultura do bacharel) e agora está sob um ataque renovado e singularmente furioso, vindo de todas as partes, inclusive dos mandarins que capitularam ante a nova racionalidade que abraça o mundo. Não é porque o editorialista desejaria abolir revolucionariamente a divisão básica do trabalho – a verdade é que nem a política nem o pensamento parecem ter dignidade ante seus olhos fatigados, e ele antes boceja para elas. Ele só vê sentido no que chama de “fatos concretos”. Mas, se tivesse amor aos fatos concretos, os observaria um a um antes de fazer suas ponderações gerais. Ao contrário, na sua pregação os juízos e as generalizações costumam vir anticientificamente na frente dos bois, que quase desaparecem, como a carreira docentevi. Esta de fato tem muito de “choque de gestão” e, como afirmou o professor Zago em 2014: “Sem salto no escuro, não se dão saltos revolucionários”, anunciando o plano atual que deverá impedir os docentes de se acomodarem, ou, de, como ele diz, passarem a vida sem sobressaltosvii. É preciso passar a vida levando choques para não se acostumar ao que quer que seja. A frase que até o ambicioso dr. Fausto gostaria de um dia poder dizer ao instante “Demora-te, és tão belo” terá de ser engolida como tantos outros sapos. Em todo o mundo do trabalho – e na universidade não será diferente – se pode ouvir: “Não vamos permitir que você se acomode nem mesmo do modo mais desesperado”, ao que parece, a mesma mensagem escrita pela parafernália de “arquitetura hostil” no espaço público de grandes cidades, como espetos antimendigo e chuveirinhos ininterruptos sob as marquises de lojasviii. Ficar parado, ocupar um espaço – isso se tornou bem suspeito. A verdade é que assim como um desocupado não pode largar o corpo num assento público, do qual se retirou o encosto, assim também o ocupado, na academia ou fora dela, se torna suspeito de fazer corpo mole no banco de trabalho, do qual passam a ser retiradas garantias e direitos. Como se faz com a população de rua, é preciso “espetá-los” – no caso, fazê-lo “produtivos”, isto é, sacudidos pelo terror permanente, “o principal combustível das tecnologias neoliberais de poder”ix. Trabalhadores e mendigos estão impedidos de demorar, permanecer. Circula!, vem dizer, por exemplo, a terceirização, não reconhecerás amanhã o local de trabalho, nem os colegas, nem seu patrão, que mudarão a cada dia. Enquanto jamais te acomodares, posso te surripiar ao menos 30%. Não se pode ficar parado, acostumar-se ao posto, isto é, interromper a agitação maníaca (no caso da universidade, dar-se ares de um mercurial executivo). Por uma admirável lógica de contaminação, será chamado de encostado aquele que dispuser propriamente de um encosto ou anteparo qualquer como uma mediação a suavizar a pré-histórica luta pela vida. Querer atenuá-la por algum meio é pedir para ser chamado de vagabundo. Como se sabe, essa mediação está sendo destruída, com mais ou menos resistência, em várias partes do mundo dito civilizado, e a essa liquidação se dá o nome de “reestruturação”, “flexibilização”, “terceirização” (vírus que em geral penetra logo na ralé, o pessoal da limpeza e da vigilância, e depois vai expandindo sua ação). Se há alguma diferença entre cada um deles, não importa: constituem todos epifenômenos do mesmo processo em curso. A tendência atual no Brasil de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado nos conflitos entre capital e trabalho é uma forma de dizer que os trabalhadores serão jogados definitivamente aos leões e, se tiverem algum êxito, poderão continuar vivos, mas ninguém mais intervirá nessa lutax.
Não sei se se tratava do mesmo profeta, instruindo para o estabelecimento de um novo tempo, mas, no andar de cima do editorial sobre a greve, estampava-se uma verdadeira carta de louvação ao governo interino pelo “ousado pacote econômico para conter gastos públicos”, que dependeria de medida no congresso para impor a estes um limite legal. Os cumprimentos e as alvíssaras logo davam lugar a importantes recomendações: para esse teto funcionar, refletia, seria necessário “cortar aumentos ora automáticos de certas despesas, como saúde e educação”. Por fim, era preciso ter coragem para o fato de que esse passo implicaria “uma grande mudança constitucional, com a revisão do estado de bem-estar social no Brasil”xi. Isso no andar de cima da página. Mas, no andar de baixo, de foco mais restrito, sobre o pequeno mundo acadêmico, o diagnóstico não era muito diferente, isto é, a universidade não cabe no próprio orçamento. A terapia prescrita era o fim da gratuidade, um item fundamental do “estado de bem-estar social” acadêmico. Nesse caso, as medidas administrativas de fitness, enxugar, cortar, eliminar excessos, vêm a calhar especialmente. Quando se trata de universidade, o dinheiro dos cidadãos é posto num santo altar. O editorialista, imagina-se, espera contar com parte do ressentimento daqueles que não puderam estar nem estarão na universidade pública e mesmo não colocarão aí os seus filhos –muitos nos últimos anos puderam fazer planos de alcançá-la e o fizeram, embora não imediatamente, pegando primeiro o bonde da faculdade particular financiado via Fies e PROUNI– ou, quando conseguiram por os pés lá, também se ressentiram com diferenças sociais, esquemas elitistas, dinásticos e outros, ou se ressentiram de que, tendo vindo de escolas destruídas e logo percebendo sua ilusão ou o conto do vigário pedagógico em que tinha transcorrido parte de sua vida, não estavam nas mesmas condições que seus colegas; se ressentiram ao perceber que, mesmo tendo chegado lá, lá se afastava deles mais um pouquinho e parecia exigir um esforço descomunal para que pudesse estar ao alcance das mãos. As barreiras de fato são muitas, e a universidade, especialmente aquela da predileção do jornal e que mal disfarçadamente plana no alto do título, tomou ares do Castelo kafkiano, habitada por “luminares” –você conseguiu entrar!!? Conhece quem está lá dentro? Nunca estive lá! Ele é nível USP etc. A esse isolamento, que a imaginação dos excluídos torna mítico, a até bem recente e inconcebível ausência de metrô –para articular efetivamente ao corpo da cidade a maior universidade da América Latina –deu contornos feudais. Muitos também, com aptidões intelectuais e críticas, preferiram ou foram levados pelas circunstâncias a empregá-las no mercado, não sem certa culpa, que alguns sentem diminuída quando a universidade vai se assemelhando a uma empresa. Mas, compondo talvez o maior naipe do coro pelo qual o editorialista está bem apoiado, há o daqueles que, flexibilizados ou não, matam um ou dois leões por dia, suportando uma carga de trabalho cada vez maior e mais extenuante, enxugada de toda gordura e tempo morto, inteiramente voltada para a realização da tarefa, de modo que imagens de trabalhadores chineses usando fraldas ou impedidos de tomar café, para não “gastarem” tempo indo ao banheiro ou se encontrando em frente à máquina, é a imagem grotesca de uma situação, no entanto, já real. Talvez não saibam que o mundo acadêmico – cujo sentido social cada vez mais escapa, com isso aumentando seu ódio de se saber contribuinte dele – já está sendo revolvido pela mesma engenharia de produção e que o seu suposto privilégio, caso estivesse intocado, deveria ser uma imagem antes a ser preservada e um dia realizada em todo o mundo laboriosoxii. Em resumo, o ressentimento é o material mais utilizado nessa fogueira, o que incendeia mais rápido…
Mas não apenas do anonimato se serve essa mídia militante, de ação quase direta. Ela, que fala através de muitas línguas, brandiu até mesmo o Marx da Crítica ao programa de Gotha, numa apropriação gloriosa de um dos maiores pensadores da esquerda contra ela mesmo. Seu nome não pareceu logo, mas foi antecedido de um delicioso suspense: vocês acham que é Hayek?, vocês acham que é Milton Friedman? Não, não, não – são vocês mesmos quando mais inteligentes... O importante sociólogo, como diz, que, em sua opinião não era desarrazoado nem obtuso, defendeu ante militantes da social-democracia alemã que as universidades não fossem gratuitas… Não demorou alguns dias, e o mesmo colunista confessava, com humildade, que ele tinha sido advertido por algumas pessoas que o pai do comunismo dissera aquilo justamente porque não havia nenhuma possibilidade de que um proletário frequentasse a universidade, pública para as classes altas, mas paga com dinheiro de todos, de modo que a gratuidade seria então quase um cinismoxiii. Também eu tinha ido checar a passagem no opúsculo de 1875, onde Marx passava um sabão na proposta meio boba de “educação para todos” naquelas condições, semi-estamentais – e de resto, nos países com ou sem revolução burguesa, onde os trabalhadores passavam do mesmo modo ao largo do ensino superior... Para todos?, pergunta. O que seria para todos nessas condições? Só pode ser um nivelamento por baixo, continua ironicamente, pois deviam estar imaginando que eram as classes superiores que iriam descer – na impossibilidade de eles subirem – e então se limitar ao ensino básico, a perspectiva educativa máxima para os operários naquele momento, quando não vinha ampliá-la o ingresso em escolas técnicas, que já começavam a ser criadas como demandas da industrialização tardia na Alemanha. O uso do socialista mais científico de todos, agarrado pelos cabelos, para usar a expressão de Marx em relação às citações desfiguradas presentes no programa, não tinha sido muito rigoroso –seja como for, o jornalista o reconhecia sob a holofote de sua própria coluna, e não num cantinho do “Painel do leitor”. Talvez porque, se dava um braço a torcer, com o outro vinha sacar uma nova arma, esta invencível, os números, que mostrariam uma universidade massificada de forma incipiente (os termos são seus). Os números no interior dela não refletem os números fora dela; assim, por exemplo, 43% dos alunos que frequentam as federais pertencem às classes C, D ou E, que na verdade constituem 67% da sociedade brasileira. Também sou socialista, mas é realmente notável o grau de exigência igualitária de Schwartsman, para quem 43% formam um número incipiente. Sendo assim, conclui que seria melhor cobrar anuidade dos mais ricos, a maioria do alunado. Nesse caso, recorro ao reitor Marco Antonio Zago: “A cobrança de mensalidade não é, a meu ver, uma alternativa para o financiamento da universidade pública no atual momento. No caso da USP, sou contra a cobrança se o objetivo visado for obter uma nova e significativa fonte de recursos. Há inúmeros exemplos de iniciativas na área pública que mostram que, quando se introduz uma fonte de financiamento, ela logo deixa de ser adicional para se transformar em substituta. (…) Pessoalmente temo que um ensino pago na USP possa representar não um avanço, mas um entrave à inclusão”xiv (grifos meus). Também tememos. A cobrança de parte dos alunos logo se estenderia a todos – como forma de dizer que não mais seria voltada para todos, nem idealmente – e sempre sob a mesma ladainha hipnótica e hipócrita da crise, dos recursos escassos, da austeridade, que nunca serve para os setores que a recomendam etc. Por fim, voltaríamos à frequência muito elitizada da universidade no tempo de Marx – e pelo menos a citação de Schwartsman entraria no eixo.
***
Qual forma tomaria o descontentamento “apolítico, difuso e não-organizado”, que poderia fornecer uma expressiva base não só para a mudança social, mas também para o fascismo? – pergunta Marcuse em certa altura de “A esquerda sob a contra-revolução” (publicado em 1972), que começa por identificar, junto com a crise e as perspectivas da Nova Esquerda, as tendências de uma contra-revolução em várias partes do mundo, de caráter inteiramente preventivo no Ocidente (pois não havia no horizonte nenhuma revolução recente ou em preparo) e sob várias formas, da ditadura à democracia parlamentar, passando pelo estado policialxv. No caso americano, a reorganização contra-revolucionária do Estado sob o governo Nixon, a repressão estatal de minorias, como as de ativistas negros e intelectuais radicalizados, a transformação da “força das leis em forças acima das leis”, a brutalidade da polícia e do sistema penitenciário, a virada da política econômica indicavam que “a classe dominante [estava] ficando com medo” e estava a ponto de abandonar a face democrático-liberal para adquirir aquela fisionomia sombria que pela primeira vez ela tinha mostrado em Weimar. Apesar disso, observava, “Não estamos num regime fascista, em absoluto. (…) A questão mais decisiva é se a presente fase de contra-revolução preventiva (sua fase democrático-constitucional) não estará preparando o terreno para uma subsequente fase fascista”. Entre os fatos e elementos protofascistas novos, identificava “um ataque conjugado contra a educação que não seja ‘profissional’ e ‘científica’”, e não apenas através do corte de recursos: “Assim o Reitor das Universidades Estaduais da Califórnia quer restrições sistemáticas aos estudos humanistas e às Ciências Sociais, onde a educação tradicionalmente não-conformista encontrou um nicho”xvi.
Poderíamos também fazer um inventário de aspectos e eventos protofascistas no Brasil atual, ressalvando, no entanto, que, diferentemente da situação norte-americana, o governo brasileiro de hoje é um governo golpista, não eleito democraticamente, e o establishment midiático de modo geral se tornou nos últimos anos incomparavelmente menos democrático, o que se agrava no caso da televisão e do rádio. Nossa lista incluiria condições como a depressão econômica, relacionada à crise mundial do capitalismo, uma perspectiva eleitoral – os quase 23% de intenção de voto em Bolsonaro entre os 5% mais ricos da população – mas também fatos um tanto estranhos, de algum modo inéditos: a defesa explícita da tortura (ainda que sua prática em relação majoritariamente a negros e pobres nunca tenha sido suspendida), a série de ataques, sobretudo verbais (embora não só) que ocorreram, durante mais de um ano e até o último momento da fase preparatória do impeachment, em geral efetuados em grupo, contra cidadãos comuns, célebres ou políticos de algum modo ligados ao PT; a imagem da mão sem o dedo mínimo nas faixas das manifestações pelo impeachment (referente a Lula ou a uma parte expressiva de trabalhadores que a cada ano sofrem essa mutilação?), o ataque recente de um grupo de extrema-direita a estudantes da UNB, numa das dependências da universidade e com intenção de chegar ao centro acadêmico da Sociologia, e, desligados de motivos políticos, os linchamentos, os estupros coletivos, orgulhosamente filmados. Há ainda outros fatos e, como estes citados, precisariam, se se quisesse efetivamente medir a sua singularidade, ser compilados e confrontados com os produzidos desde sempre no interior de uma cultura tão autoritária, machista e racista. Assim, a olho nu, eu diria, por exemplo, que a defesa explícita – tomada por cidadãos de classe média e classe média alta-- dos PMs que assassinaram um menino de 11 anos, negro, quando este roubava um carro, talvez seja algo mais novo do que o assassinato em si… Mas então – como também pudemos nos habituar a algo assim? Entre esses acontecimentos nauseantes, poderia também figurar a visita que Alexandre Frota fez ao MEC junto com seu grupo, “revoltados on line”. Como se sabe, eles teriam ido levar o projeto da “escola sem partido”, aparentemente um projeto utópico, para quando chegasse um tempo de homens não-partidos, reconciliados consigo mesmos e entre si – e depois de definitivamente superada toda a má cultura e educação que teriam florescido sob a ditadura do partido único petista.
Na verdade, do mesmo modo que sob o título “greve na torre de marfim” se cristalizava a má-vontade neoliberal com a militância e o espírito autônomo, no sintagma “escola sem partido” concentra-se o ódio terrorista tanto ao conhecimento como à política, tanto à teoria como à prática (caso não seja a prática fascista). A preposição sem é o comandante de um fuzilamento em série, que também visa a escola como instituição – não é à toa que muitos deles defendem o anti-social homeschooling, provavelmente a ser praticado no interior de alphavilles, de onde também se poderia votar eletronicamente no que quer que seja. Se a sociedade há séculos vinha se preparando para Victor Mature, como escreveram Adorno e Horkheimer a propósito daquele que, guardadas as proporções, era o Alexandre Frota do cinema hollywoodiano nos anos 40, o neoliberalismo – profundamente antiintelectual, grassando no inframundo de nossa telinha impenitente (mesmo sob o lulismo) de “reality shows”, jornalismo publicitário, empreendedorismo neopentecostal e gincanas de auditório – preparou muito bem o terreno para a ida do ator ao ministério já dirigido por Darcy Ribeiro. De fato, a visita foi menos estranha do que pode parecer, e talvez seja por essa razão que não foi tema de nenhum editorial do jornal que preferiu concentrar seu sarcasmo em professores e funcionários. Ligado a isso, o desrespeito do governo Alckmin pela pesquisa em Humanidades, e de todo modo, o desprezo que sempre demonstrou pela educação e cultura em geral, não fazendo nenhum segredo de que para ele só deveriam existir escolas de caráter “profissional” ou “científico” e decerto o pensamento deveria ser sempre customizado. As prerrogativas dos movimento “escola sem partido” e outras confrarias, nacionalmente articuladas (e amparadas por projetos de lei como o n.867/2015, de autoria um deputado do PSDB-DF), levariam a situação a um novo patamar, no qual não se reconhece a escola como espaço público, autônomo, livre da tutela da família e (do Estado) e, como tal, instância importante de socialização e, ao menos idealmente, de formação do indivíduo “autodeterminado”. Na verdade, trata-se de enquadrar as exceções, aqueles professores que, no caso das escolas públicas, apesar de enfrentarem condições de trabalho muito deterioradas desde a ditadura militar, sempre buscaram atualizar esse requisito iluminista da instituição pedagógica. Mas, para este se cumprir universalmente, deveríamos ter antes uma contra-escola, uma contra-instituição, uma contra-educação, como imaginaram Marcuse e os movimentos de Maio de 68, e nela o passado deveria ser ensinado com o fim de explicar a falência do presente, mas também como reserva de sonhos e concepções exigentes de humanidade. Não tendo isso se generalizado, podemos supor que a “escola sem partido” é uma medida preventiva, que visa eliminar as ainda não efetivamente rotineiras práticas e abordagens críticas – ainda que mais frequentes desde Junho de 2013, cujo clima de algum modo penetrou nas escolas, como o comprova a militância dos secundaristas de hoje, e não apenas pela participação ativa que integrantes do MPL vieram a desempenhar nela. Precisaria ser devidamente domesticada a figura daquele professor de História, apenas mencionado, no filme Que horas ela volta? e que, na perspectiva da jovem pobre e altiva, desentendida dos velhos arranjos, fora o responsável por desencadear nela um processo subjetivo, primeiro de sensibilização estética e depois política, pelo qual ela veio se interessar por arte moderna, deixou de se ver como cidadã de segunda classe e começou a se imaginar como candidata a subir a rampa de Vilanova Artigas para frequentar o curso de Arquitetura da USP– na perspectiva da diretora, Anna Muylaert, tinha sido também o lulismo. Na “escola sem partido” o professor (sobretudo o da área de humanidades) seria diretamente tutelado pela instância privada da família, a cujo horizonte moral e ideológico não poderia fugir, pois, como advertem, liberdade de ensinar não inclui liberdade de expressãoxvii. Mas o que significaria a família quando o mais importante agente de formação sob o capitalismo contemporâneo tem sido a mercadoria? A mercadoria… é sem partido.
Na verdade, não apenas no que diz respeito a esse tema, os conhecimentos de um marombeiro notoriamente sádico (como orgulhosamente admitiu e agiu num programa de televisão) vêm calhar com a política como gestão (se ainda sobrar algo a gerir). Como “personal trainer político e corporativo”, ele estaria apto a ensinar sobre eliminação de massa imprestável, “não magra” – os lipídeos de direitos humanos, trabalhistas, benefícios sociais, cultura, ciência etc. –, e a formação de um bombado tórax de segurança para proteger os lucros e rendimentos da burguesia financeira e patrimonial. Sob o lema clássico do fitness desde os anos 80, “no pain, no gain” (não há ganho sem sofrimento), ajudaria a acelerar a agenda de fusões ministeriais, enxugamentos, cortes, reestruturações, como quem passa um facão em gorduras e pelancas. E isso não porque o Estado, ou estruturas criadas através dele, tenha se simplificado e democratizado a ponto de, como desejava Lênin, poder ser administrado com os conhecimentos de uma cozinheira – mas porque o trabalho de liquidação pode ser feito por qualquer um.
—
*Agradeço a Bruno Carvalho de Freitas pelas excelentes sugestões e comentários ao artigo.
i. Folha de São Paulo, 25/05/2016.
ii. O artigo foi publicado efetivamente menos de dois dias depois de decisão tirada em assembleia dos professores da USP. E é a essa decisão que se refere quando diz adiante “Avessos aos fatos concretos, os docentes uspianos mais uma vez seguiram o comando desarrazoado dos servidores”.
iii. Uma forma de reproduzir internamente, com proteção jurídica ad hoc, a concorrência em nível corporativo estimulada pelo chicote permanente de metas gerenciais e sanções administrativas. Estas não excluiriam o risco de exoneração ou mudança de regime de trabalho, com decréscimo no salário, caso não se alcance a produtividade nos termos estabelecidos por uma pequena comissão a ser instituída diretamente pelo reitor. Cf. resposta ao editorial enviada pelo presidente da Adusp (Associação de Professores da USP), César Minto, “Greve na USP e bunker de chumbo”, Folha de Sâo Paulo, 08/06/2016, além de todo o material a esse respeito produzido pela Adusp (disponível em http://www.adusp.org.br/index.php/carreira-docente).
iv. Perto da sede do Sintusp floresce há muito tempo um viveiro de bancos de todas as bandeiras. Porque é importante ter onde colocar e aplicar o salário, mas não defendê-lo de ataques.
v. A expressão não está tal e qual em Roberto Schwarz, mas seus termos e potencial crítico devem ao artigo “Nunca fomos tão engajados”, escrito em 1994, na aurora do governo FHC (Sequências brasileiras, São Paulo, Companhia das Letras, 1999, pp. 174 e 176).
vi. A lista é longa: o sucateamento de laboratórios, da creche, do Hospital Universitário (ameaçado de desvinculação), da Escola de Aplicação, o corte de bolsas de permanência estudantil, para ficar apenas numa das modalidades, o fim da reposição automática de professores afastados por morte ou aposentadoria (e a situação precária de professores que vêm substituí-los), a diminuição do número de funcionários técnico-administrativos (e aumento da carga de trabalho dos que ficaram) em consequência de um plano de demissão voluntária, a ausência de uma política de cotas raciais e sociais, ponto central da pauta dos alunos.
vii. “Os pesquisadores precisam se arriscar mais, sair da zona de conforto que os leva a sucessos garantidos de antemão. Ora, isso permite que a vida deles transcorra sem surpresas muito positivas ou negativas (…) Os que se arriscam mais são sempre os mais jovens” (Entrevista a Lucas Souza e Mariana Barros, revista Veja, 25/06/2014).
viii. A frase, irônica, é de um urbanista inglês, Rowland Atkinson, ao criticar o que também pode ser chamado “design contra o crime”. V. https://outraspalavras.net/posts/arquitetura-hostil-as-cidades-contra-seres-humanos/
ix. Tendência que, embora deva plenamente se consolidar com aprovação de projeto de lei atual, a PL4962/2016, já tinha sido trazida à baila com proposta encaminhada já no governo anterior, em 2012, por setores a ele ligados, a ACE (Acordo Coletivo Especial). V., a esse propósito, Jorge Luiz Souto Maior, “Os direitos trabalhistas sob o fogo cruzado da crise política” (http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Os-direitos-trabalhistas-sob-o-fogo-cruzado-da-crise-politica/4/35810).
x. “Sem meias medidas”, Folha de São Paulo, 25/05/2016.
xi. Ideia que é um pouco adaptação de Adorno: “O fato de que alguns vivam sem se ocupar do trabalho material e, como o Zaratustra de Nietzsche, possam desfrutar de seu espírito (um injusto privilégio) também indica que isso seria possível para todos” (“Anotações marginais sobre teoria e prática”, Palavras e sinais, modelos críticos II). Esse importante ensaio, de 1969, já foi algumas vezes lembrado, na imprensa e em espaços menos ou mais públicos, a propósito das greves na USP. De fato, Adorno faz aqui uma crítica dura à Nova Esquerda e ao movimento estudantil, já em crise e pelo qual foi assediado em certo momento (é famoso o episódio das estudantes se acercando dele e lhe mostrando os seios em meio a uma aula que ministrava). Nessa reflexão articula os erros da nova e da velha esquerda nos anos 30 pela análise de suas tendências autoritárias – apoiando-se bastante em Psicologia das massas e análise do eu, de Freud – e da aversão à teoria. Essa análise não perdeu, me parece, nenhuma atualidade. Mas é preciso lembrar que, se a sociedade administrada sob o capitalismo tardio é um objeto central em sua crítica de maneira geral –e foi referência importante para o movimento estudantil –, era também seu contexto, muito diferente do nosso, que nunca pôde universalizar a integração no mercado e nos direitos e agora passa por uma regressão forte em relação às conquistas recentes e mesmo mais antigas, como a CLT. O diagnóstico da “práxis paralisada”, aplicado sem mediações num contexto em que a polícia sempre tomou o lugar da política (para a resolução da questão social), pode ter efeito conformista conforme o caso. A Der Spiegel, depois do incidente na Universidade de Frankfurt, entrevistou o filósofo, que, tendo manifestado numa das respostas sua posição resolutamente contra a violência, a revê sob outra pergunta feita em seguida: “Também sob uma ditadura fascista? [isto é, contra a violência também nesse caso?]”. Ele diz: “Certamente haverá situações em que isso se apresenta de outro modo. A um fascismo real só se pode reagir com violência. Nisso não sou de modo algum rígido (…)”. Depois, em resposta a uma questão a propósito da legitimidade do ativismo sob a ditadura militar na Grécia: “É evidente que na Grécia eu admitiria toda sorte de ações”. Quer dizer, sua posição, como ele mesmo disse, não é rígida e admite matizes. V. “A filosofia muda o mundo ao manter-se como teoria”, Maio de 68 (orgs. Sergio Cohn e Heyk Pimenta), Rio de Janeiro, Azougue, 2008, pp. 132 e 135. O título original da entrevista é “Keine Angst vor dem Elfenbeimturm”, “[não tenho] nenhum medo da torre de marfim”.
xii. Helio Schwartsman, “A esquerda e a universidade” e “Nibor Dooh”, Folha de São Paulo, 30/05/2016 e 04/06/2016, respectivamente.
xiii. Entrevista a Veja, cit. A pergunta dos jornalistas tinha ânimo, digamos, bastante ativista: “Por que no Brasil não se adota o princípio óbvio e justo de cobrar mensalidades nas universidades públicas daqueles que podem pagar?”. Em entrevista concedida ao Estadão o reitor foi também “achacado” por pergunta semelhante: “Em muitos países, como Estados Unidos, Inglaterra e China, as universidades públicas são pagas. Aqui é possível levar essa discussão?” (25/09/2014). Isso para não mencionar os palpites sobre regime de trabalho, estabilidade, políticas meritocráticas, convênio com iniciativa privada, prêmio Nobel, cotas. Quanto ao penúltimo, uma pergunta alarmantemente infantil (“O que falta para alguém da USP ganhar um Prêmio Nobel?”). Quanto ao último ponto, a Veja é insistente: “O que o senhor pensa da atual política de cotas?”, pergunta. Por talvez não terem se satisfeito com a resposta, que se mostrava menos refratária às cotas do que decerto esperavam, reformulam a pergunta, de forma bem menos impessoal e “neutra”: “O senhor acha razoável que uma em cada duas universidades federais seja preenchida por critérios indiferentes ao mérito, como determinado pela atual Lei de Cotas?”. Na resposta, o prof. Zago mostrou bom senso e disposição democrática em relação ao tema.
xv. Herbert Marcuse, Contra-revolução e revolta (trad. Alvaro Cabral), Rio de Janeiro, Zahar, 1973, pp.11-12. Como dirá adiante, “O establishment teve uma percepção mais aguda da gravidade da ameaça do que a própria Nova Esquerda” (p.43).
xvi. Op. cit., pp.33-35.
xvii. Cf. http://escolasempartido.org/component/content/article/2-uncategorised/484-anteprojeto-de-lei-estadual-e-minuta-de-justificativa


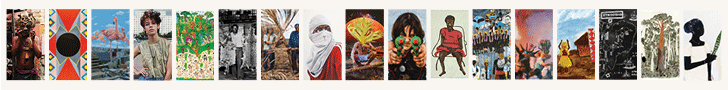

Obrigado pelos textos. Valeu demais.
A leitura do texto de Priscila Figueiredo deixa clara a razão dos ataques à escola pública, do fundamental à universidade, e às artes…
Pensar é perigoso… Pra quem ?
Acompanho, há um ano, as discussões sobre sexualidade e gênero, e Escola Sem Partido…
Tenho um trabalho sobre isso no YouTube e outro no Google+…
No Google+, reúno os melhores textos que encontro nos grandes portais de jornalismo e outros lugares da web… Uma busca diária…
Na lista, também há referências e links para alguns filmes, obras de arte, trabalhos acadêmicos…
Aqui, está o link para acessar a lista, uma pequena contribuição para a defesa da democracia…
https://plus.google.com/113115111361171010092/posts/9MZbmPSqtd8
Ótimo artigo! Quem sabe o “jornalismo publicitário” reinante entre nós aprende alguma coisa com você.