O naturalismo moderno como (des)razão
“O percurso é claro: a conquista da ‘natureza’ se auto-proclama ‘progresso’. Há uma ética que se vê como poder arbitrário para tomar a natureza como matéria-prima e dotá-la de sentido histórico num processo de desenvolvimento”
Publicado 15/07/2020 às 18:11 - Atualizado 15/07/2020 às 18:40

Por Ricardo Neder, na série A Gambiarra e o Panóptico
Às quartas-feiras, Outras Palavra publica uma série de artigos de Ricardo Neder, intitulada A Gambiarra e o Panóptico (fruto de livro homônimo, publicado pelo Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina, da UnB, e editora Lutas Anticapital) que, por meio dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, visa compreender a sociedade de controle e vigilância – e se é possível superá-la e reconstruir o Socialismo e as Democracias. Leia a apresentação da série. Aqui, todos os textos já publicados.
As ciências naturais se credenciam interrogando a natureza e tirando conclusões que só podem tornar-se significativas para a condição humana quando operam, isto é, quando realizam a transmutação de valores que se autorratifica na passagem do projetado (automóvel, por exemplo) para o construído (ferro/aço/petróleo).
A operação artificial-natural é invertida: o construído passa a ser também natureza. A visão dessa capacidade de operação, porém, é orientada pela desmitificação da idéia de natureza, característica dos tempos modernos, momento em que as forças naturais deixaram progressivamente de aparecer como indomáveis e inimitáveis. O mito naturalista pertenceria essencialmente ao passado da cultura e evidenciaria o que foi a pré-história do domínio técnico do homem sobre a natureza, algo pertencente a pré-industrialização. (ROSSET, 1987:62).
Esta visão, entretanto, superdimensiona o efeito de desnaturalização realizado pela cientificidade moderna e, ao mesmo tempo, esquece a penetração crítica dos pensadores pregressos a todo tecnicismo e a contestação da natureza anterior ao domínio prático sobre ela. (ib, 1987:63). Na realidade, a contestação da natureza começou muito antes do tempo industrialista.
“Pensadores (como os pré-socráticos) que não dispunham de nenhum controle sobre a natureza, começam a minar as bases da idéia de força natural (animismo) sem contudo antever soluções práticas destinadas a impedir os efeitos terríveis dessas pseudoforças pro-venientes de um acaso que se disfarça em pseudonatureza”. (ROSSET, 1987:63).
Essa
contestação da idéia de natureza – ou artificialismo – e o seu
contrá-rio – o naturalismo – tiveram, historicamente, momentos
marcantes:
1) as geniais intuições do Artificialismo pré-socrático. Surgido na Grécia (entre os séculos VI e V a.C) afirma que a Natureza nem é obra dos deuses, nem uma construção antropomórfica dos homens, antropológica, sugerindo não existir natureza em qualquer dos sentidos reconhecidos pelas crenças populares e religiosas precedentemente. A Natureza é, assim, desvinculada de uma rede de interpretações mágicas e místicas.
2) O Naturalismo antigo presente na obra de Aristóteles e apropriado ao longo do nascimento do Ocidente (séc. IV a.C. – séc. XV d.C.) se caracteriza por afirmar que a “natureza não é nem artifício, nem acaso, mas instância ‘natural’ responsável por todas as produções que não são humanas. Esse naturalismo antigo, frequentemente apresentado como um progresso do racionalismo em relação às representações incoerentes e irracionais da física pré-socrática, apresenta características de uma restauração e de uma regressão”. Trata-se de uma restauração do mito naturalista que procura uma instância metafísica – a “natureza”, as “forças naturais” – como princípio causal do universo que se apresenta como independente do observador, sendo tomado como elemento organizador e produtor da existência. É, nesse sentido, um pensamento regressivo com relação ao artificialismo pré-socrático anterior. (ib, 1983:130).
3) O artificialismo pré-cartesiano (séc. XVI e primeira metade do séc. XVII) [“Nunca os imortais tabus da natureza e do natural foram tão livre e deliberadamente ignorados. (…) Não há nenhum período da história da filosofia que possa reivindicar uma liberdade intelectual comparável àquela que reinou durante os primeiros cinquenta anos do século XVII. Este artificialismo pré-cartesiano é uma corrente europeia, simultaneamente vivaz na Itália (Maquiavel), na Inglaterra (com Bacon e Hobbes), na Espanha (com Baltasar Gracian).”] (ib, 1983:130).
4) E o naturalismo moderno (a partir da segunda metade do séc.XVII) instaurado pelo cartesianismo, “Prontamente confirmado pela filosofia das Luzes – Locke e Rousseau – e depois pelo idealismo alemão e por todas as formas modernas de filosofia da história”, esse naturalismo, tal qual o naturalismo antigo, é essencialmente “empresa de proteção e restauração. Proteção contra o artificialismo anterior (a tarefa de Descartes é bem menos a de criticar o naturalismo aristotélico que a de recusar um artificialismo semelhante ao de Hobbes) restauração de uma idéia de natureza depurada de algumas concepções que o descostume colocou fora de uso. E, exatamente como o naturalismo da Antiguidade, parece ter conseguido instaurar uma ideologia relativamente sólida e durável, perfeitamente capaz de resistir (por efeito de integração) à influência de pensadores isolados como Nietzsche e Marx: deste modo instaura, aos olhos do pensamento naturalista, uma nova Idade Média intelectual, cuja atual modernidade não representava verdadeiramente senão o início”. (ROSSET, 1989: 125-130 passim).
Este debate entre natureza e artifício (História) se dá noutro registro que não o da perspectiva de uma natureza duplicada pelo artifício (natureza moderna) e reprimida pela técnica. Ele se dá no panorama de uma interrogação mais vasta que abarca as noções de necessidade e acaso (incorporadas no registro de verdade da ciência moderna): ”Para quem contesta a natureza profundamente, não se trata de determinar se a natureza pode ou não pode resistir vitoriosamente aos assédios do artifício (problema de Plínio, o Velho e de Rousseau), mas de se perguntar se a natureza – ainda que a supondo entregue a si mesma – pode ser considerada o campo aberto a uma necessidade que transcende as eventualidades da intervenção do artifício; em outros termos, se existe, na natureza, qualquer coisa mais necessária que o artifício. A mais profunda (a única) problematização da idéia de natureza não começou no momento em que o artifício começou a rivalizar com a natureza, mas no momento em que um pensador pressentiu o perfume do acaso nas produções aparentemente necessárias da natureza (…)” (ib, 1987: 64).
Se a separação entre artificial e natural é anterior às dicotomias (cartesianas) tão marcantes da modernidade, também é verdade que o domínio da operação e a era do maquinismo acarretaram um aprofundamento disso. Ao gerar condições de organização do trabalho como força coletiva, o industrialismo colocou a duplicação em si, a cópia e a mimese, em face aos processos naturais, como um objetivo máximo: a superação do movimento de degradação que leva a ordem à desordem, e da natureza ao acaso. As forças sociais devem rivalizar e superar as forças naturais segundo a ótica naturalista da ciência moderna. Substitui-se o mito animista pelo industrialista, enquanto produção social organizada como poder coletivo equivalente aos mais fortes e poderosos terremotos, furacões e tempestades: duplicação das forças naturais, adoração do poder coletivo (cidade–estado potencializada como metrópoles, igrejas, famílias, empresas, organizações e redes de intensificação do poder coletivo).
Uma questão ambiental contemporânea parece se colocar como esta consciência de má-fé que emerge nos anos 1960 e, sobretudo, eclode na enorme divulgação institucional da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (UNCED-92). Tal razão é cínica porque passa a ser interpretada por organizações não–governamentais e agências estatais, organismos internacionais, ora como revisão, ora como um problema que se equaciona no campo de uma ética planetária, tão vaga quanto a estrela da Ursa Maior.
Ela tem por objetivo superar a dicotomia natureza/desenvolvimento, propondo em seu lugar um ‹tertius›, nomeado como ‹desenvolvimento sustentável›, uma tentativa de síntese entre artifício e natureza. Ora, parte do movimento ambientalista e ecológico parece se inscrever na epistemologia naturalista, mas estão longe de serem os novos bárbaros do capitalismo industrial (trabalhadores ludditas que queriam destruir as máquinas), mas se fortalecem com proposições conservacionistas e preservacionistas por defenderem a justaposição entre as duas instâncias. Outras correntes do movimento ecológico defendem a visão de que ele está preocupado com a ação concreta das estruturas sociais no mundo real (e menos) com a maneira ideológica pela qual elas se autodefinem politicamente. A tecnologia e a organização das relações produtivas não são elementos neutros. Eles estão condicionados pela ordem sociocultural que lhe deu origem.
Resta saber se essa visão contém, de forma implícita ou germinativa, aspectos naturalistas. Esse é o ponto mais problemático da consistência de muitos movimentos que militam em torno da questão ambiental hoje. De fato, toda posição mista que quisesse descrever a existência – particularmente a existência humana – como um composto de artifício e natureza seria uma posição infalivelmente naturalista. Porque distingue as duas instâncias mesmo que se recuse localizá-la com bastante precisão (psíquica ou historicamente). Afirma assim, a emergência da técnica humana sobre um fundo de natureza. Desse modo, permanece respeitado o reino das três naturezas aristotélicas: natural, humana e fortuita. (Clement Rosset).
Aqui reside uma característica ainda pervasiva da modernidade, impregnada no debate entre os movimentos sociais no campo ambientalista identificados com a política de conservação e preservação da natureza. Recordemos que, inaugurando a modernidade, Descartes dizia: “não reconheço nenhuma diferença entre as máquinas feitas por artífices e os vários corpos que só a natureza é capaz de criar”. O que marca a idéia de natureza na modernidade é justamente essa vontade de reproduzir algo mais perfeita e completamente que certa natureza. Subjacente a essa vontade, a superação do medo do animismo: “Desde sempre o Iluminismo no sentido mais abrangente de um pensar que faz progressos, perseguiu o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer deles senhores. Mas completamente iluminada, a terra resplandece sob o signo do infortúnio triunfal”, (Horkheimer e Adorno na abertura da Dialética do Iluminismo).
Ora, com o advento do maquinismo, a cópia se converteu em modelo mecânico, e colocada para funcionar em escala real (não mais como relógio na cristaleira, nas igrejas ou fontes artificiais como no tempo de Descartes), mas enquanto produção social. Isso gerou uma outra natureza (industrialismo) que acelerou processos de degradação inerentes a sua escala. Henry Thoureau (filósofo naturalista norte-americano), Ernest Haekel (fundador da Ecologia como ramo da Biologia), José Lutzenberger (autor do Manifesto Ecológico Brasileiro) e os conservacionistas em geral tomaram a preservação como princípio rígido: trata-se de separar o degradado do não-degradado; a desordem da ordem, a natureza do acaso. Predominante até os anos 50 deste século, o preservacionismo foi se esvaindo na impotência de segregar os territórios permissíveis a degradação, pois o industrialismo adquiriu penetração planetária. Típica postura-mímese industrialista, às avessas, que tenta perservar o que não foi destruído como se as formas (legislação, normas, leis) fossem a essência da crise.
Em seu lugar – nos anos 1968/1970 do Séc. XX – emerge a contestação cultural e de valores que assume, mais ou menos, a seguinte configuração (artificialista): não se trata de frear o movimento de degradação que leva da ordem à desordem, e da natureza ao acaso, porque a natureza não criou nada, sequer seu processo de degradação: “Tudo o que a natureza sabe fazer é se desfazer: nem sabe transgredir nem criar”. (Clement Rosset).
Os movimentos ambientalistas e ecológicos tornaram-se mais complexos, embora ainda se debatam com o conservacionismo naturalista. Para novas correntes ecológicas, a degradação tem um momento constitutivo no plano das consciências e práticas socioculturais, na organização cultural da produção, na velocidade da circulação e difícil degradação daquilo que não é fungível nos bens de consumo.
A questão ecológica, nas abordagens ditas biocêntricas e antropocêntricas, encontra-se num estágio de dualismo naturalista, tal como essa noção é conceituada acima. As dificuldades da sociologia política na adequação empírica da questão ambiental decorrm também desse fato.
Na verdade, descrever as práticas, normas e técnicas em torno dos interesses envolvidos na produção social da poluição configura um duplo movimento. É preciso conhecer a base dos processos físico-químicos de transformação de matérias-primas e insumos sob uma dada base técnica (momento tecnológico) para situar sociograficamente a prática dos atores (momento da produção social de significados). Nessa perspectiva, haveria uma questão de grau empírico: indústrias químicas e siderúrgicas geram maiores riscos para os coletivos de trabalho e as comunidades envolvidas, que processos industriais secos (não transmutadores de matéria-prima e insumos), caso da eletro-eletrônica. Mesmo dentro de um ramo industrial específico, há fases da fabricação em que varia o risco, caso da fabricação de polpa de celulose e a do papel (considerada altamente agressiva ao meio ambiente a primeira, o que está longe de ser o caso da segunda). Isso vem se tornando, nos últimos 40 anos no ocidente capitalista, objeto de pesquisa em pelo menos dois campos básicos.
No primeiro, os estudos diferenciam os segmentos, porte, localização da produção, tipo de tecnologia, além das matérias-primas e insumos com as quais lidam, tomando como ponto de partida uma metodologia e corpo teórico próprios das disciplinas tecnológicas (engenharia ambiental, sanitária, geológica, hídrica, pesquisa de padrões de qualidade e degradabilidade de compostos) e outras derivadas das ciências naturais (ecologia/biologia, química, geologia).
O segundo campo abarca o trabalho das disciplinas de Ciências Humanas e Sociais cuja centralidade é dirigida para as normas e valores, práticas individuais e coletivas, motivações e pressupostos, visões e sistemas de comportamento que envolvem os protagonistas nessa matéria. Em se tratando, por exemplo, da poluição industrial, os elementos levantados por essas disciplinas (Sociologia, Antropologia, Política, História, Direito, Psicologia) são fortemente influenciadas pelos elementos derivados das disciplinas tecnológicas.
No primeiro campo, trata-se de disciplinas ditas aplicadas, que tanto geram alterações físico-químicas em processos de fabricação de acordo com requerimentos materiais, quanto provocam alterações sociais no contexto do que já se convencionou chamar de “normatividade tecnológica” (Michel Thiollent). O equívoco naturalista é tomar a normatividade tecnológica como algo objetivo e externo aos atores sociais, imediatamente, e depois procurar adequar os dados “duros” aos interesses em jogo.
O que distinguia História e Natureza antes da época moderna era uma qualidade específica: registrar feitos, sofrimentos, gestos e epopéias que pudessem se tornar imortais, e, desta forma, competir com a imortalidade do natural em seus ciclos de repetição. Se na época moderna essa qualidade tornou-se superada, isso se deve ao fato de a construção da história converter-se em algo equivalente a um movimento de fabricação da natureza – não enquanto ato de criação demiúrgica – mas como resultado de algo em si, que é o processo (repetição histórica, cíclica, regularidade). A esse movimento podemos denominar provisoriamente de industrialismo. Assim, para fins da problemática aqui anunciada – isto é, o olhar de caráter naturalista remanescente no industrialismo – conviria explorar essa persistência. Debrucemo-nos sobre a Dialética do Iluminismo, de Horkheimer e Adorno, cujo estilo é particularmente rico para este fim:
a) Momento inicial (I)
“Os mitos tombam como vítimas do Iluminismo, pois desde sempre o Iluminismo perseguiu o objetivo de livrar os homens do medo e fazer deles senhores”. (Horkheimer e Adorno)
b) Momento inicial (II)
“Os mitos que tombam como vítimas do Iluminismo já eram, por sua vez, seus próprios produtos. O mito pretendia relatar, denominar, dizer a origem; e, assim, expor, fixar e explicar. Com a escrita e a compilação dos mitos essa tendência se fortaleceu. De relatos que eram, logo passaram a ser doutrina. O mito passa a ser iluminação e a natureza, mera objetividade. O preço que os homens pagam pela multiplicação do seu poder é a sua alienação daquilo sobre que exercem o poder. O iluminismo se relaciona com as coisas assim como o ditador se relaciona com os homens. O homem de ciência conhece as coisas, na medida em que pode produzir. É assim que o em-si das coisas vem a ser o para-ele. (…) Para as práticas locais do curandeiro poderem ser substituídas pela técnica universalmente aplicável, foi necessário, em primeiro lugar, ter havido um processo em que os pensamentos se tornaram independentes dos objetos, semelhante ao que se perfaz no eu adaptado à realidade”.
c) Momento Intermediário (I)
“Enquanto totalidade verbalmente desenvolvida – cuja pretensão à verdade reprimiu a fé mítica mais antiga, as religiões primitivas – o mito solar patriarcal é por sua vez iluminismo com o qual o iluminismo filosófico pode medir-se no mesmo plano. Ele recebe agora o pagamento na mesma moeda. A própria mitologia desencadeou o processo sem fim do iluminismo, no qual qualquer visão teórica determinada sucumbe, inelutável e necessariamente, como vítima da crítica arrasadora de ser apenas uma crença, a tal ponto que os próprios conceitos de espírito, verdade e até mesmo de iluminismo são relegados ao domínio do feitiço animista. (…) Assim como os mitos já são iluminismo, assim também o iluminismo se envolve em mitologia a cada passo mais profundamente. Ele recebe todo seu material dos mitos, para então, destruí-los e, enquanto justiceiro, cai sob o encantamento mítico.”
d) Momento Intermediário (II)
“Tal como as primeiras categorias representam a tribo organizada e seu poder sobre o indivíduo, toda a ordem lógica, dependência, concatenação, extensão e conexão dos conceitos fundamentam-se nas relações correspondentes da realidade social, da divisão do trabalho. Contudo, esse caráter social das formas do pensar não é, como ensina Durkheim, expressão de solidariedade social, mas testemunho da unidade impenetrável entre sociedade e dominação. A dominação confere maior força e consistência ao todo social no qual se estabelece. A divisão do trabalho, na qual a dominação se desenvolve socialmente, serve à autoconservação do todo dominado. Mas com isso, o todo como tal, a atividade da razão a ele imanente, torna-se execução do particular. A dominação faz frente ao indivíduo a título de geral, de razão da esfera da realidade. O poder de todos os membros da sociedade que, enquanto tais, não dispõem de outra saída aberta, soma-se, sempre de novo, por meio da divisão do trabalho que lhe é imposta, para realização justamente do todo, cuja racionalidade é assim por sua vez multiplicada. O que é feito a todos por poucos, perfaz-se sempre pela subjugação de alguns por muitos: a opressão da sociedade exibe sempre, ao mesmo tempo, os traços da opressão exercida por um coletivo. É essa unidade de coletividade e dominação, e não a imediata generalidade social, a solidariedade, que se sedimenta nas formas do pensamento”.
e) Momento de Consumação (I)
“(…) o iluminismo é tão totalitário quanto qualquer outro sistema. Sua inverdade não é, como lhe acusavam desde sempre seus inimigos românticos, o método analítico, a volta aos elementos, a decomposição por reflexão, mas o fato de que, para ele, o processo está decidido de antemão. Ao tornar-se, no procedimento matemático, a incógnita de uma equação, o desconhecido fica assim caracterizado como um velho conhecido, mesmo antes de ser determinado seu valor. Antes e depois da teoria dos quanta, a natureza é aquilo que deve ser compreendido matematicamente; mesmo o que não se encaixa, insolubilidade e irracionalidade, é cercado por teoremas matemáticos. (…) O procedimento matemático tornou-se como que um ritual do pensar.”
f) Momento de Consumação (II)
“Mas, a esse pensamento garantido nos diversos ramos da ciência [em] face aos sonhos de um visionário, é apresentada a conta: a dominação mundial sobre a natureza vira-se contra o próprio sujeito pensante, dele nada mais resta do que justamente aquele eternamente idêntico ‘eu penso’ que deve poder acompanhar todas as minhas representações. Sujeito e objeto tornam-se ambos nulos. O si-mesmo abstrato, o título legal para fazer relatórios e sistematizar só tem diante de si material abstrato que não possui outra propriedade senão a de ser substrato de semelhante posse. A equação entre espírito e mundo é equacionada sem deixar resto, mas devido apenas a seus dois membros serem reciprocamente simplificados. Na redução do pensar ao aparato matemático está implícita a consagração do mundo como medida de si mesmo. (…) Com isso o iluminismo recai na mitologia, da qual nunca soube escapar”.
g) Momento de Consumação (III)
“No mundo do iluminismo, a mitologia entrou no reino do profano. A existência radicalmente purificada dos demônios e de sua prole conceitual assume, na sua naturalidade límpida, o caráter luminoso que o ante-mundo atribuiu aos demônios. Sob o título de fato bruto, a injustiça social da qual eles se originam é hoje sacralizada como uma injustiça que se subtrai eternamente a investidas, assim como o curandeiro era sacrossanto, sob a proteção de seus deuses. A dominação não é paga apenas com a alienação do homem com respeito aos objetos dominados: com a reificação do espírito, as próprias relações entre os homens foram enfeitiçadas, bem como as de cada um dos indivíduos consigo mesmo. Ele se atrofia até virar ponto nodal das reações e dos modos de funcionamento convencionais dele esperados concretamente”.
h) Momento de Consumação (IV)
“O animismo animou o real, o industrialismo reificou as almas. Pelo aparato econômico, as mercadorias são dotadas automaticamente, antes mesmo da planificação total, de valores que decidem sobre o comportamento do homem. Desde o momento em que, com o fim da troca livre, as mercadorias perdem suas qualidades econômicas e até mesmo seu caráter de fetiche, este último aspecto se propaga como uma cãibra sobre a vida da sociedade, em todos os seus aspectos”.
Como duplo da natureza, uma aparente segunda natureza, o industrialismo tem entre seus elementos-chaves a transformação interna pela operação, manipulação tecnicamente induzida dos ecossistemas dos quais dependem a diversidade cultural e política dos homens. E, na medida em que isso é inviável, adota-se a criação de instrumentos, equipamentos e máquinas utilizados como artefatos capazes de rentabilizar o que é não–transformável na primeira natureza. (SANTOS, 1989:66). Se a natureza esteve fora da moral e do estado (exceto enquanto matéria-prima sobre a qual o homem se faz soberano) isso se deve à matriz (epistêmica e técnica) fundada na dicotomia entre natural e artificial, resultante do esforço desde o iluminismo em livrar os homens do medo – na visão de Adorno e Horkheimer –, qual outro medo existiria, mais profundo e fundamental que o de se confundir com a natureza?
O problemático é justamente isso: o que foi separação instituinte (no plano cognitivo) converteu-se em modelo para a esfera social e para a ação política. Como ondas de choque, a propagação dessa ruptura (do ser ou ontológica, entre homem e natureza) ficou reproduzida sistematicamente num conjunto de dicotomias típicas da modernidade (estado/sociedade civil, público/privado, trabalho/capital, ambiental/social, físico/psíquico, mente/corpo, ciências sociais/ciências naturais).
Esse efeito-suposto de duplicação (do plano cognitivo para a esfera social) pode ser tomado como o leit-motif da dialética do iluminismo (no sentido que Adorno e Horkheimer fazem sua ensaística). Neste sentido, o percurso é claro: a apropriação e a conquista da “natureza” se auto-proclama um progresso civilizatório. Isto é, há uma ética instrumentalista e unidimensional que se auto-define como poder arbitrário e politicamente neutro para tomar a natureza como matéria-prima, a fim de dotar-lhe de sentido histórico num processo de desenvolvimento.
A modernidade industrialista aprofundou esse momento (citado como momento inicial I) de desnaturalização enquanto um movimento geral de mercadorias sob o capitalismo, dotadas de valores auto-referentes. O discurso ambientalista superficial reclama da degradação do meio ambiente como uma perda de unidade entre homem/natureza. A questão da unidade, porém, é destituída de sentido. A desnaturalização é, em si, um artifício. A condição humana – tal como a crítica marxiana de alienação colocou de forma explícita – supõe uma naturalidade subjetiva do homem enquanto ser da natureza. Porém essa naturalidade (natureza subjetiva) é parte do objeto de exploração pelos homens. Porque se expressa como “trabalho” que é, em si, alienação e exteriorização. Porque parte de uma trindade inseparável, trabalho/divisão do trabalho/propriedade. (Kostas Axelos).
Na medida em que a apropriação e a conquista da “natureza” se auto-proclama um progresso civilizatório, a ética ambientalista (seja com alternativas que expressem o “preservacionismo” ou museu natural, seja a reconversão da base produtiva e das práticas na esfera social ao perfil de longevidade das gerações em face aos recursos naturais) só adquire sentido se relacionarmos a construção desse ambiental a um conjunto de práticas sociais, entre as quais se incluem, obviamente, as práticas do poder estatal coligadas com a esfera da mercantilização.
O sócio-ambiental daí decorrente só se define, por sua vez, em situações concretas nas quais a natureza não pode ser tomada daquele “ponto de vista” natural. Simplesmente porque o movimento científico dominante que orienta essa coligação estado/mercantilização/esfera social é dada pelo homem da ciência, o qual conhece as coisas na medida em que pode produzir. A conseqüência é bem conhecida. A alienação gerada no ato de rompimento da subjetividade por uma (segunda) natureza historicizada e socializada, subordina-se à trindade trabalho/divisão do trabalho/propriedade, a qual interdita e segrega os recursos da natureza (enquanto colonização de territórios e matérias-prima), discriminando o acesso a determinados grupos sociais. Trata-se de uma resposta incompleta, entretanto. Evidentemente, não basta identificarmos que o homem desnaturalizado não é um homem qualquer, abstrato. De fato, “em termos sociológicos esse homem é a burguesia, classe revolucionária, que transporta em si o espírito do capitalismo e que vai utilizar a relação de exploração da natureza para produzir um desenvolvimento das forças produtivas sem precedentes na história da humanidade”. (Boaventura de Souza Santos).
Essa resposta, note-se, só aborda um primeiro degrau de crítica ao assinalar que a concepção moderna de natureza é um expediente de mediação de relações sociais, algo que toma a natureza para ocultar relações de exploração. Horkheimer e Adorno captam isso no caráter social das formas do pensar técnico-científico: “É a unidade de coletividade e dominação, e não a imediata generalidade social, a solidariedade, que se sedimenta nas formas do pensamento”. (Momentos Intermediários I e II).
De forma simétrica, quando a problemática ambiental irrompe na esfera social contemporânea (busca de um outro desenvolvimento polissemicamente chamado de sustentável) é prudente investigar como isso é apropriado, lido ou olhado de forma “naturalista”, enquanto “questão científica”. Será algo como um aprofundamento disso que objetivou tornar a natureza como algo compreensível matematicamente? O que não se encaixa – insolubilidade e irracionalidade – é cercado por teoremas mate-máticos: “A equação entre espírito e mundo é equacionada sem deixar resto, mas devido apenas a seus dois membros serem reciprocamente simplificados”. (Momento Consumação II).
Aqui explicita-se um “segundo” patamar de crítica. Aquele “ritual do pensar” – o procedimento matemático garantido nos diversos ramos da ciência – recebe a conta, diziam Adorno e Horkheimer nos anos 1940. A dominação mundial sobre a natureza vira-se contra o próprio sujeito pensante. A desnaturalização convertida em mitologia desencadeou o processo sem fim do iluminismo. O próprio iluminismo sucumbe como vítima da crítica arrasadora de ser apenas uma crença, pois o preço que os homens pagam pela multiplicação do seu poder é a sua alienação daquilo sobre que exercem o poder. (Momentos consumação I e II).
Ao abolir as qualidades econômicas (valores de uso vis-à-vis, valores de troca) o industrialismo destruiu até mesmo o que a crítica marxiana qualificou de “fetiche” das mercadorias, pois mesmo isso passou a ser secundário em face a uma reificação ainda mais profunda e entranhada. Há um primeiro sentido para a noção de “reificação” que pode ser equivalente ao de valores mediados pelo aparato econômico sob a forma de mercadorias, uma segunda natureza animada que decide sobre o comportamento na esfera social, atingindo as relações de cada um dos indivíduos: “A dominação não é paga apenas com a alienação do homem com respeito aos objetos dominados; com a reificação dos espíritos, as próprias relações entre os homens foram enfeitiçadas, bem como as de cada um dos indivíduos consigo mesmo”.
Isso constitui o naturalismo moderno? (o qual não coincide mais com o mundo moderno herdado do século XVII, e já extinto com as explosões atômicas). A duplicação da dicotomia natureza/artifício se instituiu como uma “reificação das almas”, na medida em que a exploração científica da natureza é algo umbilicalmente ligado a exploração social do homem (pelo homem) daí, o indivíduo (fáustico e burguês) estar impedido de entrar em contato consigo próprio. (Momentos de consumação III e IV). Embora esta crítica e ação de algumas correntes radicais ambientalistas contemporâneas, tais correntes se debatem em torno de uma dupla dificuldade em definir esse poder:
1) partem de uma visão naturalista da relação homem/natureza (a natureza como primeira sociedade) ou de forma simetricamente oposta, porque tomam a sociedade como segunda natureza e
2) pretendem a fusão entre as duas instâncias (o que, conforme vimos, é uma adição sob a forma de um “contrato natural”). Em linhas gerais poderíamos dizer que esse poder reside na incapacidade do homem na modernidade de reconhecer politicamente a fonte de uma potência tecnologicamente incontrolável de destruição que reside na separação entre o controle economico-produtivo da sociedade, e a política sobre a natureza como recursos infinitos.
Perante essa potenciação (fáustica e etnocêntrica) atingimos um climax que nos leva a uma alteração de registros. De um registro de verdade (crise da ciência) passamos para um registro de justiça. Tarefa cheia de armadilhas, como nota um epistemólogo ao inscrever isso na crise da modernidade: “Sucede porém, que a transformação das relações ético–sociais da produção científica choca com limites instransponíveis inscritos no código ético constitutivo do paradigma da ciência moderna. Do choque resulta uma tensão que durante muito tempo foi contida por distinções como, por exemplo, entre ciência e tecnologia ou entre ciência pura e ciência aplicada. Mas o próprio avanço da ciência (…) tem posto em causa essas distinções, e sem elas a tensão degenera facilmente em crise”. (SOUZA SANTOS, 1989:67).
As novas ciências (microeletrônica, computação, cibernética, ciências dos materiais, genética evolutiva; engenharia genética, análise de sistemas, entre outras) têm penetrado em vários campos disciplinares, em praticamente todas as graduações por intermédio da política de ciência e tecnologia e da pós-graduação no Brasil.
As novas ciências romperam o que era considerado o sacrossanto direito da universidade, manter-se em neutralidade diante das demandas por sua utilização como parte da produção do conhecimento científico para fins comerciais ou produtivos, ou para superar a pobreza, desenraizamento cultural, fome, trabalho escravo ou servil moderno, e outras misérias humanas. Essa resistência em aceitar a tensão (a que se refere Boaventura acima) acabou após o final da Segunda Guerra. O que assistimos foi a hegemonia tecnocientífica dos Estados Unidos associada ao campo europeu diante da União Soviética e China – inicialmente gradual, e depois aos saltos abruptos desde os anos 1990, com a conversão das novas ciências em tecnociência industrial das corporações, capazes de prodígios.
Entretanto, os prodígios tecnológicos são parte de um pesadelo da sociedade atual, pois o povo passa a acreditar numa versão problemática de inovação tecnológica como determinismo do objeto que se tornou obsoleto, e é substituído pela “nova” tecnologia.
No Brasil e na América Latina, as abordagens interdisciplinares dos Estudos Ciência, Tecnologia, Sociedade (ECTS) nos ajudam a entender porque a política de ciência e tecnologia criou um regime anômalo de produção de conhecimento relacionado com o que foi apontado há 35 anos: na América Latina instalam-se, em regra geral, filiais de empresas industriais que se limitam a montar ou a fabricar produtos protegidos por patentes e pelos quais temos que pagar preços elevados; descobertas e inovações são realizadas nos grandes laboratórios dos Estados Unidos e Europa (José Leite Lopes, físico brasileiro exilado na França em 1968).
Leite Lopes, contemporâneo de Amilcar Herrera (1920-1995), Oscar Varsavsky (1920-1976), Darcy Ribeiro (1922-1997), Luiz Hildebrando Pereira da Silva (1928-2014), e muitos outros brasileiros, argentinos, cubanos, venezuelanos e demais latino-americanos da mesma geração, lutaram a favor da autonomia científica e do vínculo da formação na universidade, da pesquisa e da pós-graduação às demandas populares em suas sociedades. Tal constatação nos obriga a explicar como esta perda de autonomia se dá tanto no plano da produção cognitiva (na universidade) quanto nas políticas governamentais estruturadas fora do eixo da política de C&T até recentemente (2016) – pouco aderente às demandas por políticas implícitas de variados setores por ciência e tecnologia para desenvolvimento sócio-cultural na educação e C&T, se associado com inclusão social e produtiva na economia solidária. Em desigualdade de condições vastos contingentes da PEA desenvolvem atividades econômicas e sociais na economia popular sob trocas desiguais em que vendem sua energia vital, labor, trabalho e pro-dutividade aos ramos da economia do “primeiro andar” (ou formal, a das “500” maiores empresas privadas e estatais, transnacionais e corporações, e quantidade de segmentos, cadeias, setores e ramos compostos por micro e pequenas empresas formando aglomerados em dinâmicas subordinadas).
As políticas de fomento a C&T têm sido dirigidas para os estratos superiores dessa economia do primeiro andar, e com isto são sistematicamente excluídos contingentes das microempresas sem acesso a crédito, embora desempenhem papel crucial na economia real.
Se as comunidades universitárias se autorizaram realizar uma política de produção cognitiva para esses segmentos do primeiro andar da economia, por uma questão de simetria político-institucional e organizacional – mas sobretudo político-cognitivo – é necessário também desenvolver política de C&T para inclusão social e produtiv
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


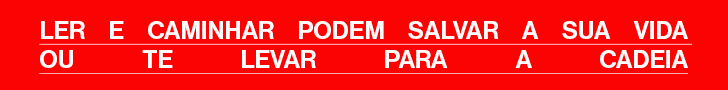
Tudo que li confirma que estamos no mundo da pós- modernidade e da pós-verdade. Mergulhar nesses meandros precisa- se desconstruir para ver o sentido que está por baixo.
O texto nao termina…. nem mesmo ponto final. Ademais deve haver REFERENCIAS das obras mencionadas ou a fonte original do texto. Falha que em tempos bolsonarianos nao “cheira” bem…