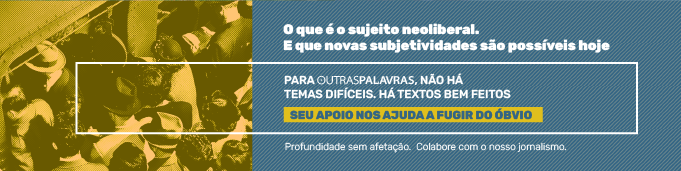A hora e vez da Tecnociência Solidária
Parte importante dos professores e pesquisadores empenha-se em produzir conhecimento para a transformação social — em particular para projetos cooperativos. Que armadilhas o capital impõe a esta atitude — e como superá-las…
Publicado 16/12/2020 às 18:55 - Atualizado 29/07/2021 às 12:44

Por Renato Dagnino |Imagem: Otto Dettmer/The Economist
Não é minha expectativa que o significante Tecnociência Solidária substitua o de Tecnologia Social (e outros aparentemente semelhantes, como os de Inovação Social, pró-pobre [pro-poor innovation], abaixo do radar [below-the-radar innovation], de base [grassroots innovation], na base da pirâmide [base of the pyramid innovation], Sustentável, Responsável, Inclusiva, ou Frugal). Não obstante, me parece adequado que, embora eles estejam, na atual conjuntura, alinhados com a mesma postura política, fique claro que são distintos os significados que eles denotam.
Como isso me parece especialmente importante para quem como eu trabalha em organizações públicas de ensino e pesquisa, são essas companheiras e companheiros que eu privilegio neste meu diálogo. Nós, que visamos a resultados tecnocientíficos, sabemos que eles precisam ser filtrados ou decantados até chegarem a ser utilizados. Eles têm que penetrar no ambiente da politics (política como campo de enfrentamento de visões de mundo sistematizadas por partidos políticos em busca de poder governamental) e da policy (política como resultado desse enfrentamento legitimado pelo Estado como políticas públicas, planos e projetos) até chegarem aos que podem ser por eles beneficiados.
Essa razão já seria suficiente, como pretendo mostrar, para fazer com que o emprego do conceito de Tecnociência Solidária fosse mais adequado para a concepção de nossas agendas de Pesquisa, Ensino e Extensão cujo amadurecimento é sabidamente lento. E, também, para nos permitir identificar os atores sociais que queremos servir, cujos projetos políticos hoje só difusamente aparecem no campo da política cognitiva (de educação e de ciência, tecnologia e inovação).
Este texto pretende responder duas perguntas – por que tecnociência? e por que solidária? – que com razão fazem as companheiras e companheiros que já estão convencidos da necessidade de acumular forças junto aos nossos aliados que trabalham em nossas instituições, seduzindo-os para que reorientem suas agendas. E, também, junto aos atores a elas externos, para que a partir disto, com o potencial que tem o movimento popular, se empoderem a ponto de intervir no processo decisório da política de CTI.
Por que tecnociência?
A resposta que ofereço destaca quatro razões que fundamentam o uso do termo tecnociência como referência para o conhecimento necessário para a produção de bens e serviços, objeto de nossa ação profissional e de nossas opções ideológicas.
A primeira razão se situa no terreno descritivo-explicativo. Ela decorre da evidência empírica que mostra uma crescente relação, que se inicia com o advento da Big Science, entre o que ainda se costuma chamar pesquisa científica e pesquisa tecnológica.
De fato, há muitos autores renomados que usam o termo tecnociência para referir-se ao resultado do que entendem como uma fusão contemporânea entre ciência e tecnologia. Não existiriam mais pesquisas científicas, de um lado, que buscariam conhecer a realidade, produzir conhecimento puro – a ciência. E, de outro, pesquisas tecnológicas, que o aplicariam gerando conhecimento aplicado – a tecnologia – para produzir bens e serviços, coisas úteis. Hoje, a atividade que melhor descreveria a produção de conhecimento é a pesquisa tecnocientífica.
Seja ela realizada, num extremo, em empresas transnacionais (onde se aplica mais da metade de todo o recurso que se gasta em pesquisa no mundo), seja no outro, em organizações públicas (onde se aplica 30% deste total basicamente para capacitar pessoas para fazer pesquisa em empresas), o resultado dessa pesquisa é denominada por esses autores de tecnociência.
Mas há evidência empírica suficiente para mostrar que dinâmica tecnocientífica global não é controlada por essas empresas apenas quantitativamente. Seu poder junto àquelas instituições de ensino e pesquisa se exerce de duas formas que se parecem a duas partes de um iceberg.
Há uma parte visível – financiamento de projetos, joint ventures, etc. – que já seria suficiente para evidenciar que essa dinâmica está controlada também qualitativamente por elas. Outra, muito mais significativa, derivada do sutil poder que exercem via o mercado de trabalho, é revelada quando se constata que a maioria dos pós-graduados nos países avançados é por elas contratada para fazer a pesquisa que garante o seu lucro. O perfil desses profissionais, para que possam atender às demandas cognitivas da empresa, é fruto da “natural” e, por isto, pouco considerada indução que possuem as empresas na definição das agendas de pesquisa e de ensino daquelas instituições.
Como elas balizam em cascata toda a política cognitiva (e notadamente a política de educação) desses países, os currículos – explícito e oculto – de seus jovens termina por elas condicionado. Paradoxalmente, entretanto, isso ocorre também nos países periféricos. Embora a empresa que neles se localiza, seguindo um irrepreensível critério econômico, não realize pesquisa (seu lucro provém mais da mais-valia absoluta do que da relativa), e não se aproveite de seus pós-graduados para isto, aquelas agendas são aqui mimeticamente assimiladas.
Há uma segunda razão para o uso do termo tecnociência. Existem autores que afirmam que aquilo que os primeiros observam não é uma simples fusão contemporânea. Para eles, o termo traz consigo e é adotado em função de uma explicitação de que esse alegado apartamento é tão-somente discursivo. Nunca teria existido de fato universidades que produziam ciência alheadas do “mundo dos negócios”, nem empresas que eram neles exitosas apenas aplicando-a para gerar tecnologia.
Segundo eles, o conhecimento para a produção de bens e serviços que foi sendo gerado cada vez que o ser humano, “desde o início dos tempos”, interveio em processos de trabalho visando a se apropriar do resultado material desta ação em uma complexa e sistêmica mistura cognitiva. E que foi só a partir dos trezentos anos que durou a desintegração do feudalismo europeu, quando foram aparecendo os significantes que intencionalmente denotavam novos significados, que os constituintes dessa mistura passaram a ser chamados de ciência, religião, artesanato, saber empírico (popular, ancestral, não-cientifico, tácito, etc.), bruxaria, arte, tecnologia e, na contemporaneidade, inovação.
Dessa mistura de conhecimentos para a produção de bens e serviços, tão diversa aos interessados olhos capitalistas, mas tão por construção “coesionados” que as sociedades pré-capitalistas nunca se preocuparam em criar termos para designar o que sequer existia, o capital, por conveniência, absolutizou dois deles.
Era importante para o seu projeto de dominação identificar um subconjunto desse espectro cognitivo que ele podia controlar e monopolizar. Inclusive pela via como era materializado em artefatos sociotécnicos, cuja forma, escala e custo de aquisição eram impeditivos para a classe trabalhadora. A esse subconjunto, alegando sua interpretação de uma “ciência” que teria surgido na Antiguidade do noroeste do mundo (como se os povos da África, Ásia e América não existissem) com o objetivo de “saciar o apetite humano por conhecer a verdade”, o capital passou a chamar ciência e tecnologia.
Foi assim que a parte tácita do conhecimento para a produção de bens e serviços, que se mantinha propriedade do produtor direto (que passava a ser explorado como vendedor de força de trabalho), foi relegada ao saber-fazer empírico, não-científico. Seu “apagamento” contribuía para sujeitar o trabalhador à “qualificação” imposta pelo capital.
Se sua sistematização e apartamento do repertório cognitivo do trabalhador direto, como tecnologia, facilitou sua expropriação e monopolização, sua categorização como uma pretensa aplicação a posteriori de uma ciência crescentemente codificada segundo uma linguagem elitista e quase sagrada, legitimou a forma meritocrática de exploração capitalista.
Isso não significa que ao longo da história, em função do elevado custo de operações de experimentação e escalamento de processos de produção, da capacitação dos trabalhadores que operavam unidades cada vez maiores, complexas e caras, e do seu desejo de transformar seus filhos em bons empresários, a classe capitalista não tenha criado, fora das empresas mas em contato com elas, organizações de ensino e pesquisa financiadas pelo Estado. Com suas idiossincrasias culturais, particularidades territoriais e especializações produtivas esse processo abarcou praticamente todos os países da Europa.
Uma terceira razão para o uso do termo tecnociência remete ao fato de que aqueles pretensamente separados dois tipos de conhecimento, ao serem causalmente conectados, conferem suporte e tornam aceitável outro encadeamento falacioso, bem conhecido e frequentemente criticado, que legitima o capitalismo.
O aumento da produtividade do trabalhador facultado pelo conhecimento que se originava da ação do capitalista que controlava o processo de trabalho, e cuja apropriação como mais-valia relativa era legitimada pelo Estado, passou a ser “vendido” como “desenvolvimento econômico” dos países.
Esse aumento de produtividade, no âmbito de países cujas classes proprietárias competiam ferozmente em busca da mais-valia gerada pelo trabalhador, passou também a ser maquiado como um aumento de competitividade que beneficiava o país inovador. Ao ser assimilado, de forma consequencial – via “transbordamento” – ao bem-estar dos trabalhadores (pela via de maiores emprego e salário e do acesso a bens e serviços “melhores e mais baratos”) e ao “desenvolvimento social”, completou a falácia em que se apoia boa parte da superestrutura ideológica capitalista.
A artificial desconsideração de outros conhecimentos necessários para a produção de bens e serviços que eram de difícil codificação ou expropriação e a separação sequencial do conhecimento mais facilmente elitizável e controlável em ciência e tecnologia se consolidaram como um elemento, ao mesmo tempo central e preventivo, da manipulação ideológica do capital.
De fato, o encadeamento ciência –> tecnologia engatilha um argumento, que, por funcionar simetricamente, mostra-se muito efetivo. Mas do que isso, pode-se dizer que é o cerne, a pedra angular, da estrutura capitalista. Ao ser criticada quando o segundo elo consequencial – desenvolvimento econômico –> desenvolvimento social – não ocorre, se serve do encadeamento contido no binômio ciência e tecnologia para protegê-la.
Para melhor explicar esse argumento legitimador do capitalismo, vale ressaltar que para que ele funcione os trabalhadores e a sociedade têm que acreditar na separação entre ciência e tecnologia. Isto já é “meio caminho andado”. A outra metade advém de uma outra antiga crença engendrada pelo Iluminismo no seu combate à “religiosidade obscurantista”. A de que existe uma ciência não-dogmática, intrinsecamente verdadeira e universal porque desvelava através do método científico não contaminado por valores ou interesses os segredos do planeta para todos os seus habitantes. E, que, por isso, ela tinha duas características politicamente importantes para desideologizar e justificar seu apoio pelo Estado. Ela era neutra – capaz de viabilizar quaisquer projetos políticos –, e que quando sua aplicação levava a tecnologias “más”, este resultado devia ser considerado atípico, um acidente de percurso.
Apoiada nessa cadeia argumentativa legitimadora, a estrutura capitalista passava incólume às críticas que os partidários do socialismo, que diga-se de passagem, em função de uma leitura equivocada de Marx, não chegavam a criticar a neutralidade e o determinismo da tecnologia. A percepção de que a responsabilidade pelo “mau uso” da ciência cabe a uma falta de ética – enferma e limitada àquele que a aplica para desenvolver tecnologia – e nunca ao modo de funcionamento característico daquela estrutura, incluindo aí a maneira como gera a sua tecnociência, a Tecnociência Capitalista, permanece atravessando fronteiras ideológicas entre a direita e a esquerda.
Para concluir este ponto, há que destacar a evidência empírica de que a realidade é muito distinta do modelo idealizado. Sua tentativa de implementação e de emulação daquela dinâmica tecnocientífica global que materializa os valores e interesses do capital através de políticas-meio (política cognitiva) e políticas-fim (econômico-produtivas, geoestratégicas, etc.) não está levando ao resultado prometido. Ela está agenciando obsolescência planejada, deterioração programada, consumismo exacerbado e deletério, degradação ambiental e a um adoecimento generalizado que a pandemia torna ainda mais perceptível. E conduzindo, não menos importante para a classe trabalhadora, a tendências de jobless growth economy (quando a economia cresce e não se gera emprego) e de jobloss growth economy (quando a economia cresce e desaparecem postos de trabalho) cada vez mais insustentáveis.
Uma quarta razão para o uso do termo tecnociência, que cruza a fronteira entre os terrenos descritivo-explicativo e normativo, remete à formulação do conceito de Tecnociência Solidária e, mais especificamente ao seu qualificativo de solidária que abordo em seguida. Ela deriva da verificação de que a tecnociência do capital, a Tecnociência Capitalista, não serve para a construção da sociedade solidária que cada vez mais, em função inclusive da pandemia, segmentos conscientes e responsáveis da comunidade internacional vêm reclamando.
Por que “solidária”?
Responder à pergunta de “por que solidária?” poderia ficar num procedimento baseado na negação. Ele conduziria a apresentar a Tecnociência Solidária como aquilo que a Tecnociência Capitalista não é. Como mais uma síntese, enviesada pela preocupação que nos caracteriza com processos cognitivos, da utopia de justiça social, equidade econômica e responsabilidade ambiental, da disposição de enfrentar a fome, a miséria e a exclusão social e evitar suas implicações negativas para o planeta e o que nele vive.
Embora esse procedimento já fosse suficiente, existe outro, baseado na necessidade de adaptação desses processos relacionados à produção de bens e serviços a uma tendência que emerge como um fato portador de futuro, a Economia Solidária. Resgatando experiências contra-hegemônicas históricas de organização da produção e consumo de bens e serviços baseadas na propriedade coletiva dos meios de produção e na autogestão, que ressurgem em momentos de crise do capital, a Economia Solidária vem ganhando força no ambiente internacional da politics e da policy.
São cada vez mais numerosas no Brasil as iniciativas surgidas da mobilização de atores agrupados no meio rural, no ambiente urbano, como as fábricas recuperadas, a organização dos catadores, etc., na institucionalidade de governos subnacionais e no meio universitário, como as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares.
A percepção de que nosso capitalismo periférico e selvagem deriva de uma opção da classe proprietária combinada com nosso desagrado acerca do que a concepção etapista poderia engendrar haja vista a gigantesca propriedade estatal, a heterogestão e a degenerescência burocrática do socialismo real, foram conduzindo a esquerda à proposta da Economia Solidária.
Vitórias localizadas fizeram que passasse a disputar espaço na agenda da esquerda com a visão convencional que pretendia, mediante políticas compensatórias, promover a inclusão social. Sem negar a importância da “distribuição de renda para os mais pobres” que através da geração de demanda alimenta a estratégia convencional do “emprego e salário”, mas que depende da cooptação das empresas e do seu investimento, os partidários da ES foram demarcando seu espaço no território esquerda.
Resgatando o mote do “ensinar a pescar”, a ES questionava duplamente aquela visão convencional para balizar um caminho suplementar que, através da “geração de renda pelos mais pobres” e uma estratégia de “trabalho e renda”, conduziria a uma inclusão efetiva, não subordinada ao capital que apontava no longo prazo “para além do capital”.
Mediante o fomento às redes de empreendimentos solidários e a alocação preferencial do poder de compra do Estado, seus partidários anteviam uma reorganização do tecido socioeconômico e produtivo do País.
Mas, sabiam que isso dependia de uma acumulação de forças. Era organizando os que sobreviviam na “economia infernal” que a ES, explorando espaços de muito baixa rentabilidade, teria que sobreviver à espera de uma situação favorável.
Ela ocorreu com a vitória de uma coalizão de esquerda no âmbito federal. Embora aquela estratégia convencional predominasse no círculo dos fazedores da política, que era de onde poderiam vir os recursos para a ES, a proposta foi ampliando seu espaço na agenda pública, graças à criatividade e ao compromisso de seus partidários.
Foi então armado um conjunto de medidas de política que transversalizavam uma estrutura estatal institucionalizada pela classe proprietária de acordo com seus valores e para atender aos seus interesses. A necessidade de combinar sinergicamente iniciativas no campo social, econômico, produtivo, formativo, financeiro, tecnocientífico, de orientação da compra pública, etc., levou à implantação, sem que fosse institucionalizado como tal, do “sistema” da ES.
A partir de meados da década de 2000 era possível prever que o amadurecimento de mudanças em curso na correlação de forças e o empoderamento do movimento popular, ao seguir provocando a alteração da configuração do aparelho de Estado, consolidaria o que se havia logrado. E que um cenário em que a ideia força da ES nucleasse outras políticas públicas era possível.
Mas o fato de que as políticas formuladas segundo a visão convencional, combinando a estratégia do “emprego e salário” e a “distribuição de renda para os mais pobres” para o enfrentamento da exclusão social começassem a dar certo, foi negativo para a ES. O aumento do salário mínimo, a facilitação do crédito, a expansão da previdência social, a contenção dos preços administrados pelo Estado, o subsídio ao investimento produtivo das empresas, a ampliação da infraestrutura pública, os programas compensatórios, a expansão das oportunidades de formação profissional, a exploração das vantagens associadas à exportação de commodities, etc., pareciam mostrar, com o crescimento obtido, que a proposta e a política da ES eram desnecessárias.
A proposta da ES que já era considerada por alguns como uma ideia contrária aos interesses da classe trabalhadora, ou que apenas se justificava pelo seu caráter filantrópico, ou ainda que não era coerente com o socialismo do século 21, passava a ser vista como uma distopia ingênua ou mal-intencionada. Enfim, como uma “ideia fora de lugar”.
Sucede a esse período aquele que se inicia com o golpe de 2016. Agora, o quadro de fome, miséria, exclusão, destruição ambiental, privatização e desnacionalização das coisas públicas, etc., passa a ser um objetivo das forças reacionárias ansiosas por diminuir o preço da força de trabalho para aumentar seu lucro. O desmantelamento da ES, provavelmente porque ela poderia se contrapor a esse objetivo, passa a ser implementado.
Paradoxalmente, a pandemia e a forma como ela é tratada pelo governo, ao tempo que agravam esse quadro, recolocam a ES como uma prioridade a ser considerada pela esquerda. A percepção de que o “novo normal” global que emergirá do capitalismo neoliberal financeirizado terá que incorporar algo mencionado à exaustão – a solidariedade – encontra-se em expansão. Aparecem proposições (e a Economia de Francisco oriunda da igreja católica talvez seja a iniciativa mais representativa) que dialogam de perto com a problemática e a “solucionática” da ES.
Mesmo os personagens alinhados com a visão convencional, até agora exclusivamente focados no “emprego e salário” e na “distribuição de renda”, estão propensos a considerar a estratégia do “trabalho e renda” e a “geração de renda pelos mais pobres”.
Contribui para isso a constatação de que aquelas proposições estão mostrando em vários países seu potencial de solucionar os problemas que preocupam a comunidade internacional. E que, no Brasil, qualquer um de nós e muitos dos excluídos sabem identificar inúmeros bens e serviços que podem ser produzidos com muitas vantagens por empreendimentos solidários antes mesmo que possam contar com um conhecimento tecnocientífico adequado. Para isso, basta que recebam subsídio equivalente ao concedido às empresas.
O entusiasmo com a vitória que depois de muitos anos foi alcançada com a renda emergencial faz com que setores da esquerda comecem a ver a ES como sua continuidade. E que se animem a transcender sua busca de apenas atenuar o modo capitalista selvagem e periférico de produção, distribuição e consumo de bens e serviços.
Esta avaliação da trajetória da ES aqui esboçada pode transformar esse entusiasmo num convencimento. Ela pode fazer com que esses setores percebam que muito daquilo que desejam só pode ser alcançado se a construção da ES passar a ser um objetivo transversal, agregador, da sua ação.
A transversalidade amplificará o efeito sinérgico positivo da ampliação das redes de ES. Ela reforçará seu potencial sistêmico de transformação decorrente de sua interação – cooperação e conflito – com os demais componentes do mundo privado e estatal e, também com os atores (empresários e tecnoburocratas) que os controlam.
O convencimento que se alimentará daquele entusiasmo é uma precondição para que a ES venha a ser implementada quando o movimento social alavanque a retomada do governo federal onde ela, como política de governo e como sistema, volte a reclamá-la. Ao fazer com que a ES seja visualizada como o eixo do nosso processo civilizatório de reconstrução, estaremos acumulando a força necessária para construir o futuro que nossa sociedade merece.
O papel que às companheiras e aos companheiros das instituições de ensino e pesquisa corresponde desempenhar se inicia com a criação de um ambiente favorável a essa construção. Ele envolve, por um lado, a sedução de nossos pares, ainda abduzidos por uma política cognitiva que, acobertada pelo manto da ciência neutra, emula a dinâmica tecnocientífica capitalista. E, pior, submete-os aos Quatro Cavaleiros do Apocalipse: Cientificismo, Produtivismo, Inovacionismo e Empreendedorismo que invadem o nosso território.
Nosso papel envolve, por outro lado, a exposição de nossos colegas e alunos a uma crítica às agendas de Ensino, Pesquisa e Extensão periféricas que transcenda a mera denúncia do seu caráter imitativo em relação aos países de capitalismo avançado. Uma crítica que, baseada na reconfiguração do ensino da tecnociência, seja capaz de orientá-las de modo mais certeiro e eficaz “para além do capital”.
É nesse contexto que vem-se consolidando o conceito de Tecnociência Solidária.
Idealizada como alternativa programática a termos como inovação (social, responsável, aberta, etc.) e tecnologia (social, sustentável, etc.), ela pode ser entendida como um modo (original, aberto, mutante e adaptativo) de agenciar (frequentemente mediante adequação sociotécnica da tecnociência capitalista) conhecimentos de qualquer natureza (científica, empírica, tecnológica, religiosa, ancestral…) e origem (academia, empresas, povos originários, movimentos populares, excluídos…) por atores sociais que visam à apropriação de um resultado material derivado de mudanças no processo de produção e consumo de bens e serviços em redes de economia solidária, respeitando seus valores e interesses (propriedade coletiva dos meios de produção, autogestão, etc.), orientados prioritariamente à satisfação de necessidades coletivas e o atendimento às compras públicas.
Concluindo…
Aprofundando a ideia de que a proposta da Tecnociência Solidária proporciona um enredo para que desempenhemos o papel que nos corresponde como integrantes de instituições de ensino e pesquisa, retomo sua importância abordando os três momentos costumeiros de análise de situações desse tipo.
No momento descritivo, o conceito nos ajuda e entender a natureza do que fazemos. Sintetizo isso reafirmando o que escrevi acima: o que fazemos é tecnociência, não é nem ciência nem tecnologia. E, no momento explicativo, lembrando que fazemos o que fazemos como decorrência de um processo histórico que se desenvolve no plano mundial e que assume características distintivas na periferia do sistema capitalista.
No momento normativo, que sucede ao descritivo e ao explicativo, e que demanda um marco conceitual analítico como o esboçado aqui, chamo a atenção para a necessidade de refletir sobre o modo como o projeto político associado à esquerda vem-se traduzindo no âmbito de nossas instituições. E o faço ressaltando minha avaliação de que traduções como inovação social (oximoro que contrapõe, por substituição, o social ao tecnológico como se satisfazer as necessidades materiais que temos não demandasse complexos e originais conhecimentos tecnocientíficos) e, mesmo, tecnologia social, tendem a dificultar a mudança de nossas agendas e, também, de nossa política de alianças com atores sociais que precisam desses conhecimentos.
Essas traduções supõem a existência da separação artificial entre ciência e tecnologia ideologicamente construída pelo capital que temos mostrado ser contrária à evidência empírica e a uma perspectiva de esquerda de análise do desenvolvimento do capitalismo. Ademais, ao empregar um qualificativo difuso (social), resultante da consideração de aspectos que transcenderiam o econômico – forma eufêmica que frequentemente se emprega para evitar o termo lucro – dão a entender que os empreendimentos solidários não precisassem ser competitivos em relação às empresas. Finalmente, destaco que, ao usar termos como inovação ou tecnologia que supõem a existência de uma ciência que permitiria a sua existência, essas traduções de nosso projeto político, reforçam o mito da neutralidade da ciência. E, ao fazê-lo, impedem a mudança das agendas de pesquisa e ensino de nossas instituições que poderia torná-las mais coerentes com seu caráter público.
Em alguns casos, tentando construir hegemonia, se tem buscado ampliar o espectro político favorável a essas traduções incluindo como seus protagonistas arranjos econômico-produtivos baseados na propriedade privada e na heterogestão. O que cria uma situação que inviabiliza, inclusive em termos estritamente cognitivos, as ações que teríamos que impulsionar.
No meu entender se justifica, haja vista a referência que, intermediada pela proposta da Economia Solidária, se faz a um espaço precisamente definido, o das redes de empreendimentos solidários, e a um projeto – robusto e exequível – de autonomia dos trabalhadores frente ao capital, o uso que aqui se propõe, para os integrantes daquelas instituições, do conceito de Tecnociência Solidária.
É por tudo isso que deixei para o final algo que para muitas companheiras e companheiros é o mais importante. Essa ambiciosa empreitada, que vai desde uma inédita convergência entre as ciências “desumanas” e “inexatas” em torno da explicitação e processamento das demandas cognitivas embutidas nas necessidades materiais coletivas, até uma nova política de alianças com os atores sociais, não teria sentido não fosse o objetivo de conceber uma nova forma de produzir conhecimento mais adequada à vida dos seres humanos e ao próprio planeta que eles habitam…
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.