Riqueza é tempo disponível – e nada mais
Campanha contra jornada 6×1 reintroduz no Brasil, enfim, a luta pelo tempo livre de trabalho. Como Marx e Adorno apontaram, pauta expõe voracidade do capital, politiza relação vista como inalterável e abre caminho para enfrentar a alienação
Publicado 19/02/2025 às 20:23 - Atualizado 23/12/2025 às 17:16

MAIS
texto publicado no número 2 do volume 10 da Revista Rosa, parceira editorial de Outras Palavras
A citação evocada no título vem de um antigo tratado inglês de economia política supostamente escrito por um Charles Dilke. Datado de 1821, ele possui algumas passagens notáveis:
Se todo o trabalho de um país só fosse suficiente para prover o sustento de toda a população, não haveria nenhum trabalho excedente, e, consequentemente, nada que pudesse ser acumulado como capital. […] Logo, a próxima consequência seria que onde os homens até hoje trabalharam doze horas por dia, agora trabalhariam seis, e isso é riqueza nacional, isso é a prosperidade nacional. Mesmo depois de todos os sofismas ociosos, não há, graças a Deus, meio de aumentar a riqueza de uma nação a não ser aumentando as conveniências da vida: de tal forma que a riqueza seja liberdade — liberdade para buscar lazer — liberdade para apreciar a vida — liberdade para cultivar a mente: é tempo disponível e nada mais. Quando uma sociedade tiver chegado a esse ponto, se os indivíduos que a compõem ficarem, por essas seis horas, deitados ao sol, ou dormindo na sombra, ou ociosos, ou jogando, ou investindo seu trabalho em coisas perecíveis, que finalmente é a consequência necessária se eles forem trabalhar, deve ser uma escolha de cada homem individualmente. […] O que quer que possa ser devido ao capitalista, ele só pode receber o trabalho excedente do trabalhador; porque o trabalhador tem de viver; ele precisa satisfazer os da natureza antes de satisfazer os desejos do capitalista.1
O conceito de mais-valor como que é esboçado ao final do texto. O autor ronda a ideia, já que ele precisamente chega no resultado de que o capitalista tem de se apropriar de uma parte do trabalho do operário. Mas que parte seria essa se o próprio trabalhador trabalha para garantir seu sustento? A parte que excede o trabalho pela subsistência. No entanto, ainda estamos longe do conceito de tempo de trabalho socialmente necessário, a mediação que permitiria enfim passar do conceito de trabalho excedente para aquele de mais-valor. Em todo caso, décadas mais tarde, esse texto seria retomado por Marx nos Grundrisse. Ele endossa a fórmula de Dilke, mas, antes, procura desenvolver plenamente as determinações que permitem chegar a ela, enriquecendo nossa compreensão do funcionamento do tempo no capitalismo. No longo trecho a seguir, citação extensa mas necessária de um belo texto, logicamente bem desenvolvido, Marx arremata o raciocínio de Dilke:
A criação de muito tempo disponível para além do tempo necessário de trabalho, para a sociedade como um todo e para cada membro dela (i.e., espaço para o desenvolvimento das forças produtivas plenas do indivíduo singular, logo também da sociedade), essa criação de não tempo de trabalho aparece, da perspectiva do capital, assim como de todos os estágios anteriores, como não tempo de trabalho, tempo livre para alguns indivíduos. O capital dá o seu aporte aumentando o tempo de trabalho excedente da massa por todos os meios da arte e da ciência, porque a sua riqueza consiste diretamente na apropriação de tempo de trabalho excedente; uma vez que sua finalidade é diretamente o valor, não o valor de uso. Desse modo, e a despeito dele mesmo, ele é instrumento na criação dos meios para o tempo social disponível, na redução do tempo de trabalho de toda a sociedade a um mínimo decrescente e, com isso, na transformação do tempo de todos em tempo livre para seu próprio desenvolvimento. Todavia, sua tendência é sempre, por um lado, de criar tempo disponível, por outro lado, de convertê-lo em trabalho excedente. Quando tem muito êxito, o capital sofre de superprodução e, então, o trabalho necessário é interrompido porque não há trabalho excedente para ser valorizado pelo capital. Quanto mais se desenvolve essa contradição, tanto mais se evidencia que o crescimento das forças produtivas não pode ser confinado à apropriação do trabalho excedente alheio, mas que a própria massa de trabalhadores tem de se apropriar do seu trabalho excedente. Tendo-o feito — e com isso o tempo disponível deixa de ter uma existência contraditória —, então, por um lado, o tempo necessário de trabalho terá sua medida nas necessidades do indivíduo social, por outro, o desenvolvimento da força produtiva social crescerá com tanta rapidez que, embora a produção seja agora calculada com base na riqueza de todos, cresce o tempo disponível de todos. Pois a verdadeira riqueza é a força produtiva desenvolvida de todos os indivíduos. Nesse caso, o tempo de trabalho não é mais de forma alguma a medida da riqueza, mas o tempo disponível.2
Nesse trecho, Marx mostra como é o próprio capital que — em sua ânsia de valorização — aumenta a produtividade e, portanto, conduz ao tempo de não-trabalho. Mas esse tempo é insuportável ao próprio capital, pois ele só pode almejar a autovalorização. Dessa forma, ele tem que transformar todo tempo disponível, liberado, em tempo de trabalho.3 Isso seria um caminho que levaria à crise, momento em que a contradição vem à tona e, assim, se resolve. Mas, nas entrelinhas, o texto abre espaço também para sugerir uma solução política: a da apropriação desse tempo disponível por alguma classe. Nesse caso, esse tempo disponível, caso não seja reposto como mais tempo de trabalho, será alvo de uma disputa.
A luta das classes pela apropriação do tempo disponível é uma constante dos locais de trabalho e vai até os mínimos detalhes dentro e fora da jornada. Dentro dela, até mesmo as necessidades fisiológicas dos trabalhadores são alvo de disputa; fora dela, com as novas tecnologias, alguns preferem manter o celular desligado a receber inúmeras mensagens de incontáveis grupos ligados ao trabalho, ligações fora de hora ou até correr o alto risco de se ver em uma reunião online que poderia ser apenas uma conversa de corredor. Marx já havia sido categórico ao escrever, no famoso capítulo da Jornada de Trabalho no livro 1 de O capital: “O tempo durante o qual o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou do trabalhador. Se este consome seu tempo disponível para si mesmo, ele furta o capitalista.” Um pouco mais adiante, ele conclui: “Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei de troca de mercadorias. Entre direitos iguais, quem decide é a força.”4 Ou seja, estamos diante de um caso curioso de uma mercadoria capaz de se rebelar contra seu dono, de uma mercadoria dotada de alma!
Hoje infelizmente o Brasil não ocupa um papel privilegiado nos debates a respeito da jornada de trabalho. As experiências internacionais parecem nos colocar em posição de desvantagem em relação a nossa capacidade de imaginar como a jornada poderia melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Finlândia, Bélgica, Escócia, Islândia, Espanha, Japão, Emirados Árabes e até mesmo a Coreia do Sul trazem propostas e ideias sobre a jornada. Vemos uma reabertura nos debates sobre a jornada de trabalho. Um breve lapso em que podemos experimentar um tipo de experimentalismo democrático em alguns países, com tentativas bastante imaginativas de remodelar a jornada de trabalho, como é o caso da Nova Zelândia ou da Alemanha. Cada vez mais se discute a semana de 4 dias sem perdas de salários, em uma jornada de 32 horas. Não apenas isso, mas também a precarização intensa das últimas décadas tem, em alguns casos, sido revista, como aconteceu na Espanha em 2022 com a revogação da reforma trabalhista de 2012.
Por aqui a realidade trabalhista é bem outra. Depois das lutas da chamada Greve da Vaca Brava, em 1985, na qual se estabeleceu o padrão de 44 horas semanais de trabalho como regra, o tema da redução da jornada voltou a aparecer apenas duas vezes. A ala mais progressista da constituinte tentava encaminhar a proposta de 40 horas, até que o Centrão manteve as 44. Mais tarde, em 2003, a campanha “Reduzir a Jornada de Trabalho é Gerar Empregos” conseguiu mobilizar centrais sindicais, além de movimentos de rua e greves, e foi apoiada pelo então senador Paulo Paim e o deputado Inácio Arruda, por meio da tramitação da PEC 393 sobre a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Porém, essa luta declinou de vez em 2010.
Patrocinada em peso pelo congresso, a Reforma Trabalhista de 2017 foi a pá de cal. Não apenas os acúmulos dos anos anteriores foram perdidos, como também qualquer vestígio de avanço nos debates e na consciência social sobre a necessidade de redução de jornada foram por água abaixo. Seria demasiadamente extenso listar todos os revezes promovidos pela reforma, mas, para falar apenas do tema da jornada, houve um retrocesso voraz. O principal, sem dúvida, foi a terceirização ampla e irrestrita, sem nem mesmo que a empresa tenha que manter sua atividade-fim. Por meio do acolhimento de novas formas de trabalho, a reforma autorizou postos que não estão cobertos pelas garantias laborais, permitindo que houvesse desde microjornadas intermitentes até jornadas estafantes que podem chegar a mais de 1.200 horas, especialmente entre os entregadores que trabalham para aplicativos, além da disseminação irrestrita da jornada 12×36, que antes valia apenas para algumas categorias. Tratou-se de uma engenharia jurídica para permitir um domínio patronal cada vez maior sobre a jornada de trabalho, sempre velada pelo mote da “negociação entre as partes”.
Depois da Reforma Trabalhista, já no governo Bolsonaro, houve a Reforma Sindical, tentando asfixiar economicamente o sindicalismo por meio da estratégia de se pedir autorização para o trabalhador do recolhimento da contribuição sindical, portanto sem dedução compulsória. Confrontado com o que via ser um decréscimo de sua renda e sem formação política para compreender a relevância do síndico, a medida tentou jogar o trabalhador, atravessado por uma subjetividade neoliberal, contra o sindicato. Sempre com a retórica liberal à frente, ainda durante o governo de Bolsonaro a jornada passou por mais desregulação, liberando o trabalho aos finais de semana e feriados e o trabalho noturno — na Medida Provisória denominada de “Contrato de Trabalho Verde e Amarelo”.
Hoje, com o movimento “Vida Além do Trabalho”, voltamos a discutir a escala 6×1 que, no fundo, é discutir a vigência da jornada de 44 horas semanais. Por isso, o assunto tem que ser enfrentado com uma PEC, que exige uma mobilização contínua, dada sua dificuldade de aprovação por exigir um apoio massivo dos deputados. Hoje, a chamada jornada inglesa, de 8 horas e 48 minutos por dia, é permitida por lei, com o objetivo de proporcionar a escala 5×2, liberando os finais de semana. A ideia da PEC seria baixar de 44 para 36 horas semanais, implementando uma escala 4×3. Entretanto, se a extrema-direita caiu na cilada de defender a escala 6×1, até mesmo contra sua própria base de eleitores, muitos deles favoráveis à PEC, o centrão já começou a se articular para rebater essa PEC com outra: a do trabalho por hora, tal como existe nos EUA. Ou seja, regulação mínima, tudo ficaria por conta do acordo entre empregado e empregador, garantindo a liberdade do capital contra o trabalho, dado que essa negociação nunca é de fato negociada, mas imposta.
No entanto, se o centrão se apresenta como o grande representante do capital e do vira-latismo em sua tentativa de pautar o trabalho por hora, tal como nos EUA, houve, diante de muitas críticas, uma oscilação na extrema-direita. Nos assombrosos paradoxos e reviravoltas de nosso tempo, um senador bolsonarista retomou e defendeu a tradição da economia moral e do tempo justo de trabalho. No dia 12 de novembro, ao comentar, indignado, a defesa que alguns de seus colegas fizeram da escala 6×1, Cleitinho Azevedo proferiu um discurso que se revelou um surto de economia popular com pitadas de trauma infantil, e que circulou bastante nas redes:
Eu vim aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6 por um 1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora neste ano, com 70 anos de idade, fazendo a escala sete por zero. Sempre trabalhou, até não foi seis por um, foi sete por zero. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já se deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia aos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi às apresentações que eu fiz quando eu era cantor; nunca ia. O meu pai não parava um dia para ele poder me ensinar a estudar. Sabe por quê? Não fazia, não é porque ele não queria, não. É porque ele não tinha tempo; é porque sempre trabalhou. Então já foi falada aqui por parlamentares de direita e de esquerda que essa questão da escala 6×1 é desumana. Então que a gente tira essa questão de ideologia, sabe?, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui e que possamos, sim, nesse momento, agora, acabar com essa escala seis por um, porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de seis por um é questão de dignidade humana. Quem vai criticar é porque não tem empatia pelo próximo. Por que quem vai criticar é porque não faz essa escala de seis por um. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar. Sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que valorizar, sim, o trabalhador. Sabe por que eu tô falando isso? Porque já teve aqui reforma da previdência, já teve aqui reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar pra ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que que não pode ter algo que beneficia o povo? Qual é o problema de fazer isso? E que fique claro: fonte de riqueza é o trabalhador, o empreendedor, o empresário; fonte de despesa somos nós.
Seria importante que lêssemos esse depoimento em sua dupla natureza. De um lado, é um forte testemunho de um trabalhador que sentiu na pele o que uma jornada de trabalho extensa pode causar dentro do ambiente familiar: um filho que não é devidamente reconhecido em seu desejo de afeto e um pai que se esvai no trabalho para garantir o sustento de casa. Por outro lado, temos de perceber que essa opinião é emitida por alguém que, hoje, é subjetiva e objetivamente de extrema-direita. Talvez aqui valha o velho ditado de que a ocasião faz o homem. Por sua sensibilidade humanista, esse trabalhador poderia ter se tornado de esquerda; queriam os tempos, contudo, que fosse diferente. Em todo caso, o sentido político dessa consideração é grave. Mesmo que pareça apenas um caso isolado, um lampejo de uma consciência ao recordar seu sofrimento, se a esquerda não encampar rapidamente essa pauta com todas as forças, podemos correr o perigo de ver uma espécie de mutação trabalhista de uma parte da extrema-direita. Se ela descobrir que não precisa arcar com a retórica econômica neoliberal, perceberá ainda melhor que pode andar com as próprias pernas em direção ao poder, sem levar consigo o que tem sido ainda talvez sua única grande hipoteca de popularidade entre os mais pobres.
O começo do ensaio de Adorno sobre o tempo livre parece um banho de água fria nesse otimismo de que a mera liberação do tempo seria um valor em si:
A questão do tempo livre: o que as pessoas fazem com ele, que chances eventualmente oferece o seu desenvolvimento, não pode ser formulada em generalidade abstrata. A expressão, de origem recente […] aponta para uma diferença específica que o distingue do tempo não livre, aquele que é preenchido pelo trabalho e, poderíamos acrescentar, na verdade, determinado desde fora. O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Esta oposição, a relação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora como antes, mantém as pessoas sob um fascínio. Nem em seu trabalho, nem em sua consciência dispõem de si mesmas com real liberdade. […] Decerto, não se pode traçar uma divisão tão simples entre as pessoas em si e seus assim chamados papéis sociais. Estes penetram profundamente nas Próprias características das pessoas, em sua constituição íntima. Numa época de integração social sem precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas pessoas, além do determinado pelas funções. Isto pesa muito sobre a questão do tempo livre.5
Ele tenta nos alertar para o fato de que se o tempo livre só existe como tal porque é um tempo liberado do trabalho, isso significa que ele não poderia existir a não ser como produto do tempo de trabalho. Essa derivação do tempo livre a partir do trabalho implica em uma dificuldade, pois se o tempo livre habitualmente é visto como emancipação em si, no capitalismo tardio ele perde esse sentido original, pois está afetado pela heteronomia que rege o tempo de trabalho. É como se nessa derivação o tempo livre ainda estivesse afetado pelo trabalho, de tal forma que ele se torna apenas um hiato para a volta ao trabalho. Isso se reflete naquele tipo de angústia que invade o trabalhador quando ele finalmente se vê diante de seu período de férias, de um tempo livre abundante, mas não possui mais condições subjetivas de usufruir, trazendo a sensação de que o tempo passa sem que ele consiga de fato realizar o que deseja.
Por conta dessa heteronomia que afeta o tempo livre, há um enorme espaço para a produção de subjetividades atravessadas pelos desejos do sistema, desejos que emanam tanto impulsos econômicos, quanto políticos. Isso significa que, hoje, os germes anticivilizatórios e regressivos se manifestam também no tempo livre, no tempo gasto nas redes sociais, nas bets, no jogo do tigrinho. Isso não deveria ser motivo para esmorecer, mas, sim, um chamado para novas lutas: pela regulamentação das redes sociais e também pela educação pública de qualidade. Só assim o tempo liberado do trabalho pode ser, enfim, um tempo livre de fato, e não apenas mais um território colonizado pelo sistema.
Notas
- DILKE, Charles Wentworth, The source and remedy of the national difficulties, deduced from principles of political economy, in a letter to Lord John Russell [1821] in Contributions to Political Economy (2019) 38, p. 33–34 e 45. ↺
- MARX, K. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857–58, trad. Mário Duayer e Nélio Schneider, São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: ed. UFRJ, 2011, p. 590. ↺
- Aqui abre-se espaço para a consideração do trabalho no capitalismo como forma de dominação do tempo. Nesse caso, faria sentido alocar aqui a teoria de David Graeber sobre os bullshit jobs como trabalhos que não prestam nenhuma função social clara e até mesmo necessária a não ser como dominação do tempo disponível, ou seja, trabalhos que, participando ou não da criação de valor, seriam verdadeiras fantasmagorias sociais, ao passo que estão mais inseridos na ideologia do que na produção. Poderíamos fazer o exercício de imaginar que esses postos magicamente deixassem de existir para que, assim, possamos nos dar conta de sua inutilidade e do sofrimento psíquico — consciente ou não — que o fingimento de sua necessidade social acarreta nas pessoas que os exercem, submetidas a experimentarem uma ausência radical de sentido em seu trabalho. GRABER, D. Bullshit Jobs: a theory, Nova Iorque: Simon&Schuster, 2018. ↺
- MARX, K. O capital, livro 1, trad. Rubens Enderle, São Paulo: Boitempo editorial, p. 307 e 309, respectivamente. ↺
- ADORNO, T. W. “Tempo Livre”. In: Palavras e sinais: modelos críticos 2. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, p.70. ↺
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

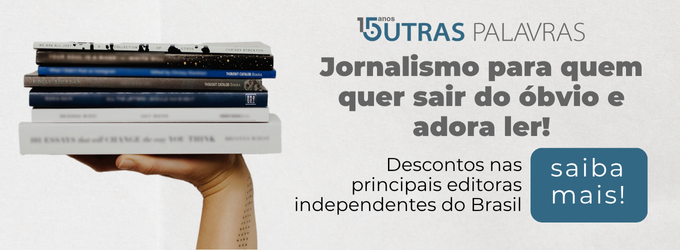

Acho que não ajuda em nada, esconder os retrocessos que começaram nos governos do PT (Lula/Dilma).