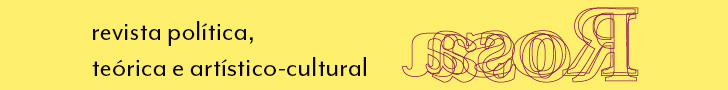Haverá saída para a Revolução Bolivariana?
Para resgatar a Venezuela do cipoal em que se enrascou seria preciso novo surto de mobilização, autonomia e criatividade popular. Por que ele parece distante?
Publicado 04/04/2017 às 19:52
Para resgatar a Venezuela do cipoal em que se enrascou seria preciso novo surto de mobilização, autonomia e criatividade popular. Por que ele ainda parece distante?
Edgardo Lander, entrevistado por Natalia Uval, em La Diaria | Tradução: Inês Castilho
Edgardo Langer não é apenas um acadêmico, professor titular da Universidade Central da Venezuela e pesquisador associado do Instituto Transnacional. É uma pessoa vinculada aos movimentos sociais e à esquerda de seu país há anos. É a partir desse lugar que ele afirma que o apoio incondicional das esquerdas da região ao chavismo reforçou as tendências negativas do processo. Sustenta que as esquerdas em nível global não tiveram a “capacidade de aprender”, e que quando “o modelo venezuelano sofrer um colapso” é possível que simplesmente “olhem para o outro lado”.
Há três anos você caracterizou a situação na Venezuela como “a implosão do modelo petroleiro rentista”. Esse diagnóstico continua valendo?
Lamentavelmente, os problemas que podem ser associados ao esgotamento do modelo petroleiro rentista foram acentuados. O fato de que a Venezuela teve 100 anos de indústria petroleira e de estadocentrismo girando em torno de como se reparte a renda formou não apenas um modelo de Estado e de partido, mas também uma cultura política e imaginários coletivos da Venezuela como um país rico, de abundância, e a noção de que a ação política consiste em organizar-se para pedir ao Estado. Essa é a lógica permanente. No processo bolivariano, apesar de muitos discursos, aparentemente, irem na direção contrária, o que se fez foi acentuar isso. Do ponto de vista econômico acentuou-se essa modalidade colonial de inserção na organização internacional do trabalho.
As críticas à situação da democracia na Venezuela se acentuaram depois que Nicolás Maduro assumiu o poder. Por que? Como se compara à situação sob o governo de Hugo Chávez?
Primeiro é preciso considerar o que foi que se passou no trânsito de Chávez a Maduro. Sou da opinião de que a maioria dos problemas com que nos defrontamos hoje são problemas que vinham se acumulando com Chávez. A análise de parte da esquerda venezuelana – que reivindica ser a época de Chávez uma época de glória, na qual tudo funcionava bem, e de repente aparece Maduro como incompetente ou traidor –, são explicações muito maniqueístas e que não permitem extrair as lógicas mais estruturais que levam à crise atual. O processo venezuelano, para dizer muito esquematicamente, sempre esteve sustentado sobre dois pilares fundamentais: por um lado, a capacidade extraordinária de comunicação e liderança de Chávez, que gerou uma força social; por outro, preços do petróleo que chegaram a mais de 100 dólares o barril. De forma quase concomitante, em 2013, esses dois pilares entraram em colapso: Chávez morreu e os preços do petróleo vieram abaixo. E o imperador ficou nu. Ficou claro que ele tinha alto nível de fragilidade, por depender de coisas das quais não se podia continuar a depender. Além disso, há diferenças muito importantes entre a liderança de Chávez e a de Maduro. Chávez era um líder com capacidade de dar orientação e sentido, mas tinha também uma extraordinária liderança dentro do governo bolivariano como tal, de modo que, quando ele decidia alguma coisa, a decisão estava tomada. Isso gerava falta de debate e muitos erros, mas também uma ação unitária, direcionada. Maduro não tem essa capacidade, nunca teve, e agora no governo cada um puxa para o seu lado. Por outro lado, durante o governo de Maduro houve um aumento da militarização, talvez porque Maduro não vem do mundo militar, e para conseguir apoio das Forças Armadas tem que incorporar mais integrantes das Forças Armadas e dar-lhes mais privilégios. Foram criadas empresas militares, atualmente um terço dos ministros e a metade dos governadores são militares, e ocupam posições críticas da gestão pública, onde houve os maiores níveis de corrupção: a atribuição de divisas, os portos, a distribuição de alimentos. O fato dessas atividades estarem em mãos de militares torna mais difícil que sejam transparentes, que a sociedade saiba o que está se passando.
Que aconteceu com os processos de participação social promovidos pelos governos bolivarianos?
Hoje na Venezuela há uma desarticulação do tecido social. Depois de uma experiência extraordinariamente rica de organização da sociedade, de organização de base, de movimentos ligados à saúde, às telecomunicações, à posse da terra urbana, à alfabetização, que envolveu milhões de pessoas e gerou uma cultura de confiança, de solidariedade e poder de incidir sobre o próprio futuro, supunha-se que em momentos de crise haveria capacidade coletiva de responder, e acontece que não. Claro, falo de modo geral, em alguns lugares há maior capacidade de autonomia e autogoverno. Mas, em termos gerais, pode-se dizer que o que se vive hoje é uma reação mais em termos competitivos, individualistas. De todo modo, acredito que se mantém uma reserva que pode vir à tona em algum momento.
Por que não foi possível manter essa corrente de participação e organização?
Desde o início o processo esteve atravessado por uma contradição muito séria, entre entender a organização de base como processos de autogestão e autonomia, de construção do tecido social de baixo para cima, e o fato de que a maior parte dessas organizações foi produto de políticas públicas, promovidas de cima, pelo Estado. E essa contradição aconteceu de modo diferente em cada experiência. Onde havia experiência organizativa prévia, onde havia líderes comunitários, havia uma capacidade de confrontar o Estado; não para rejeitá-lo, mas para negociar. Além disso, a partir de 2005 acontece uma transição do processo bolivariano – de algo muito aberto, de um processo que busca um modelo de sociedade diferente do soviético e do capitalismo liberal, para a decisão de que o modelo é socialista, sendo o socialismo interpretado como estatismo. Houve muito influência político-ideológica cubana nessa conversão. Essas organizações passam então a ser pensadas em termos de instrumentos dirigidos a partir de cima, e começa a consolidar-se uma cultura estalinista em relação à organização popular. Isso, obviamente, lhe conferiu muita precariedade.
Como é a situação da democracia em termos liberais?
É obviamente muito mais grave [durante o governo de Maduro], porque é um governo que perdeu muitíssima legitimidade e que tem níveis crescentes de rejeição por parte da população. E a oposição avançou significativamente. O governo tinha hegemonia de todos os poderes públicos até perder de forma espetacular as eleições [parlamentares], em dezembro de 2015. E a partir dali começou a responder de modo cada vez mais autoritário. Maduro já governa há mais de um ano por decreto de emergência autorrenovado, quando deve ser ratificado pela Assembleia. Estamos muito longe de algo que possa ser chamado de prática democrática. Nesse contexto, as respostas dadas são cada vez mais violentas, da mídia e da oposição, e a reação do governo, já incapacitado de fazer outra coisa, é a repressão das manifestações, os presos políticos. Utilizam todos os instrumentos de poder em função de preservar o poder para si.
Que consequências tem essa situação a longo prazo?
Eu diria que há três consequências extraordinariamente preocupantes, a médio e longo prazo. Em primeiro lugar, há uma destruição do tecido produtivo da sociedade – e recuperá-lo vai tomar muitíssimo tempo. Recentemente um decreto presidencial abriu 112 mil quilômetros quadrados a uma mineradora transnacional em grande escala, num território onde está o habitat de dez povos indígenas, onde estão as maiores fontes de água do país, na selva amazônica. Em segundo lugar está um tema que demonstra como a profundidade desta crise está desintegrando o tecido social e hoje estamos pior, como sociedade, do que estivemos antes do governo Chávez; é muito duro dizer isso, mas é efetivamente o que estamos vivendo. Em terceiro lugar, a reversão das condições de vida em termos de saúde e alimentação. O governo deixou de publicar estatísticas oficiais e só há agora as estatísticas das câmaras empresariais e de algumas universidades, mas estas indicam uma perda sistemática de peso da população venezuelana, alguns cálculos dizem que de seis quilos por pessoa. E isso, por certo, tem consequências na desnutrição infantil e no longo prazo. Por fim, isso tem consequências extraordinárias em relação a qualquer possibilidade de mudança. A noção de socialismo, de alternativas, está descartada na Venezuela. Instalou-se a noção de que o público é necessariamente ineficiente e corrupto. É um fracasso.
Como vê a reação dos partidos de esquerda em nível global, e especialmente na América Latina, com relação à Venezuela?
Creio que um dos problemas que orientou historicamente a esquerda é a extraordinária dificuldade que temos tido de aprender a partir da experiência. Para aprender com a experiência é absolutamente necessário refletir criticamente sobre o que se passa e por que se passa. De fato, conhecemos toda a história do que foi a cumplicidade dos partidos comunistas do mundo com os horrores do estalinismo, e não por falta de informação. Não é que ficaram sabendo depois dos crimes de [Josef] Stalin, mas sim que houve uma cumplicidade que tem a ver com esse critério, de que como alguém é anti-imperialista e há um enfrentamento contra o império, fingimos que não vimos que mataram tanta gente, tratamos de não falar sobre isso. Creio que essa forma de entender a solidariedade como solidariedade incondicional, porque há um discurso de esquerda, porque há posturas anti-imperialistas ou porque há contradições geopoliticas com os setores dominantes no sistema global, leva a não questionar criticamente quais são os processos que estão ocorrendo. Gera-se então uma solidariedade cega, acrítica, que não só tem como consequência o fato de que o outro não foi criticado como também de que se está celebrando muitas coisas que acabam por ser extraordinariamente negativas. A chamada hiperliderança de Chávez era algo que estava ali desde o princípio. Ou o modelo produtivo extrativista. O que a esquerda conhece hoje, em sua própria cultura, sobre as consequências disso, já estava ali. Como, então, não abrir um debate sobre essas coisas, de maneira a pensar criticamente e oferecer propostas? Não que a esquerda europeia vá dizer aos venezuelanos como devem dirigir a revolução, mas tampouco essa celebração acrítica, que justifica qualquer coisa. Os presos políticos não são presos políticos, a deterioração da economia é produto da guerra econômica e da ação da direita internacional. Isso é verdade, está aí, mas obviamente não basta para explicar a profundidade da crise que estamos vivendo. A esquerda latino-americana tem uma responsabilidade histórica em relação, por exemplo, à situação atual de Cuba, porque durante muitos anos assumiu que enquanto permanecesse o bloqueio de Cuba não se podia criticar o país – não criticar Cuba, porém, queria dizer não ter a possibilidade de refletir criticamente sobre qual é o processo vivido pela sociedade cubana e quais são as possibilidades de diálogo com aquela sociedade em termos de opções de saída. Para grande parte da população cubana, o fato de estar numa espécie de rua sem saída era bastante óbvio, em nível individual, mas o governo cubano não permitia que isso fosse expressado, e a esquerda latino-americana fingiu-se de desentendida, não ofereceu nada, apenas solidariedade incondicional. O que acontece com isso? Acontece que são reforçadas tendências negativas que era possível tornar visíveis. Mas, além disso, não aprendemos. Se entendemos a luta pela transformação anticapitalista não como uma luta que só se passa lá, e vamos ser solidários com o que eles fazem, como uma luta de todos, então o que lá é mal feito nos afeta também, e também temos responsabilidade de apontar e de aprender com essa experiência, para não repeti-la. Mas não temos capacidade de aprender, porque de repente, quando o modelo venezuelano acabar de ruir, vamos virar o rosto para o outro lado. E isso, como solidariedade, como internacionalismo, como responsabilidade político-intelectual, é desastroso.
Por que a esquerda adota essas atitudes?
Isso em parte tem a ver com o fato de não termos ainda descartado, do pensamento de esquerda, algumas concepções demasiadamente unidimensionais sobre o que está em jogo. Se o que está em jogo é o conteúdo de classe e o anti-imperialismo, julgamos de uma maneira. Mas, se pensamos que a transformação, hoje, passa por isso, mas também por uma perspectiva crítica feminista, por outras formas de relação com a natureza, e que a questão da democracia não é descartar a democracia burguesa, mas aprofundar a democracia; se pensamos que a transformação é multidimensional porque a dominação também é multidimensional, por que razão este apoio acrítico aos governos de esquerda coloca em segundo plano os direitos dos povos indígenas, a reprodução do patriarcado? Então acaba julgando a partir de uma história muito monolítica, do que se supõe ser a transformação anticapitalista, que não dá conta do mundo atual. E, obviamente, de que serve nos livrarmos do imperialismo ianque se estabelecermos uma relação idêntica com a China? Há um problema político, teórico e ideológico, e talvez geracional, de pessoas para as quais essa era sua última aposta de alcançar uma sociedade alternativa, e que resistem a aceitar que ela fracassou
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras