“Só dói quando eu Rio”: Aldir Blanc e a cidade
Poucos mergulharam tão fundo – com tanto amor e indignação – nas contradições de uma cidade que há séculos desfila na corda-bamba entre a ordem e a desordem. Na semana em que faria 77 anos, rememoramos seus delírios cariocas
Publicado 06/09/2023 às 17:39 - Atualizado 13/09/2023 às 17:12
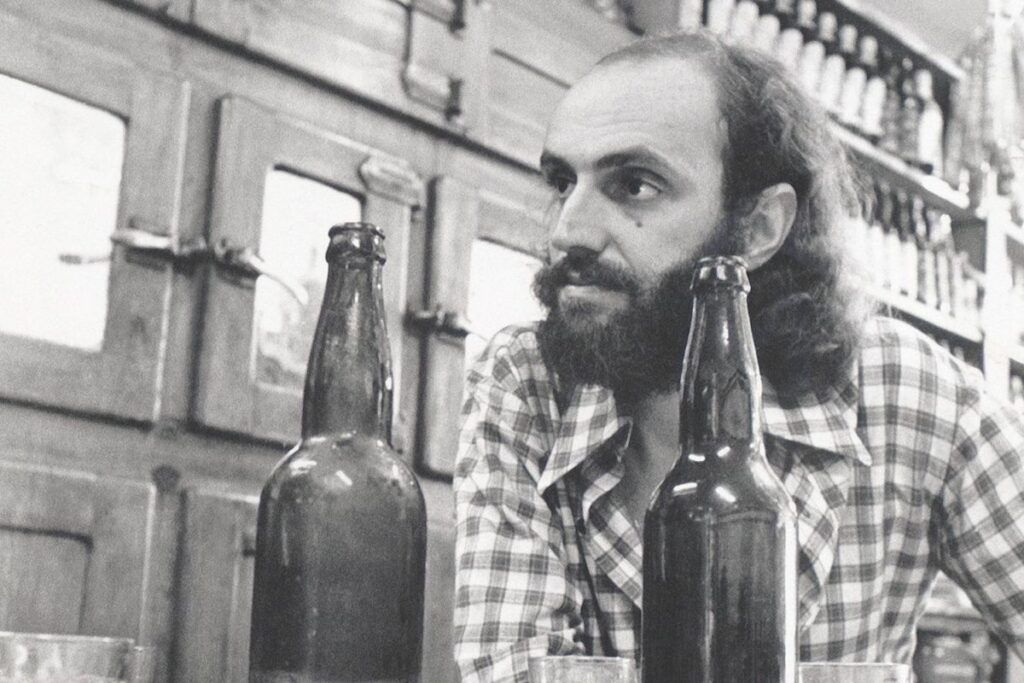
Por Pedro Cazes na coluna da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS)
Este ensaio foi publicado originalmente no Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) em 19/06/2020, pouco mais de um mês após a morte de Aldir Blanc, vítima da covid-19, como parte de uma série Pandemia, Cultura e Sociedade. No último sábado, 2 de setembro de 2023, Aldir Blanc teria completado 77 anos. Republicamos o texto em sua homenagem. Para ler outros textos da coluna da BVPS no Outras Palavras, clique aqui.
Em novembro de 2018, durante o feriado da República, voltei a Milho Verde/MG para o casamento de amigos queridos, cariocas desgarrados e felizes no cerrado mineiro. Num dos últimos dias de viagem, passamos a noite sentados debaixo de um caramanchão para fazer o “enterro dos ossos”, terminando os barris de cerveja encomendados para os festejos. Estava feliz em rever, além dos noivos, outro casal muito querido, ela mineira e ele mato-grossense de criação, ambos antropólogos daqueles com tudo que tem direito. Sempre que nos encontramos gastamos tempo em volta de algum violão, num exercício fraterno e amoroso de rivalidade entre dois Brasis que se medem e se admiram. Gilton me mostra inúmeras modas de viola, canções pantaneiras, joias feitas na medida para serem entoadas pelo cantador solitário. Eu geralmente emendo uns sambas, mostro algumas coisas de jovens compositores aqui do Rio, e assim seguimos por horas, revezando o instrumento. Daquela noite de novembro, uma cena ficou na minha cabeça. Lá pelas tantas, eu cantei “Saudades da Guanabara” parceria de Moacyr Luz, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro. Trata-se de um “samba exaltação” que tem em um dos refrões os versos: “Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro/ três por quatro na foto e o teu corpo inteiro/ precisa se regenerar”. Do que guardo na memória, lembro de, ao fim da música, encontrar um certo riso de desaprovação ou, ao menos, de comiseração. Pouco mais de duas semanas após a traumática eleição presidencial, a exibição despudorada de amor ao Rio parecia um tanto inadequada. É como se apenas ali, no olhar sincero dos amigos, eu me desse conta daquilo que o Rio acabara de projetar, como catástrofe, na arena nacional. Senti um tanto de vergonha pelo nosso “cariocacentrismo” exacerbado, pela nossa síndrome de eterna capital (cultural) do país. Desde então, toda vez que ouvia aquele samba me sentia desafiado a pensar até que ponto resiste algo ali que supera a cegueira congênita dos apaixonados pela própria cidade, e merece ser guardado em meio ao turbilhão que atravessamos.
Exaltação e lamento
Eu sei, eu sei. Começar um texto em homenagem a Aldir Blanc de um ponto tão distanciado pode parecer um sacrilégio aos que, como eu, vivem na tal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mais especificamente na Tijuca, de onde escrevo essas linhas. Mas talvez seja necessário tomar um pouco de distância para contemplar melhor a obra desse gigante da nossa música, que nos deixou no início de maio. Escolhi entrar por essa via desconfiada naquele que talvez seja o tema mais frequente na obra do Aldir. Creio que poucos compositores podem disputar com ele em número de canções sobre a cidade. Mas o Rio de Janeiro não comparece aí apenas como tema. Não sei se haverá nas artes igual encarnação de uma carioquice tão acentuada e ao mesmo tempo tão avessa ao Rio litorâneo consagrado pela bossa nova. Isso se faz em vários níveis.
Em termos de seleção lexical, na incorporação desabusada de um vocabulário popular da rua, incluindo aí impropérios, palavras de baixo calão e outras grosserias típicas da fala carioca, trabalhadas nas mãos do “ourives do palavreado” (na definição de Dorival Caymmi) com esmero obsessivo. Em termos de escrita, a filiação ao registro da crônica traz o compositor rente aos fatos cotidianos da cidade, que anota e comenta com a mais fina ironia, se afastando de qualquer tom combativo ou panfletário. Por fim, chama atenção que nos versos de Aldir, muito voltados para a construção de imagens fortes, a paisagem natural da cidade esteja praticamente ausente. O que ele constrói são cenas, no centro das quais está o povo carioca – ou, se quisermos, o drama e a comédia humana que aqui se acentuam. É um outro Rio[1], o Rio da Zona Norte e, mais especificamente, da Tijuca – bairro que constituiu seu posto de observação não apenas da vida urbana, mas do mundo. Em breve texto postado nas redes sociais quando do falecimento de seu parceiro, Guinga sintetizou em uma formulação simples e precisa aquilo que todos sabemos: “só os gênios conseguem conhecer o mundo por intermédio do quarteirão da sua casa. Aldir Blanc certamente é um desses”.
Sem a menor pretensão de esgotar o tema, quero apenas perseguir um fio que articula o que considero mais valioso na forma em que o compositor mira, elabora e inventa um Rio. Indo direto ao ponto, acredito que Aldir foi capaz de mergulhar fundo na zona em que os encantos e os desencantos da cidade se confundem. Em suas letras, o que há de belo e potente na cidade nunca aparece dissociado daquilo que ela tem de trágica e maldita. No tratamento dessas tensões sobressai a habilidade de falar com naturalidade e humor da cidade doída e dolorida que ama e sente profundo, inclusive quando ela dá ânsia de vômito[2]. Tal sentimento muito enraizado do lugar, com as contradições que carrega, foi imortalizado nos versos de “Canário da Terra” (com Guinga): “Eu vim da Maia Lacerda/ E essa merda faz parte de mim”. Pra quem não sabe, a Maia de Lacerda é uma das ruas que sai do Largo do Estácio, marco histórico do samba e ponto central do bairro que leva o nome do fundador da cidade, hoje mais lembrado por ter sido onde a vereadora carioca Marielle Franco foi assassinada em março de 2018. Foi também o bairro onde Aldir passou parte da infância e juventude, da qual sempre contava guardar traumáticas recordações. O tom escrachado e autodepreciativo dos versos expressa a relação ambivalente do artista com a sua própria terra. Como tentaremos indicar, Aldir realizou com uma poética muito própria, que se desdobra de modo versátil nas suas parcerias, a exploração intensa das nossas contradições e contrastes constitutivos, sem nunca resolver essas tensões em alguma positividade que pudesse ser resguardada das feridas do cotidiano carioca.
Se olharmos com mais atenção, tudo isso já está presente em “Saudades da Guanabara”, que praticamente subverte o gênero do samba-exaltação. Conta a história que, lá pelo final dos anos 1980, Paulo César Pinheiro e Aldir estavam no apartamento de Moacyr Luz quando ele mostrou um samba que Beth Carvalho queria gravar, mas cuja letra a desagradava. Lá pelas tantas Aldir sobe ao seu apartamento (moravam no mesmo prédio) pra pegar mais cerveja e desce vinte minutos depois com um trecho da letra. Assim, não é pura especulação considerar que os primeiros versos da música sejam de sua autoria. A abertura não deixa dúvida sobre o tipo de exaltação possível: “Eu sei que o meu peito é uma lona armada/ nostalgia não paga entrada/ circo vive é de ilusão…”. Inflando o peito e subindo a lona, canta-se o Rio na chave da ilusão, da nostalgia e do lamento. “Chorei, ai eu chorei/ com saudades da Guanabara/ refulgindo de estrelas claras/ longe dessa devastação”. Do cenário desolador do presente ninguém duvida, mas a própria nostalgia a que se prendem as “saudades da Guanabara” já é anunciada de início como a ilusão agridoce do circo. Longe de saudosismo, o samba-exaltação vira a prece de quem vê uma porta se fechando. Talvez por isso os versos finais dos refrões contenham um apelo de esperança, mas também de desespero (“precisa se regenerar” e “ainda pode se salvar”). Quando citadas na letra do samba, as paisagens se tornam apenas lugares de onde se vê e sente mais forte a tragédia da cidade: “na Vista Chinesa solucei de dor/ contra os crimes que rolam contra a liberdade” e “na Lagoa de águas claras/ fui tomado de compaixão”. Invertendo o tom celebratório dos sambas-exaltação, Aldir Blanc escreve sobre a própria relação problemática do poeta com a cidade. Vale dizer que o gênero tem como marco fundador a gravação original de “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, que foi lançada em 1939 na voz de Francisco Alves. Dentre as suas características formais, Aldir retém o uso vocativo do substantivo “Brasil”, mas se distancia do uso das imagens edênicas invocadas naquela aquarela. Talvez não seja exagerado pensar que a diferença entre esses dois sambas-exaltação desenha um arco histórico das nossas expectativas decrescentes[3].
A lição da malandragem
Moacyr Luz, em uma live feita na sexta-feira da semana em que Aldir faleceu, incluiu dentre os sambas-exaltação compostos em parceria com ele uma música chamada “Itajara”. Vista por esse ângulo, a canção ganha ainda maior tom de provocação e deboche.
Brasil
Marajás e mandarins…
Capim
Dá embaixo, dá no alto
Dá na rampa do planalto
A letra segue dizendo que a malandragem que corta de cima abaixo o país “dá o tema pro cantor” e, de certo modo, organiza o país disforme. Os últimos versos emplacam: “Todo mundo afana/ Da gangue do Escadinha ao seu bacana/ só que a falange vermelha/ Ao menos governa em cana”. Não é difícil reconhecer aqui o ar de família com a “dialética da malandragem” trabalhada por Antonio Candido em seu clássico ensaio sobre Memórias de um Sargento de Milícias. É possível mesmo notar que a comunicação e imbricação entre ordem e desordem apontada por Candido também comparecem na pena de Aldir com aquela relativa “ausência de juízo moral” e “aceitação risonha do ‘homem como ele é’, mistura de cinismo e bonomia que mostra ao leitor uma relativa equivalência entre o universo da ordem e da desordem” (2010, p. 34). Essa longeva visão da malandragem carioca reaparece com tudo não apenas na letra de “De frente pro crime” – onde a cena de um assassinato vai assumindo o aspecto de comício eleitoral, de furdunço com direito a churrasco de gato e culmina com o santo baixando na porta-bandeira – mas também no menos lembrado em “Profissionalismo é isso aí”, samba que abre o disco Bandalhismo, lançado por João Bosco em 1980. Convenhamos, difícil um título mais carioca. Ele condensa a moral da história que será contada na letra, como também carrega a “cor local” ao gravá-la numa expressão típica do registro oral (“é isso aí”). O arranjo da gravação oscila entre uma levada mais funk (americano) nas estrofes e mais pro samba no refrão[4]. A canção conta a história de uma “família” de ocasião, armada para atividades ilícitas e criminosas. Um enredo feito na medida pra rivalizar com outras versões da mesma história, cujas aparições cinematográficas mais recentes podem ser encontradas em Assunto de Família, de Koreeda, e Parasita, de Bong Joon-ho. A letra está dividida em duas partes. Na primeira, que vai até o primeiro refrão, apresenta-se a situação comum de moradia precária e sufoco financeiro, a partir da qual é narrada a organização das famílias para “contra-assaltar”.
Era eu e mais dez num pardieiro
no Estácio de Sá.
Fazia biscate o dia inteiro
pra não desovar
e quanto mais apertava o cinto
mais magro ficava com as calças caindo
sem nem pro cigarro, nenhum pra rangar.
Falei com os dez do pardieiro:
do jeito que tá
com a vida pela hora da morte
e vai piorar
imposto, inflação cheirando a assalto
juntamo as família na mesma quadrilha
nos organizamo pra contra-assaltar.
Fizemo a divisão dos trabalhos:
Mulher – suadouro, trotuá
Pivete – nas missas, nos sinais
Marmanjo – no arrocho, pó, chantagem,
balão apagado, tudo o que pintar.
E assim reformamo o pardieiro.
Penduramo placa no portão:
Tiziu, Cuspe-Grosso e seus irmãos
agora no ramo atacadista
convidam pro angu de inauguração.
O efeito combinado de humor e crítica dessa narrativa de uma ascensão social coletiva pela via do crime é evidente. Nem seria preciso destacar que a variação da concordância verbal, apresentando a conjugação da primeira pessoa do plural no registro da língua falada (“juntamo”, “organizamo”, “reformamo”, “penduramo”) é um detalhe daqueles que faz toda diferença para o resultado final. O progresso da família não deixa dúvida que o crime compensa. Mas é justamente esse o ponto que será trabalhado na segunda metade da letra, quando essa malandragem de arraia-miúda encontra a malandragem profissional da cidade.
Hoje tenho status, mordomo, contatos,
pertenço à situação
mas não esqueço os velhos tempos:
domingo numa solenidade
uma otoridade me abraçou.
Bati-lhe a carteira, nem notou,
Levou meu relógio e eu nem vi
– Já não há mais lugar pra amador!
O trecho realiza um golpe de vista, demarcado no verso “mas não esqueço os velhos tempos”. Em vez de narrativa de ascensão, a cena agora lança luz sobre a constituição das elites do país, pois a situação de “status, mordomo, contatos” esconde a origem violenta e criminosa que é o fundo comum das histórias pessoais de sucesso na gangorra da ordem e desordem. A cena narrada, um tanto prosaica na intenção cômica, traduz aquela equivalência de que falava Candido, equalizando até materialmente (um relógio x uma carteira) o quilate das autoridades e dos contraventores. A constatação de progressiva profissionalização das atividades ilícitas prepara o desfecho da canção, que só aparecerá depois do último refrão. Em tom sarcástico e fala mansa, João Bosco crava a máxima da nossa história condensada na fórmula encontrada por Blanc: “ri melhor quem ri impune”. As ressonâncias contemporâneas dessa máxima são gritantes e evidentes.
A cidade barbarizada
Escapando desse registro sarcástico e humorado, que mais ensina do que dramatiza, podemos lembrar de “Tiro de Misericórdia”, onde a violência aparece em sua face propriamente trágica e brutal. Mas é justamente aqui que o olhar de Aldir Blanc capta a vertigem na qual o muito pequeno e o muito grande se tocam. A canção deu título ao disco de João Bosco lançado em 1977 e, vista de hoje em dia, nos lembra que de fato a arte antecipa e ilumina o limiar histórico de uma época. Pois a letra tem no seu centro a execução de um “menor” (para usar a gíria carioca), emprestando ao evento dimensões adequadas à urgência da luta contra o genocídio do povo negro. Na primeira estrofe, o menino anônimo é apresentado como puro movimento, em permanente deslocamento entre uma coisa e outra, entre os morros do Rio. Como uma força que não se materializa numa forma fixa, sua existência ganha contornos etéreos. Ela está em todos os lugares e em lugar nenhum. Assim, será descrito como “um deus de bermuda e pé de chinelo”, em um movimento que associa o que é pequeno como a ratazana e a lagartixa, com o que é grande e poderoso como o “reizinho nagô” de corpo fechado.
O menino cresceu entre a ronda e a cana
Correndo nos becos que nem ratazana.
Entre a punga e o afano, entre a carta e a ficha
Subindo em pedreira que nem lagartixa.
Borel, Juramento, Urubu, Catacumba,
Nas rodas de samba, no eró da macumba.
Matriz, Querosene, Salgueiro, Turano,
Mangueira, São Carlos, menino mandando,
Ídolo de poeira, marafo e farelo
Um deus de bermuda e pé de chinelo,
Imperador dos morros, reizinho nagô,
O corpo fechado por babalôs.
A segunda parte da música é introduzida por uma espécie de intermezzo, mais perceptível na gravação ao vivo do DVD Obrigado, gente!, lançado por Bosco em 2006. No arranjo dessa versão não há a sobreposição tumultuada de elementos da gravação original de 1977. Enquanto a base se mantém no mesmo acorde fixo que percorre toda a primeira parte, a voz de Bosco passa a um registro falado, mais grave. As intervenções da percussão nos intervalos entre os versos ajudam a criar o clima de suspense e tensão. É o momento em que se abre um clarão e aparecem os orixás com seus elementos, todos em socorro do menino[5]. Sendo enumerados um a um, vão literalmente baixando e fazendo um círculo de proteção em torno do menino com seus símbolos sagrados (“Baixou Oxolufã com as espadas de prata,/ com sua coroa de escuro e de vício/ …”). Reforça-se a imagem de que a guerra envolverá os céus e a terra, as forças da natureza comparecendo ao lado do menino. Mas é na segunda parte da letra que o desfecho trágico se apresentará. É quando os Exus, mensageiros, trazem um aviso para os orixás, anunciando a maldade que espreita.
Exus na capa da noite soltaram a gargalhada
E avisaram a cilada pros orixás.
Exus, orixás, menino, lutaram como puderam
Mas era muita matraca pra pouco berro.
E lá no horto maldito, no chão do Pendura-Saia,
Zumbi menino Lumumba tomba na raia
Mandando bala pra baixo contra as falanges do mal,
Arcanjos velhos, coveiros do carnaval.
A cena do tiroteio, apresentada na estrofe acima, ganha força na medida em que Aldir se afasta de um registro realista e pinta a cena com a intensidade de uma dimensão cósmica maior. O menino é Zumbi e é Lumumba[6], atirando do alto do morro da Mangueira[7] nas “falanges do mal”. Pegos em uma cilada, o escudo é partido e o menino aparece vulnerável, desnorteado e abandonado. É quando a voz do próprio compositor aparece em um breve verso, por dentro da fala do menino, perguntando por que não conseguimos deter essa tragédia. Algo que ressoa com muita força enquanto escrevo esse texto posto que, mesmo durante a pandemia, a morte de meninos negros como João Pedro não cessa.
– Irmãos, irmãs, irmãozinhos,
Por que me abandonaram?
Por que nos abandonamos
em cada cruz?
– Irmãos, irmãs, irmãozinhos,
Nem tudo está consumado.
A minha morte é só uma
Ganga, Lumumba, Lorca, Jesus…
As referências religiosas se deslocam do universo do candomblé para o registro do cristianismo. Numa intertextualidade precisa, Aldir parafraseia o Salmo 22, recitado por Jesus na cruz, intitulado “Deus ouve o clamor do pobre”. Porém, colado ao zunido das balas, é menos o sofrimento de uma existência miserável e mais a revolta contra a injustiça que se expressa. Trata-se de uma luta e o menino nos lembra que “nem tudo está consumado”. O nosso pecado é nos abandonarmos em cada cruz. Por fim, quando é apresentado o desfecho violento (“Grampearam o menino do corpo fechado/ e barbarizaram com mais de cem tiros”), está implícito que se trata da violação de alguma lei maior, que não poderá ser silenciada pela “misericórdia” ironicamente apresentada na liquidação do martírio.
O riso e o delírio
É muito impressionante como Aldir consegue transitar do registro mais leve e descompromissado da crônica para letras que elaboram poeticamente nossas “lutas inglórias”, tratando das tragédias cotidianas desde a anotação da manchete do jornal – como em “Fatalidade (balconista teve morte instantânea)”, que fala das vidas cortadas (literal e metaforicamente) pelas pistas da Avenida Brasil – até o registro mítico e grandioso do “Tiro de Misericórdia”. Isso sem falar nos clássicos que são “aulas de história” como o “Mestre-sala dos mares”, onde as imagens fortes estão também presentes.
Por tudo isso, a relação com a cidade não poderia estar imune a essa “dor pungente”. A ambivalência é sintetizada no título da canção “Só dói quando eu Rio”, parceria com Moacyr Luz. Colocando maiúsculas no título, Aldir brinca com as possibilidades da palavra, entre o verbo e o substantivo. A associação entre o riso e a dor é expressão clara da impossibilidade de dissociar a beleza e o horror que convivem aqui. Me parece que, em seus maiores momentos, Aldir nunca perde de vista essa relação. Por isso a fixação com a cidade pode ter algo de doentio, ou de um feitiço que prende o compositor e o obriga a olhar dentro da ferida que o constitui. Na parceria com o Moa, Aldir fala que “Só fico à vontade/ Na minha cidade/ Volto sempre a ela,/ Feito criminosa…/ Doce e dolorosa,/ A minha história escorre aqui”. A mesma letra ainda descreve a Zona Norte como uma “cigana lendo a minha sorte”.
A cidade como cigana nos remete à chave da ilusão e do delírio, já apontada no início do texto. Aliás, as parcerias com Moacyr Luz de que tratamos aqui foram gravadas no disco Vitória da Ilusão (1995), nome da faixa em homenagem aos carnavalescos que marcaram a história dos desfiles do Rio. Já Guinga intitulou seu segundo disco, todo de parcerias com Aldir, de Delírio Carioca (1993). A faixa-título apresenta uma pintura non-sense em que se cruzam referências das mais discrepantes na paisagem da cidade. O gosto pelos contrastes não deixa de se fazer sentir mesmo nessa celebração alucinada da cidade. Os últimos versos, prenhes da ironia característica do compositor, fecham o quadro surrealista: “A clave rosa da manhã atinge um balão/ Maravimentirosa:/ Dá pra pegar jacaré no arrastão”.
Mas a expressão “só dói quando eu rio” já estava presente em uma canção anterior, fechando aquela que é verdadeiramente a maior expressão da fusão entre o compositor e a cidade, a “Valsa do Maracanã” (parceria com Paulo Emílio, amigo de inúmeras noitadas tijucanas). O gosto de Aldir pelo escatológico e pelo grotesco comparece aqui para marcar numa nota só a continuidade do sujeito deteriorado e da própria cidade, que embora leve “rio” no nome costuma ser mais lembrada pelo mar. A letra poderia ser psicanaliticamente tratada como uma espécie de “retorno do recalcado”, pois se trata de trazer à tona o que a cidade coloca pra baixo do tapete, ou melhor, pra baixo do asfalto, como os seus rios canalizados[8]. Tão estragado como a cidade, o compositor aparece na cena inicial fazendo o único gesto presente nessa ode invertida: um pedido de socorro. Só mesmo uma “mente doentia”[9] poderia pensar numa declaração de amor à cidade que clama para que seu sangue se misture com o leito poluído do rio, se nutrindo dos restos, do lixo carregado pelo seu fluxo.
Quando eu ficar assim
Morrendo após o porre
Maracanã meu rio
Ai corre e me socorre
Injeta em minhas veias
Teu soro poluído
Daí em diante os verbos somem, e passa-se à enumeração dos detritos da cidade. No avesso da imagem edênica e grandiosa das paisagens naturais, o Rio aqui é feito de pequenos fragmentos, em geral objetos usados e destituídos de vida. A letra da canção, feita de versos curtos, nivela esses elementos enumerados, como se feitos de uma coisa só. Tem pilha e folha morta, caco de garrafa, prego enferrujado, chapinha premiada, e até aborto criminoso. O primado dos substantivos concretos – decisivo na construção imagética dos versos de Aldir e princípio verdadeiramente democratizante da sua poesia, abrindo a porta para palavras que não frequentavam a cidade da canção brasileira – só é quebrado rapidamente pelo verso “O castigo e o perdão”, que por sua vez é seguido do mais vulgar possível, “o modess e a camisinha”. As letras de Aldir são um espaço de reverberação de um Rio nem sempre belo, mas por isso mesmo mais verdadeiro.
Evitamos ao longo deste texto qualquer tom fúnebre, ou excessivamente laudatório. Algo que desagradaria o próprio homenageado, creio eu. Entretanto, sua partida em um momento histórico tão tenebroso, além de reforçar o sufoco do presente, deixa mais vivas as feridas que não cicatrizam. Ficamos com a sensação de que o compositor recebeu pouco pelo muito que fez na e pela nossa cultura. Longe do pseudo-glamour das celebridades e mesmo do conforto dos artistas mais célebres da MPB, Aldir enfrentou algumas durezas nos últimos anos de vida. Não apenas de saúde, mas também financeiras. No fim, foi derrotado pela mesma causa mortis de milhares de brasileiros, tendo seu destino traçado por um mal que nos aflige a todos. Como se não pudesse ser separado do bairro onde cresceu e que tanto cantou, Aldir faleceu em Vila Isabel, mais exatamente no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. Internado por um mês lutando contra a covid-19, quero crer que talvez em algum delírio inconsciente durante o coma ele tenha sonhado com a letra de “Viena fica na 28 de Setembro”, gravada por João Bosco no disco Comissão de Frente (1982). Agora o artista se juntava não apenas ao cenário que só ele foi capaz de ver naquele Boulevard onde estava internado, mas também aos nossos grandes artistas que homenageava ao fim da letra. Peço licença para citá-la na íntegra.
Morre a luz da noite
O porre acende pra me iluminar
Numa outra cena…
Zune o vento e valsam os oitis
No velho boulevard:
Bosques de Viena!
Escrevo carta a uma desconhecida
Com quem tive um flerte, um anjo azul…
Pobres balconistas de paquete, de ar infeliz
São novas Bovarys…
Já perdi o expresso do oriente
onde sempre sou
vítima e assassino…
Tomo a carruagem e o cocheiro
De tabela dois
Diz que é vascaíno…
Ah, triste figura, Dom Quixote
Quer mais um traçado
– cadê o Sancho?
Dá pro santo, bebe, e o passado
Volta a desfilar,
Pierrô de marcha-rancho:
com as broncas do Ary Barroso, sem elas…
com a bossa do Ciro Monteiro, sem ela…
com o copo cheio de Vinícius, sem ele…
com nervos de aço Lupicínio, sem eles…
com as mãos do Antonio Maria, sem elas…
com a voz do Lamartine Babo, sem ela…
com a rosa Dolores Duran, sem ela…
com a majestade da Elis, sem ela…
E somos agora forçados a continuar: “com os versos do Aldir Blanc, sem eles…”.
Notas
[1] A própria divisão da cidade em duas “personalidades” distintas foi elaborada metaforicamente na canção “Cata-vento e Girassol” (parceria com Guinga), onde o eu-lírico é do Engenho de Dentro enquanto a sua musa vive no “vento do Arpoador”.
[2] Dentre as muitas proezas poéticas realizadas por Aldir no quesito “palavras que não costumam estar presentes nas canções” podemos lembrar dos dois tercetos que fecham “Bandalhismo”, soneto musicado por João Bosco, cantados na gravação original por Paulinho da Viola, o príncipe do samba, a elegância em pessoa: “Como os pobres otários da Central/ já vomitei sem lenço e Sonrisal/ o P.F. de rabada com agrião…/ Mais amarelo do que arroz de forno,/ voltei pro lar, e em plena dor de corno/ quebrei o vídeo da televisão”.
[3] Tomo a expressão emprestada de ARANTES, 2014.
[4] A música foi gravada originalmente pela Banda Black Rio no LP Saci Pererê, lançado no mesmo ano, reforçando a pegada suingada do funk. Recentemente a canção foi regravada pelo próprio João Bosco na forma de um blues no disco Abricó de Macaco, lançado em maio de 2020.
[5] Na gravação original de 1977, a canção fecha o disco homônimo, fazendo o contraponto à primeira faixa, intitulada justamente “Gênesis (Parto)”. Ao som de tambores, a chegada do menino ao mundo é narrada como um sufoco (“nasceu de birra/ barro ao invés de incenso e mirra/ cordão cortado com gilete”) no qual comparecem o “seu Sete”, Exu e Oxum (que avisa: “esse promete…”).
[6] A referência mais provável aqui é a Patrice Lumumba, líder político congolês, defensor do pan-africanismo e uma das principais vozes da luta pela libertação nacional dos países africanos, assassinado em 1961.
[7] O “Pendura a saia” é uma das localidades do morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
[8] O rio Maracanã canalizado, por sinal, passa literalmente na esquina do prédio onde Aldir morou nos últimos 40 anos, na Rua Garibaldi, região da Muda.
[9] Como aponta Luiz Fernando Vianna em Aldir Blanc: resposta ao tempo (2013), o próprio compositor considerava essa qualificação do seu amigo Jaguar como o maior elogio que recebeu na vida.
Bibliografia
ARANTES, Paulo. O novo tempo do mundo e outros ensaios sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014.
CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2010.
VIANNA, Luiz Fernando. Aldir Blanc: resposta ao tempo – Vida e letras. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



Belíssimo texto sobre a vida, obra, arte,…do fenomenal Aldir Blanc!!!!