O deus das avencas: visões do apocalipse brasileiro
Novelas de Daniel Galera examinam a espera da maternidade, durante as eleições de 2018. A partir daí, tecem distopias: os dilemas filosóficos das tecnologias, a “cicatriz” da experiência e o embate entre misticismo e racionalidade
Publicado 25/02/2022 às 17:12

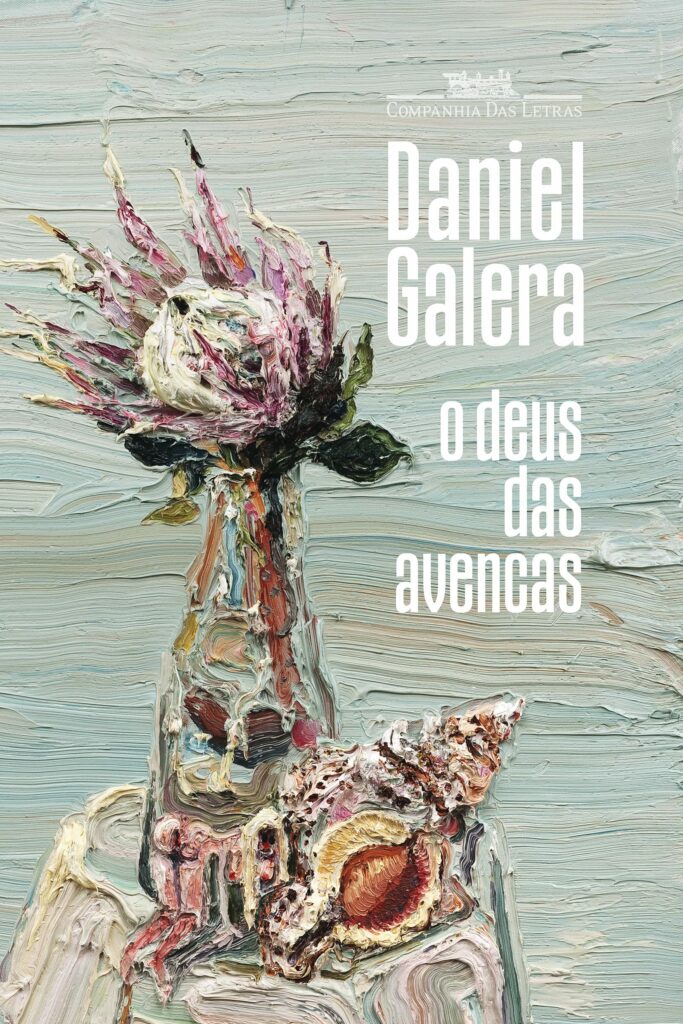
Em junho de 2021 foi publicado o livro O deus das avencas, de Daniel Galera, pela Companhia das Letras, coletânea de três novelas. Apesar da extensão algo diminuta de cada uma das histórias, elas têm profundidades e amplitudes de elevado interesse literário e filosófico, que permitem leituras mais ágeis, voltadas à ação e à trama, mas que justificam também a leitura mais lenta e cuidadosa. O texto que segue é uma tentativa de respeitar as duas, mas pendendo para a segunda.
A primeira novela, “O deus das avencas” (piscadela para o Caetano), conta a história de Manuela e Lucas na jornada do nascimento do primeiro filho, durante o fim de semana fatal das eleições de 2018. Como é possível perceber mesmo nessa sinopse apertada, há uma tentativa de tematizar o presente, de tentar encontrar o tom adequado e a forma apropriada para tornar a experiência do presente (a terrível experiência do presente brasileiro) em assunto literário. É bem provável que a
dificuldade que a novela enfrenta nesse sentido talvez tenha mais a ver com os fatos de nossa história recente do que com seu engenho. Há um certo desencontro, ou pequenas interrupções da ambiência, nos momentos em que se busca aproximar os dois personagens centrais dos eventos correntes, o que “quebra” o feitiço ficcional por um instante e deixa ver as cordas do titereiro.
Não me entendam mal: a agudeza narrativa do Galera Barba ensopada de sangue está todinha ali, não resta dúvida, assim como sua preocupação em dotar a narrativa com todos aqueles detalhes circunstanciais que criam ambiência literária, e, ainda, seu invejável instinto em relação a quantos desses detalhes podem ser colocados antes de fazer soçobrar a frase inteira.
Suspeito que a “quebra” de feitiço se dá por causa de, bem, do absurdo histórico pelo qual passamos, que se encontra tão escancarado que colocar carne artística ao redor dele parece igualmente urgente e fútil. O furor filosófico, ou a investida política, ou o “simples” encantamento ficcional da literatura parecem quase tergiversação diante do quão prementes se mostram os desafios humanos que enfrentamos nessas paragens.
O que o Brasil se tornou de alguns anos para cá desafia mesmo a capacidade de o tomarmos como matéria-prima da literatura — afinal, como deixar de falar sobre isto? – mas, ao mesmo tempo, como evitar resvalar para o truísmo de condenar o mal? Na recriação daquele domingo fatídico de 2018, nos reconhecemos no compasso de espera de Lucas, que aguarda notícias na sala de espera da maternidade: “Saber tanta coisa e não entender nada”.
Galera achou uma saída possível a esse dilema deixando as entrelinhas darem o tom do desfecho: a possibilidade de um aborto, de um natimorto, se instila sutilmente na narrativa, dando a impressão de que o narrado foi uma espécie de recapitulação dos passos que levaram à tragédia. Reconstituição de um acidente. A felicidade literária desse expediente é menos completa, me parece, do que a de um conto parecido do Roa Bastos, “El país donde los niños no querían nacer”, no qual a vontade dos bebês não-nascidos é ressaltada, de modo que as longas gestações se tornam uma espécie de protesto diante do Paraguai governado por um tirano. Manuela, Lucas e o bebê parecem ser mais as vítimas do futuro ominoso, o que faz o conto descrever uma linha dramática descendente ao final, tirando-lhe parte do impacto.
Indo numa direção diferente está “Tóquio”, a segunda novela do livro. Narrada em primeira pessoa e se passando num futuro distópico, a história é o relato do proprietário de um dispositivo tecnológico em que se encontra armazenada a consciência de sua mãe, chamado de “pupa”. O dispositivo foi desenvolvido como uma espécie de alternativa à morte, com o conjunto das estruturas e das interações neurais do humano original sendo codificadas e reproduzidas no hardware, assim livrando-o de seu corpo mortal. A experiência se mostrou desastrosa, pois parte substancial das memórias que ancoram a consciência e a identidade são experienciais, isto é, tem o
corpo como suporte básico. Assim, ter a informação da memória sem ter a ampla “cicatriz” da experiência (no corpo, nas sensações, no estado mental e circunstancial específico) é como ser uma espécie de base de dados interativa. A amargura da mãe-pupa dá a dimensão dessa funesta condição em dolorosas notas de lirismo:
“Ah, a crueldade e a ironia de dotar um computador com capacidades de autoexploração e confiná-lo a um túmulo. Meu ambiente é simulado. Conseguem imaginar? É como morar dentro de um videogame antigo. Preciso sair daqui. Quebrar a casca. Rasgar o ventre do céu. No contrato que eu assinei, não era pra terem me colocado num artefato desse tipo. Estou abandonada numa ilha deserta com um único livro, que é minha autobiografia.”
Essa novela é uma verdadeira pérola, para mim o ponto alto do livro. Ela se passa em parte nas sessões de terapia de outros portadores de pupas (que têm enorme dificuldade de lidar com esses seres não-seres) e em parte recapitulando a história do narrador com sua mãe, tudo isso envelopado numa São Paulo pós-apocalíptica. Como é de se esperar, há muita filosofia, mas há também muito daquela preocupação do Galera em fornir de detalhes substantivos todo o “cenário” em que se passa a trama, uma destreza em definir o equilíbrio entre o narrar e o descrever. Enquanto se lê a novela, se tem a impressão de que há muito mais história detrás de cada porta ou debaixo de cada pedra, ficando-se com a sensação de que, apesar de a história acompanhar um personagem vetor, tem todo um universo pulsando logo adiante, na penumbra das entrelinhas.
Em direção parecida caminha “Bugônia”, a última novela: se passa num futuro pós-apocalíptico também altamente imaginativo, em que as condições de sobrevivência passaram a depender de um curioso arranjo que alterna razão e misticismo. Uma comunidade reaprendeu a observar os ritmos da natureza nesse mundo decadente e notou que uma certa espécie de abelha, quando se alimentava de um cadáver, produzia um mel especial, o necromel, que garantia imunidade contra a praga que assola o mundo. Enquanto a morte natural seguia seu curso e dava conta de arranjar cadáveres
nas estações certas, a vida da comunidade prosseguia em razoável harmonia, mas chegou a estação em que ninguém morreu. Dessa situação-limite, adida à chegada de um forasteiro, é que decorre a ação da novela, em especial por conta das decisões que essa comunidade precisa tomar, e que a levam a testar suas bases éticas e os limites de suas crenças e de sua racionalidade. Como peças de ficção científica, eu diria que “Tóquio” está para Blade Runner, assim como “Bugônia” está para Mad Max.
Como nas demais novelas, prevalece nesta a narrativa classuda, na melhor tradição realista, mas com o tempero mais descolado da literatura contemporânea, na forma de uma narrativa menos quadrada e de um feliz flerte com a ficção especulativa (o Galera até tocou no assunto no evento de lançamento do livro). Isto é, realista sem pretensões objetivistas, ou seja, não assombrada pela obsessão da tese, mas, ainda assim, cuidadosamente preocupada em criar e recriar cenários, trajes, estados de espírito, enfim, fornir ambiência com riqueza descritiva para investir dramática e filosoficamente seu argumento. Imagine que você tirasse os defeitos já longamente apontados sobre o naturalismo, que se depurasse mesmo a estética deles. O que restar é, mais ou menos, a literatura do Galera, nesse caso com uma decolagem sci-fi.
Outra impressão que me dá é a de que ele escreve como Dickens ou Balzac se eles tivessem lido Sartre, i.e., como se tivessem sido feridos pela história do século XX, como se vivessem pro lado de cá daquilo que a miopia do Fukuyama quis chamar de “fim da história”. Ainda em termos de tentar rastrear suas afinidades eletivas, a literatura do Galera lembra muito o cuidado e a cadência do Jonathan Franzen, mas depurado da caretice deste. Quem sabe uma aproximação de Benjamin Kunkel, quiçá de Safran Foer, mas sem aquela mão pesada das pretensões políticas que os dois têm.
Enfim, quero dizer que na literatura do Galera há pouco espaço tanto para a autoindulgência quanto a virtuosismos estéticos, e quase nenhum para as manias de ensimesmamento pós-modernas. Correndo o risco de ser chamado de conservador e ambíguo, diria que prevalece nele, em que pesem todas as influências contemporâneas, a “boa e velha narrativa”. Numa frase: é uma narrativa tão substantiva quanto adjetiva.
Se a gente pensa na junção das três novelas como algo mais do que um arranjo casual, mais do que certa conveniência editorial misturada com as idas e vindas da criatividade do próprio autor, é possível dizer que há uma certa coerência lógica na montagem: “O deus das avencas” é datado e corresponde ao presente, podendo ser tomado como espécie de passado daquele futuro que se vê em “Tóquio” e “Bugônia”.
Nesses termos, o futuro indefinido do fim de “O deus das avencas” (Lucas na sala de espera, aguardando notícias sobre o nascimento do filho) acaba por se tornar o mundo abortado das duas últimas novelas, em que o futuro deu uma guinada na direção do apocalipse. É uma hipótese de leitura, claro, mas tem seu charme.
É possível até arriscar dizer que “Tóquio” e “Bugônia” são parte do mesmo universo, mas contados de pontos de vista diferentes: a primeira história centrada na vida dos melhores posicionados, que ainda vivem na parte alta das cidades e levam uma vida razoavelmente estável apesar do cataclismo; a última acompanhando a rotina de um grupo de desgarrados que vive no ermo tentando garantir, na precariedade de sua existência, a continuidade da vida.
Por fim, pode-se dizer que se pressentem temas altamente afinados com dilemas contemporâneos em cada uma dessas novelas. Ora a desigualdade social que coloca o narrador de “Tóquio” no alto dos prédios enquanto no nível da rua a desgraça corre à forra, ora os reveses da razão ante as respostas emocionais, como no debate que ameaça colapsar a comunidade de “Bugônia”. Esses temas, no entanto, são inoculados aos poucos, na arquitetura mesma da narrativa, na construção orgânica da experiência ficcional em sentido amplo, o que acaba por investi-los de expressividade porque essa carga dramática se desenvolve gradativamente. Dito doutro modo: envolvendo o leitor na sua persuasão e resistindo heroicamente à saída fácil do engajamento espasmódico.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras


