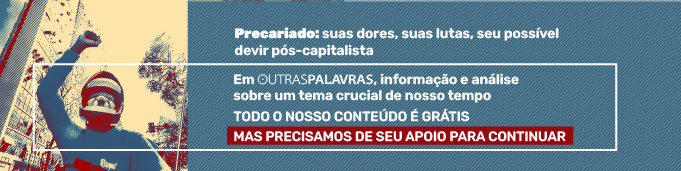Ana Cristina César ou a falta que ama
Em que se assenta a força dos versos da poeta, morta há 40 anos? Crítico enxerga “sentimentos e emoções estatelados no vazio. Imagens concretas e poderosas. Palavras lúdicas e de superfície”. Ela não quer revestir o mundo, diz, mas reinventar o futuro
Publicado 23/08/2023 às 16:54 - Atualizado 23/08/2023 às 19:17

Este texto foi publicado no Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) em 9 de março de 2023, como parte do evento editorial Ocupação Mulheres 2023, na coluna Palavra Crítica, sob curadoria de Rodrigo Jorge Ribeiro Neves. O ensaio de Silviano Santiago foi lançado como prefácio à antologia Ana Cristina César, organizada por Armando Freitas Filho, parte integrante da coleção “Novas Seletas”, coordenada por Laura Sandroni para a editora Nova Fronteira. Para ler outros textos da coluna da BVPS no Outras Palavras, clique aqui.
Por Silviano Santiago na coluna da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS)
A falta que ama
A levar em consideração a ordem cronológica dos poemas e a criteriosa seleção feita para esta antologia, a poesia de Ana Cristina César desabrocha pela noção de perda do centro (das atenções). A figura humana que ocupa o centro do drama encenado pelo poema – ou seja, o eu lírico – é obrigada a ceder o lugar privilegiado, que ocupava, para as muitas viagens que o pai faz (“Esvoaça… Esvoaça”). Para o jornal, que passa a ser odiado, por esconder o homem (“Poesia de 1º de outubro”). Para o cigarro, de que sente ciúmes, porque o homem dele se serve a fim de se distrair (“Ciúmes”). Ao mesmo tempo em que perde o privilégio do centro, que está sendo ocupado pelas viagens, o jornal e o cigarro, o eu lírico descobre que o outro tinha se distanciado dele. A antiga relação doméstica, certamente feliz, se fez separação. Esta traz perda, dor e ciúme. Carlos Drummond surpreendeu com uma expressão notável a situação que estamos caracterizando, “a falta que ama”. Leiamos uma estrofe do poema que leva esse título:
“Entre areia, sol e grama
O que se esquiva se dá,
enquanto a falta que ama
procura alguém que não há.” (Boitempo)
É a falta que ama quem escreve os primeiros poemas de Ana Cristina.
Não se procure na sua poesia dessa época – ou na de período posterior – a descrição pormenorizada dos sentimentos de distanciamento, separação, perda, dor e ciúme. Ana Cristina não se assemelha a um poeta romântico tradicional, que vai se valer dum arsenal de palavras cada vez mais abstratas para descrever sentimentos. Na sua poesia sentimentos e emoções não são pessoais e intransferíveis; não são tampouco profundos (para utilizar o jargão da psicologia). São sentimentos e emoções de bastardo ou de filho pródigo. Estatelam-se à frente do leitor sob a forma de imagens concretas que se refletem em outras e mais outras imagens, imaginárias ou literárias. Não há como não reconhecer: há um gosto pelo chavão literário na poesia de Ana Cristina, que decorre dessa busca constante de exemplos que estão ao alcance de qualquer um na enciclopédia universal de imagens poéticas, enciclopédia esta de responsabilidade dos grandes gênios da poesia ocidental.
Sentimentos e emoções se apresentam antes de tudo ao leitor como superfícies que traduzem a identidade de quem escreve – superfícies identitárias. Na poesia madura de Ana Cristina, essas superfícies poderão se recobrir com palavras e versos tomados de empréstimo – ou até mesmo roubados – a uma gama variadíssima de poetas, julgados semelhantes ou, como quer Charles Baudelaire, tidos como irmãos em hipocrisia (leia-se o famoso verso dele, em tradução de Ivan Junqueira: “— Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!”). A apropriação da palavra ou do verso alheio, feita por Ana Cristina, não corresponde à possível acusação de plágio por parte de críticos-polícias, porque ela e os demais poetas da sua preferência são todos fraternos e hipócritas leitores da alma alheia no próprio coração, e cinzelam – na casca de noz de cada e qualquer poema – o vasto mosaico da poesia ocidental.
Na poesia dos anos de formação (1963-1979, de acordo com o critério utilizado), Ana Cristina descreve (se se puder continuar usando o verbo) sentimentos e emoções por imagens concretas. O sumiço do pai por causa da viagem é expresso por estas duas imagens: “a vela que se apaga” e “a fumaça sobe e se atenua”. Sentimentos e emoção não são expressos só por imagens, mas também pelo modo como, graças ao negro da letra, o eu lírico dispõe imaginariamente no branco da página as figuras humanas com quem contracena no poema. A poeta lembra um pintor diante da tela, como o espanhol Velázquez (1599-1660), ou um diretor de teatro, como o polonês nosso contemporâneo, Tadeus Kantor, que dirige os atores e imprime ritmo à encenação no próprio palco. Ao se desvencilhar da descrição abstrata dos sentimentos e emoções, a poeta se adentra pela definição dos movimentos, posições e atitudes dos personagens que a rodeiam, com o intuito de despertá-los, perturbá-los ou recuperá-los. A solidão é daninha. Em vão, o eu lírico quer reocupar o antigo lugar a fim de voltar à condição de centro (das atenções).
Os primeiros poemas de Ana Cristina que vamos ler traduzem o esforço da poeta em reorganizar as figuras humanas no espaço doméstico, segundo uma disposição cênica que traduz a vontade que se expressa por um olhar ditatorial. O eu lírico, ao final de um dos poemas, exerce no modo imperativo o seu direito de diretor de teatro:
“Baixa teu jornal, homem!” (“Poesia de 1º de outubro”).
Baixa teu jornal, enxerga a mim, à sua frente, cara a cara. O diretor controla o interesse e o gestual do ator para que nós, leitores, o reconheçamos sendo reconduzido ao lugar privilegiado – o do centro (das atenções) –, que lhe coube outrora e volta a lhe caber, agora por direito adquirido no poema. Leiamos trecho deste outro poema:
“A luz pa
terna me u me
dece ti
mida luta me encar
cera úl
timo ap
ego.”
A vontade cênica dos olhos (o “ego”, solto ao final da citação) fica cara a cara com a perda. Olhos úmidos. Olhos nos olhos da falta que ama. Perda do centro. Perda de personalidade e de singularidade do eu lírico. As próprias palavras do poema se quebram em pedaços, se atomizam, perdendo o referencial preciso e centralizador do dicionário (“A luz pa / terna me u / me / dece ti / mida”, etc.). As palavras do poema deixam-se dividir em partes semi-autônomas, ao bom grado do desejo, também descentrado, da poeta. Ao perder a posição primordial, o eu perde também a bússola que poderia ter-lhe sido dada pelo espelho da penteadeira. Este, se e quando invocado, como no caso da poesia de Cecília Meireles, se espatifaria nos jogos espirituosos e irônicos da palavra poética de Ana Cristina. Espelho não é objeto onde o ser humano se conhece a si; é a imagem concreta que recobre o reflexo que, a seu turno, é tijolo que serve para que a mulher construa a própria identidade. Lembremo-nos: sentimentos não remetem à profundeza do ser; remetem antes a imagens concretas que, por sua vez, remetem a outras imagens concretas.
Não há diálogo tristonho ou sombrio entre o rosto e seu reflexo no espelho. Tudo é brincadeira no reino das superfícies, no universo das palavras. Tudo é ligeiro, como numa opereta, por isso tudo equivale, para se valer do termo musical, a um scherzo na cascata de versos. Todas as variações de tom – da tragédia ao drama e à comédia – são possíveis e, ao mesmo tempo, tornam-se possibilidades concretas, nomeáveis, na roda-viva da falta de identidade feminina, na roda-viva da conquista da identidade feminina. Quanto mais se perde, mais se tem a construir – eis a estranha lógica do amadurecimento da mulher numa sociedade patriarcal.
Na sua simplicidade adolescente e nos empréstimos escancarados que toma ao Fernando Pessoa do poema “Autopsicografia”, o “Soneto”, do nunca editado livro Inconfissões, é exemplo, da falta de significado que existe por detrás dos sentimentos e nas emoções tidos como pessoais, a partir do momento em que o nome próprio (ou o próprio do nome) é destituído da sua condição de envelope cujo conteúdo fora pré-determinado pela lógica da experiência da vida em família. O envelope é envelope, sem significado dado antecipadamente. Em outras palavras: o nome próprio não carrega consigo significado algum do passado que possa ser válido para alicerçar uma ação a ser feita. Para usar a terminologia da linguística, que amamentou o saber universitário de Ana Cristina durante os anos em que estudou Letras na PUC-RJ, o envelope é o significante, ou seja, é apenas a imagem sonora da palavra. Significante solto no ar da folha de papel, sem o significado que lhe fora conferido por anos de vida familiar. Ferido pelo outro, que o retirou do centro, o corpo feminino torna-se anônimo, impessoal e deambulante nos embates do dia a dia. Corpo sem-nome, nome-sem-corpo, de bastardo ou de filho pródigo. É o que é, e nada mais:
“Pergunto aqui meus senhores
Quem é a loura donzela
Que se chama Ana Cristina”
A “loura donzela” faz parte de uma geração recente de artistas, para quem a palavra conta menos do que a imagem. Conta menos como valor de verdade; conta mais como valor de jogo. Palavras são cartas de baralho na mesa. Quem melhor souber embaralhá-las e distribuí-las, quem melhor souber trapacear com elas, dizima o adversário e vence o jogo. Conquista para si o leitor. O jogo da poesia equivale à fraude da vida. Um é guarda-costas da outra, e vice-versa. Nada no cotidiano do sobreviver é profundo ou sério, daí que, ao final das transações / transas, tudo bem. A ponta de “chafariz” (metáfora para sorriso) “rima por dentro” com “nariz”, como está no poema “Protuberância”, ainda da fase inicial. A “amadora” se faz ardilosa “armadora”, num processo que lembra o da palavra-puxa-palavra de Carlos Drummond. Leia-se este outro exemplo do mesmo poema: “Eu dentro do templo chuto o tempo”.
Se nas trapaças da vida a palavra conta mais como valor lúdico e poético é porque os sentimentos e as emoções contam menos do que o comportamento no desenrolar do futuro. A condição do nome próprio, ou a condição do próprio do nome, é a de ser um “lapso sutil”, como está escrito em poema. Lapso: falta e erro, ao mesmo tempo.
Os sentimentos e as emoções contam menos como materiais de construção da futura identidade feminina; contam mais como frivolidades de que a mulher deve se liberar – com “luvas de pelica” – para chegar a uma personalidade outra e libertária, que pode ser assumida, tão logo sejam desprezados o nome próprio e o ambiente doméstico. Imagem concreta é tudo o que serve para descrever o íntimo (vale dizer: a superfície do íntimo). Não se pode deixar que resquícios dos antigos sentimentos e emoções, ditos pessoais e julgados pela tradição introspectiva como profundos, aflorem nas atitudes do novo comportamento. É preciso ser sentimental sem ser introspectiva. É preciso ser sincera sem ser confessional. O descrédito concedido pela poesia de Ana Cristina aos sentimentos e emoções equivale, pois, à valoração dos infinitos achados engenhosos e agudos no campo da linguagem poética.
Sentimentos e emoções estatelados no vazio. Imagens concretas e poderosas. Palavras lúdicas e de superfície. Eis o primeiro tripé em que se assenta a poesia de Ana Cristina.
O corpo anônimo e ambulante da “loura donzela” chega, trôpego e em falta, à praça da grande poesia brasileira, em movimento em tudo por tudo semelhante ao que ocorre nos primeiros livros de João Cabral de Melo Neto. Eis, como exemplo, um curtíssimo trecho de “Os três mal-amados” (1941), de João Cabral:
“O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço.”
Ali chega a loura donzela e recebe e aceita um “mudo convite”. Há que arrombar a porta. A poesia madura de Ana Cristina só começa depois do noves fora, zero. Isto é, depois de acertadas todas as contas com a domesticidade da infância e da adolescência (e não, é claro, com a infância e a adolescência). Sentimentos e emoções submissos são zerados por única decisão do sujeito lírico para que se imponha a Vida, como está na última frase do romance O retrato do artista quando jovem, do escritor irlandês James Joyce (1882-1941): “Seja bem-vinda, ó Vida!”.
Agora, compete a nós arrombar a porta de mais um poema. “Folha branca / e limpa”, “cama branca / e limpa” e “vida branca / e limpa” estão em estado de pureza, à espera da poeta. Compete-lhe apostar no futuro da sua atividade: manchar folha, cama e vida com tinta, corpo e comportamento. Ali, na folha, na cama e na vida, maculadas para todo o sempre, “a loucura dorme inteira e sem lacunas”, como diz o verso do poeta brasileiro Jorge de Lima (1895-1953), que Ana Cristina toma para si.
Não é de se estranhar que, logo depois do poema que acabamos de comentar, apareça o já personalíssimo poema “Simulacro de uma solidão”. Sob a forma de diário íntimo e feminino, a autobiografia simulada pelo poema – licenciosa e desbocada, por isso mesmo e contraditoriamente, bem pouco feminina – se combina ao simulacro dos sentimentos, das datas e dos demais nomes próprios. A combustão do simulado com o simulacro tem o fim de compor uma grafia-de-vida em que fica difícil comprovar o alicerce sólido da experiência já-vivida em que o poema teria sido montado e deveria repousar.
Autobiografia falsa? Autobiografia verdadeira? As perguntas não têm sentido, já que, como vimos alertando no tocante à poesia de Ana Cristina, sentimentos e emoções são superficiais, estatelados que estão à luz do sol ou ao luar. Ficam estatelados, que nem ovos na frigideira, já que esperam o momento em que serão recobertos por camadas superpostas de palavras, de imagens concretas, que traduzirão novas experiências de vida que, por sua vez, libertarão o corpo das amarras contratuais assumidas e extraviadas pela vida familiar.
Autobiografia inventada? Está esquentando. Ao ler os poemas de Ana Cristina que adotam voluntariamente uma forma literária de tradição confessional (como, por exemplo, o diário íntimo ou a carta), estamos diante das novíssimas atitudes de vida que o bastardo e o filho pródigo irão tomar. A forma literária confessional, na poesia de Ana Cristina, não é introspectiva. É prospectiva. Voltada para o futuro. Paradoxalmente. Os poemas devem levar a comportamentos ousados e descomprometidos com o comportamento anterior, com o statu quo (por statu quo, entenda-se não só a educação familiar recebida, como também a religiosa e a dada pela escola pública). Leiamos trecho do primeiro de uma série de poemas “confessionais” (v. também os poemas agrupados em “Correspondência completa”):
“8 de julho
Nós estamos em plena decadência. Eu e você estamos em plena decadência. A nossa relação está em plena decadência. Quando duas pessoas chegam a se dizer isso tranquilamente, é sinal de terra à vista. Nem tudo é um naufrágio na vida. Mas um dia eu ainda me afogo no álcool.”
Desprovidas, portanto, de qualquer amarra, a não ser daquelas que levam o eu lírico seja para o futuro em aberto (v. o poema “Anônimo”), seja para o beijo imprevisto que surge no descontrole dos gestos (v. o poema “Arpejos”), seja para a loucura da vida contemporânea, as palavras e as imagens saltitam na folha de papel segundo os vários modos da poesia lírica ocidental. Ler, por exemplo, o poema “Primeira lição”, onde as anotações de boa aluna da Faculdade de Letras se transformam, tão logo passadas para a página dum livro de poemas, em envelopes teóricos, sem conteúdo explícito, em simulacros formais, que passam a estar à disposição da poeta para que deles se apodere e os use, segundo a chuva e o bom tempo, segundo os estímulos da bonança ou das trovoadas.
Ficamos perplexos com o tom das “inconfissões”, depositadas em envelopes formais, totalmente verossímeis, mas que transmitem inverdades biográficas ou verdades futurológicas. Leiam mais este poema:
“‘Nestas circunstâncias o beija-flor vem sempre aos milhares’
Este é o quarto. Augusto avisou que vinha. Lavei os sovacos e os pezinhos. Preparei o chá. Caso ele me cheirasse… Ai que enjoo me dá o açúcar do desejo.”
Para nós, que fomos limitados pelos quatro pontos cardeais da escola a acreditar que a literatura que se diz autobiográfica é aquela que se vale de formas (diário íntimo ou carta) que traduzem uma atitude de espontaneidade e de verdade pessoal diante da palavra, torna-se perigoso prosseguir na aventura poética de Ana Cristina. Corre-se o risco de não se acreditar em mais nada, a não ser no poder corrosivo da palavra e da linguagem poética.
A poesia aparentemente confessional de Ana Cristina é, nos seus limites, corrosão e construção, herdeira que é de dois princípios que estão expressos na poesia de Murilo Mendes. Primeiro princípio: a moeda da poesia (isto é, da vida) não está no “cara ou coroa”, mas no “cara e coroa”:
“Cara ou coroa?
Deus ou o demônio
O amor ou o abandono
Atividade ou solidão
Abre-se a mão, coroa
Deus e o demônio
O amor e o abandono
Atividade e solidão.” (“Jogo”)
Segundo princípio: o modo como funciona o motor do mundo é religioso:
“O motor do mundo avança:
Tenso espírito do mundo,
Vai destruir e construir
Até retornar ao princípio.” (“A flecha”)
A poesia aparentemente confessional de Ana Cristina vale como corrosão e vale como construção. Nada está de pé e, caso o leitor acredite na superfície do que lê, tudo ficará em pé. Compartilham-se sentimentos e emoções – não no fundo do rio – mas nas margens acidentadas, arborizadas e floridas dele. O autobiográfico não visa recolher os retalhos e os trapos do passado da vida em família através de análises introspectivas cada vez mais finas. Ele visa às superfícies identitárias do futuro. Ali está o sentido da Vida e o sentido da escrita “autobiográfica” (as aspas se impõem) de Ana Cristina.
Sabemos, não será fácil para o leitor pouco familiarizado com a literatura de Ana Cristina imaginar que o texto autobiográfico seja uma flecha lançada em direção ao futuro (e não uma flecha já usada, que ali está, em tempo de descanso, para ser recolhida pela obra de arte). Caso o leitor não acredite nesse paradoxo da linguagem de aparência confessional estará pouco apto a enfrentar o melhor, o mais arriscado e o mais saudável da poesia de Ana Cristina.
O leitor acostumado com a leitura da poesia modernista brasileira ou da poesia moderna estrangeira poderá também levar outro susto. A linguagem poética de Ana Cristina vive de mais um contra-senso. O vocabulário de que a poeta se vale não é apenas retirado da língua portuguesa falada cotidianamente no Brasil. Ana Cristina elege voluntariamente palavras chulas, obscenas e até mesmo palavrões para compor os seus poemas. Não são – confessemos – as palavras que estamos acostumados a encontrar nisto a que chamamos de poema. No entanto, ali estão a certificar a emancipação discursiva da mulher. Pela escrita desbocada ela se retira da sua condição de submissa às prerrogativas linguísticas que lhe foram delegadas pela sociedade patriarcal e machista.
O vocabulário da língua portuguesa falada no Brasil – vernáculo ou chulo, sublime ou de baixo calão, – é de todos, homens e mulheres. Não há exclusividade no uso de alguns termos por homens e proibição no uso de outros pelas mulheres. Há nos poemas de Ana Cristina um atualíssimo compromisso de realismo, que não se adequa, como vimos à relação entre o real e o representado, adequa-se antes à busca obsessiva de exatidão na expressão poética. Só dessa forma é que mulher e homem podem chegar a dizer o que pretendem dizer, ou devem dizer.