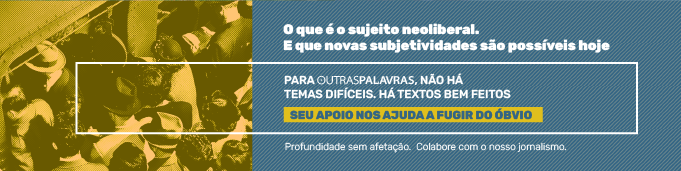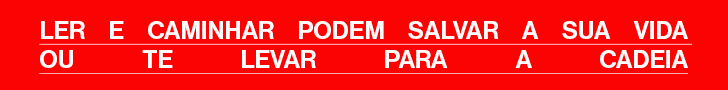Zé Celso: um dos últimos dos tropicalistas
Vida do artista que bebeu na fonte antropofágica e redefiniu a experiência dramática no país. Se, hoje, parte do teatro nacional cede ao individualismo, ele mostrou que uma arte coletiva e efervescente pode descolonizar corpos, mentes e política
Publicado 14/07/2023 às 16:08 - Atualizado 14/07/2023 às 16:25

Por Douglas Rodrigues Barros, na Revista Rosa
A morte de Zé Celso sela uma verdadeira epopeia do teatro brasileiro. Último representante de uma geração a ver na (in)disciplina da experiência artística o lugar de formação radicalmente crítica, sua morte fecha as cortinas do século XX. E foi dele a grande geração que dava as coordenadas de algo no país abortado a partir do golpe militar de 1964 que cassou, prendeu e torturou seus representantes, sem, no entanto, tolher a inventividade criativa de artistas centrais à história da dramaturgia mundial.
Olhando agora pelo insípido retrovisor do presente, a experiência de uma comunidade imaginada dava as caras num nascimento cultural-artístico eivado de esperanças daquilo que poderia ser um outro país ao se debruçar criticamente nas veias abertas de uma modernização orientada pela herança escravocrata. Esse espírito se encarnava no teatro e era um retumbante não à manutenção desse legado colonial. Espírito criativo e crítico do qual Zé Celso foi um dos seus pioneiros nos anos 1950.
O sucesso que se seguiu à peça de estreia de Gianfrancesco Guarnieri, Eles não usam black-tie, encenada em 1958 no Teatro de Arena, dirigida pelo legendário José Renato, abriu espaços para a aclamada recepção posterior de Pequenos burgueses, em 1963, pelo já profissional Teatro Oficina – fundado anos antes por Zé Celso e Renato Borghi. Ambas experiências propiciaram uma escola radicalizada de formação artística tendo impactos para além das fronteiras dessa comunidade naufragada chamada Brasil.
Zé Celso e o Teatro Oficina redefiniriam a experiência dramática, saltando de Stanislavski para a experimentação pedagógica dos exercícios do teatro do oprimido pensados, anos depois, por Augusto Boal. Para se ter noção do alcance da experiência de formação, quando O rei da vela é recuperado do baú em 1967 por Borghi, a experiência da antropofagia de Oswald de Andrade vai se encontrar com a experimentação do Oficina impulsionando a estética tropicalista. Com Roda viva, em 1968, Zé Celso seria considerado inimigo da moral e dos bons costumes, pecha que rapidamente seria não só acatada pelo dramaturgo como subvertida em seus sentidos lógicos.
Esse estreito vínculo, entre uma das melhores experimentações teatrais já vistas e uma realidade marcada pela violência ditatorial, marca a dialética das criações e o alcance universal das encenações e da dramaturgia produzidas à época. Toda essa experiência de formação, do qual os teatros Arena e Oficina são centrais, impregna várias gerações de grandes artistas destacados mundialmente. Não há dúvidas de que foi uma experiência de formação coletiva da qual Zé Celso esteve no centro e seria determinante para nossa contemporaneidade. Me lembro bem que na última encenação de Roda viva que vi, em 2018, acompanhado por uma recém-diretora de teatro, ela me disse: “Aproveite porque sem Zé estaremos órfãos!”. Encerrada a peça, eu chegava à conclusão de que estava redondamente certa.
Zé, que se tornaria um profundo stanislavskiano, abria a experiência de formação para a práxis do ator.
É interessante lembrar que a conexão Arena e Oficina se revelaram numa das mais bem sucedidas parcerias da história do teatro. O encontro entre Amir Haddad, Zé Celso e Boal no início dos anos 1960, as partilhas que fizeram a partir de A incubadeira, foi central para a profissionalização posterior do Oficina. Zé, que se tornaria um profundo stanislavskiano, abria a experiência de formação para a práxis do ator.
Ademais, o nacionalismo do Arena era uma luta contra o modus operandi do teatro brasileiro nos anos 1950 e 1960. Nele se obrigava a montagem de peças estrangeiras em detrimento das nacionais. Relação que se inverteu a partir do sucesso ante montagens dos grandes textos brasileiros e abriu caminhos para que o TBC (Teatro Brasileiro de Comédia), templo da elite paulista, se visse obrigado a abrigar encenações da dramaturgia nacional. O pagador de promessas, de Dias Gomes, com direção de Flávio Rangel, no espaço burguês da família Matarazzo, forçou as alamedas da criação nacional e o TBC se viu invadido até mesmo pelo texto comunista de Guarnieri: A semente.
Essa efervescência, que se lança contra os tempos abstrusos, encontrará na contingência de um tempo histórico, marcado pela esperança e pela fobia, Sartre e Simone. Fugindo ao endurecimento do território francês ante o êxito da revolução argelina, ambos, que vieram com a promessa de passar apenas quinze dias no Brasil, ficam dois meses esperando a poeira baixar. Tempo em que conhecerão no Oficina a peça A engrenagem. Numa adaptação do texto de Sartre, realizada por Zé Celso em parceria e direção de Augusto Boal, em 1960, essa realização foi a prova de fogo no amadurecimento de Zé.
Foi nessa encenação que, um ex-soldado bolchevique, à época um dos melhores atores que o Brasil já tinha visto, Eugenio Kusnet balizava o destino da formação teatral brasileira. Num momento histórico no qual globalização se chamava interdependência, essa peça, adaptada por Zé, foi uma das primeiras censuradas às portas do golpe militar. Um dos motivos à censura foi sua execução ao ar livre. Perturbando a paz pública no Ipiranga, os atores foram rapidamente cercados por policiais com fuzis de verdade contra seus fuzis cenográficos. A encenação buscava criar uma homenagem à Independência do Brasil. Imagine e irá ver nesse quadro um retrato no mínimo intrigante daquilo que antevia os anos de chumbo. Fico me perguntando se Sartre foi capaz de compreender donas de casa aplaudindo atores com fuzis de brincadeira diante de policiais armados até os dentes.
É nessa contradição que uma geração do teatro irá se formar e na qual Zé Celso foi participante expressivo e último representante vivo. É desse solo que se criam expectativas de formação que se colocam radicalmente contrárias ao status quo. Fiel até o último ato de sua vida, a tragédia que prefigura os momentos finais de Zé parece se amalgamar com a intransigente trajetória de sua luta por uma outra forma de vida que sempre nos atravessou, e que foi performada em suas montagens. Hoje, com um teatro cada vez mais individualista, fica difícil não se sentir órfão ante sua morte. Diante de textos e montagens cada vez mais conservadores, fica aquele vazio antes preenchido pela fé no teatro como espaço de formação coletivo e construção de uma vida mais real, mais potente. Cumpre-nos, portanto, não esquecer e nem deixar apagar as chamas da poética crítica que consumiram Zé Celso e toda sua grandiosa geração!
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.