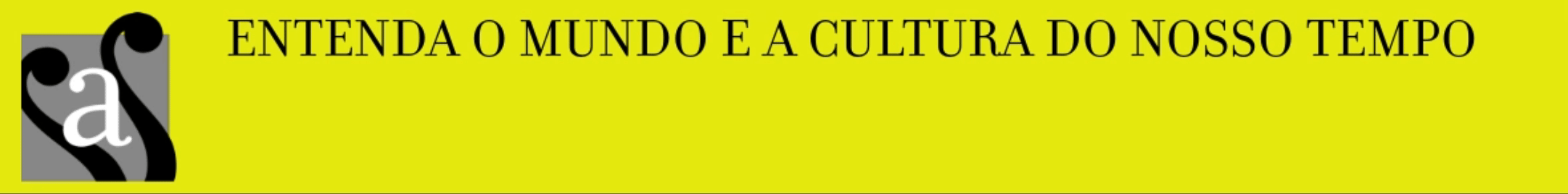“Passei o facão numa criança”
Livro reconta a história de um brutal genocídio, ocorrido há 30 anos. 16 yanomami da comunidade Haximu foram mortos por garimpeiros. Primeiro veio a emboscada. Depois, o massacre: entre as vítimas, estavam quatro crianças e um bebê
Publicado 13/11/2023 às 17:59

Por Alex Solnik, na Piauí
Em 1993, garimpeiros assassinaram em Roraima pelo menos dezesseis yanomamis da comunidade Haximu, num ataque brutal que a Justiça classificou como genocídio. O massacre é um dos dois únicos casos assim qualificados no país – o outro é o massacre da Boca do Capacete, cometido contra o povo Tikuna, no Amazonas, em 1988.
O conflito em Roraima começou depois que garimpeiros que exploravam ilegalmente uma região habitada pelos yanomamis deixaram de cumprir promessas feitas a eles. Em 15 de junho de 1993, os garimpeiros convidaram seis indígenas para caçar e assassinaram quatro deles. Os yanomamis, em retaliação, mataram um dos garimpeiros, que revidaram em 23 de julho: invadiram a comunidade Haximu – que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela – e mataram doze indígenas, entre eles três mulheres, quatro crianças e um bebê.
No livro O massacre de Haximu – ainda inédito –, do qual a piauí publica trechos a seguir, o jornalista Alexander Solnik recria esse episódio trágico da luta dos indígenas por suas terras e seus direitos, ocorrido há trinta anos.
O garimpeiro Pedro Emiliano Garcia, mais conhecido como Pedro Prancheta, recebe no seu barraco uma comitiva de Haximu, comunidade yanomami na fronteira de Roraima com a Venezuela. São seis indígenas. Ele os trata com todas as honras da casa. “Sejam bem-vindos! A casa é vossa! O que vocês mandam?” Parece não guardar nenhum sentimento de vingança por causa do tiro dado por Tuxaua Kerrero em Goiano Doido, seu colega no garimpo. Nada. Zero. Essa era uma coisa que eles garimpeiros sabiam fazer bem quando queriam. Sabiam disfarçar. Sabiam pensar uma coisa, dizer outra e fazer outra ainda. Os yanomamis, não. Era tudo uma coisa só o que pensavam, o que diziam e o que faziam.
Paulo Yanomami tomou a frente, com expressão tensa e preocupada:
– Temos fome. Vocês estão matando os peixes, estão assustando a caça. Não temos mais o que comer. Queremos comida.
– Não matamos peixe, não – disse Prancheta. – Também gostamos de peixe, como vocês.
– Matam, sim. Porque antes de você chegar tinha muito peixe. Agora não tem.
Não dava para adivinhar pela cara de Prancheta o que ele pensava, lá no fundo da cabeça dele. Não levou a discussão adiante, até pediu desculpas por não ter rancho para dar a eles. Porém, para mostrar que era amigo e só queria ajudá-los, pediu para irem até o barracão do Eliézio Monteiro Neri, que ele, sim, com certeza tem comida para eles.
– Vou escrever pra ele que é pra dar comida pra vocês – disse Prancheta.
Pegou a folha de uma caderneta, rabiscou algumas palavras com um lápis preto quase sem ponta, dobrou-a e deu na mão de Paulo Yanomami.
– Antes de qualquer coisa entregue esse bilhete ao Eliézio.
Estava bem cheio o barracão de Eliézio quando Paulo Yanomami chegou. Todas as conversas pararam. Todos olharam para ele. O indígena estendeu a mão e disse:
– Este bilhete é para o Eliézio. Da parte de Pedro Prancheta.
– Ele saiu – disse Waldineia Silva Almeida, também conhecida por Ouriçada. – Pode entregar para mim.
Precisava ver a cara da cozinheira do Eliézio depois de ler o bilhete. Ela ficou tão confusa, mas tão confusa, que não sabia o que fazer com aquele papel. Queria se livrar dele, parecia que tinha espinhos ou que dava lepra. Leu de novo para conferir se era aquilo mesmo que ela tinha lido da primeira vez. E era.
Meio que num gesto assim automático, assim sem pensar, amassou o papel e jogou no fogo que estava cozinhando o feijão. E o bilhete virou cinza, rapidinho. Em seguida, ainda com cara de filme de terror, ela fez uma rodinha com os garimpeiros empregados do seu patrão e contou, quase sussurrando, o que estava escrito no bilhete do Pedro Prancheta para Eliézio:
– O Pedro escreveu o seguinte: “Faça bom proveito desses otários.”
Goiano Doido, Caporal, Carequinha, Goiano Cabeludo e Paraná Aloprado imediatamente olharam os seis yanomamis parados ali na entrada do barracão. Mandaram Paulo Yanomami esperar. Iriam ao barracão de Pedro Prancheta falar com ele e voltariam, já já. Não tinham nenhum problema em cumprir aquela ordem. A questão que os preocupava era como fazer isso.
– Damos cabo deles lá no barraco mesmo? – perguntou Goiano Doido, que já tinha raiva deles por causa do tiro que quase acertou nele.
– Claro que não – reagiu Pedro Prancheta. – Tem que ser bem longe, quanto mais longe melhor.
No caminho de volta ao barracão de Eliézio, os caras começaram a planejar como fariam para obedecer à ordem de Pedro Prancheta. Não podiam deixar de fazê-lo, mesmo se quisessem. Não havia a menor possibilidade de algum deles dizer não, dizer a Pedro Prancheta que foram contratados apenas para garimpar, não para matar alguém. Não tinham escolha.
Quando aceitaram entrar na mata, sabiam que a sua sorte dependia de seus patrões, os donos das balsas. Só o fato de garimpar numa área proibida, sem a documentação necessária fornecida pelas autoridades, já era suficiente para enquadrá-los como pertencentes a uma organização criminosa, e quando se começa a praticar um crime, torna-se necessário praticar outros.
Como em toda e qualquer organização criminosa, ocultavam seus nomes. Não só porque chamar uns aos outros por apelidos é mais fácil de memorizar, mas porque suas identidades e seu passado deveriam ser escondidos. Alguns apelidos não escondiam, mas, ao contrário, revelavam seu mundo interior. Ninguém recebe à toa epítetos como Doido ou Aloprado. Não se comentava sobre suas vidas pregressas, ou ao menos suas verdadeiras vidas pregressas. Cada um deles estava livre para inventar o que quisesse sobre seu passado. Ali naquele fim de mundo era Deus no Céu e os donos de balsa na Terra. Eles faziam as leis, eles julgavam e executavam as penas. Não havia a quem recorrer, mesmo se quisessem. Não podiam prestar queixa à polícia, por óbvio. Mesmo se houvesse.
Paulo Yanomami, Reikim, Makuama, Geraldo, seu irmão, Kaperiano, e o filho de Waythereoma esperaram pacientemente a volta dos “amigos”. Não desconfiavam de nada. E menos desconfiaram ainda quando os garimpeiros os tranquilizaram. O recado de Pedro Prancheta, disseram, era para Eliézio lhes dar mantimentos, mas, como ele não estava, eles mesmos estavam autorizados a fazê-lo.
Tiraram da despensa um punhado de arroz e outro de farinha. “É para vocês.” Podia parecer muito pouco, mas era tudo o que eles queriam naquela hora. Pegaram os presentes, se despediram, muito satisfeitos, e iniciaram a longa viagem de volta à comunidade Haximu.
A fome bateu e eles resolveram parar. Não podiam dispor do arroz, que precisava ser cozido, mas a farinha estava pronta para ir ao estômago. Sentaram-se à sombra e serviram-se do que lhes parecia um lauto banquete. Foi então que eles foram surpreendidos pela chegada de alguns dos garimpeiros com quem estiveram no barracão do Eliézio – Goiano Doido, Paraná Aloprado, Caporal, Goiano Cabeludo e Carequinha – e mais dois que não estavam lá: Uriçado Branco e Luiz Rocha. Sete no total.
O encontro foi cordial. Paulo Yanomami chegou a convidá-los a comer também, caso tivessem fome. O que tinham dava para todos. Mas eles recusaram, não tinham fome, não, ao menos não de farinha, mas uma caça cairia bem. E então fizeram o convite: “Vamos caçar anta?”
Ah, não, isso não estava nos planos dos indígenas. Não costumavam caçar ao lado de brancos, nem estavam preparados, não tinham armas, a não ser Paulo Yanomami, que trazia uma espingarda. Além disso, fim de tarde não é hora de caçar anta.
– A floresta fala pelas vozes dos animais – disse Paulo Yanomami, tentando rechaçar o convite. – E tudo na hora certa. O arrulho do papa-formiga-barrado conta que tem anta por perto, já o canto enrolado do surucuá-de-cauda-preta anuncia um bando de caititus. Se tem macacos-aranhas por perto ouvimos os sons estridentes das maitacas-de-cabeça-azul. O trinado do arapaçu-pardo diz que vem aí um veado-matreiro. O canto do uirapuru-de-asa-branca é sinal de tatu-galinha nas redondezas.
– Sabe como nós caça anta? É diferente de vocês – provocou Paulo Yanomami. – A gente vê um rastro de anta bem recente. Então ela está por perto. Então a gente fala com ela (ele assobia em dois tons agudos) para atrair ela e ela responde: “Êêêêííí.” Depois ela sai da vegetação. A gente fica parado e chama de novo. Ela responde de novo: “Êêêêííí!” E se aproxima: téki, téki, téki. Então a gente fala com ela bem pertinho, mas escondido, senão ela foge. Se ela ficar desconfiada e quiser recuar, a gente tenta de novo. Então ela volta e corre para nós pensando que é o chamado de seu filhote¹.
Mas como recusar um convite da parte de quem lhes tinha feito a gentileza de matar a fome? Seria uma desfeita. Além do que, voltar à maloca com uma caça nas costas seria motivo de festa. Não é a hora ideal de anta, mas pode aparecer um macaco. E ainda por cima os garimpeiros se prontificaram a emprestar suas espingardas.
Terminada a refeição, saíram os treze, mata adentro, em fila indiana. Reikim ia à frente. Atrás dele, Caporal, depois Geraldo, seguido de Paraná Aloprado, e assim por diante, sempre um garimpeiro atrás de um yanomami, terminando por Paulo Yanomami, seguido por Goiano Doido e Carequinha.
A certa altura, Paulo Yanomami avisou que precisava fazer cocô, por isso se afastaria do grupo. Mas os outros podiam seguir, ele depois os alcançaria. Entregou a espingarda a Geraldo e deu as costas, andou alguns passos, mas logo parou ao ouvir gritos e ruídos de luta.
Voltou-se e viu um garimpeiro pegar no braço com o qual Geraldo segurava a espingarda, imobilizando-o, e em seguida disparar, de sua própria arma com dois canos serrados, um tiro entre o tórax e o abdômen, do lado direito de Geraldo. Outro garimpeiro meteu bala nas costas de Geraldo e um terceiro disparo, feito pela espingarda de cano serrado, derrubou Geraldo no chão.
Assustado, desarmado e indefeso, Paulo Yanomami saiu correndo até entrar num rio, enquanto outros tiros ecoavam na floresta. Somente ele e Reikim saíram vivos da emboscada dos garimpeiros.
Na volta ao barraco, Carequinha contou a Silvinha, cozinheira de João Neto, que um indígena se abaixou, colocou as mãos no rosto e lhe implorou para não ser morto, mas ele deu um tiro “bem no meio do rosto dele”, à queima-roupa.
Caporal foi pedir ajuda para enterrar os cadáveres. Voltou ao local da emboscada, acompanhado por outros garimpeiros e pelas cozinheiras de João Neto – Silvinha e Eva – e Maria Dalva, cozinheira de Chico Ceará. Enterrados os mortos em covas bem fundas, eles imaginaram que tinham se livrado do problema, seria impossível encontrar os corpos, e sem corpos não há crime.
Esqueceram-se ou não sabiam que os yanomamis jamais abandonam os seus mortos. Orientados por Reikim, Paulo Yanomami e outros membros de Haximu, desenterraram três corpos – o de Kaperiano não encontraram – e realizaram, ali mesmo, a primeira parte das cerimônias fúnebres.
Não fossem as circunstâncias adversas, teriam feito como fazem há gerações, deixariam os corpos expostos sobre um jirau de madeira até a sua decomposição e então fariam a cremação, mas dados a urgência e o temor de que os agressores pudessem voltar, fizeram três fogueiras e em cada uma cremaram um corpo.
Os ossos de Geraldo, de Makuama e do filho de Waythereoma foram cuidadosamente colocados em cestos e transportados à aldeia de Haximu, onde ainda seriam reverenciados. A nova cerimônia ocorreu entre quinze e vinte luas depois das mortes. Foram convidados membros das duas malocas de Haximu, além de representantes das aldeias de Homoxi, Makayutheri e Toumahitheri. Os ossos dos três mortos foram pilados e colocados em três cabaças e entregues a três pessoas. As cinzas de Geraldo couberam a Sansão, as de Makuama a Davi e as do filho de Waythereoma a ela mesma.
Depois da cerimônia, os homens das três aldeias reuniram-se para ouvir os conselhos do xamã. Ele sentou-se no centro da roda. Assim ficou, de cócoras, até outro yanomami chegar com um canudo comprido, de quase um metro. Uma das pontas do canudo, preenchido com grãos minúsculos de um pó branco, ficou na boca do que chegou, e a outra, no nariz do xamã. Ele soprou o pó que penetrou na narina do xamã. Em poucos instantes, o xamã entrou em “estado de fantasma”².
O xamã ingere pó yakoana – que produz efeito semelhante ao do LSD – para chamar à Terra os espíritos xapiri pe. Invisíveis aos olhos do homem comum, estão escondidos nas alturas e só descem quando os xamãs os chamam, para ajudar a combater os males que atingem os yanomamis. O xamã recomendou aos guerreiros organizar uma expedição de retaliação contra os seus agressores.
O fato de serem mais baixos (em média, têm 1,50 m), de não usarem roupas e de terem armas muito menos letais jamais acovardou os yanomamis. Logo na manhã seguinte, a expedição partiu, formada por Davi, Uelesi, Aburão, Kerrero e Paulo Yanomami, da aldeia Haximu; Macuxi, Abiana (I), Abiana (II), Sabão, Ruruá, Manoel, Barai e o marido de Manihikethereyoma, da aldeia Homoxi; Chico e Raimundo da aldeia Makayutheri e Rihori e Kasikekeita, da aldeia Toumahitheri.
Caminharam por dois dias, com pequenas pausas para comer, e por duas noites descansaram até avistarem o barracão de Pedro Prancheta, na terceira manhã. Lá estavam seis conhecidos seus, a uma distância considerável, e fora de seu ângulo de visão. Casagrande (Dejacy Oliveira de Souza), Boroca e Fagúio morgavam, deitados em redes. Fininho estava sentado à mesa, esperando a hora da boia. Ao ar livre, na cozinha improvisada, Neguinho abanava o fogo, sobre o qual borbulhava o feijão na panela, quando ouviu um tiro de espingarda e viu Fininho cair em cima da mesa.
Outros tiros foram desferidos enquanto Casagrande, Boroca e Fagúio tentavam fugir, mas apenas um pegou, de raspão, no ombro de Neguinho. Transportado numa rede até a pista de pouso Raimundo Nenem Velha e embarcado num avião fretado por João Neto, foi socorrido no hospital a tempo de se salvar.
Os guerreiros não festejaram o sucesso da incursão. Sabiam que viria o troco. Trataram de se refugiar na mata por alguns dias antes de voltar às aldeias. Depois desse período as duas malocas de Haximu foram desativadas e seus moradores foram morar em malocas provisórias e improvisadas, os tapiris, a muitos quilômetros das antigas moradias. E mais distantes ainda dos barracões de Pedro Prancheta, João Neto e Eliézio. Seria quase impossível serem encontrados, de tão dentro da mata que se meteram. Sentiam-se seguros. E a sensação de segurança aumentava à medida que os dias passavam sem nenhum sinal de revide dos garimpeiros.
Enganavam-se os yanomamis ao supor que seus inimigos desistiriam de se vingar, dada a impossibilidade de localizá-los. Ao contrário, os cinco donos de balsas – João Neto, Chico Ceará, Eliézio, Cururupu e Pedro Prancheta – não falavam de outra coisa no café da manhã, no almoço e no jantar. E sonhavam com isso enquanto dormiam.
Na primeira reunião, no barraco de João Neto, discutiram a melhor forma de se vingar. “Eles são muitos, podem matar todos nós.” “Temos que atacar com muitos, muitas armas e muita munição.” “Melhor atacar em campo aberto, na casa deles é mais difícil. Moram oitenta pessoas, todos juntos naquela casa que tem uma praça no meio. A casa tem quarenta metros de diâmetro.” “Ô, doido!”
Decidiram, para começo de conversa, profissionalizar o contra-ataque. João Neto e seu cunhado, Chico Ceará, viajaram a Boa Vista, onde contrataram quatro pistoleiros que já tinham trabalhado no garimpo: Pedão, Parazinho, Boiadeiro e Carequinha. Todos barra-pesada.
Parazinho era capaz de matar em troca de uma dose de cachaça. Dono de cantina, Dicão funcionava meio que como um banco informal: guardava ouro para os garimpeiros. Quando juntavam uma quantidade razoável e faziam menção de cair fora do garimpo, ele contratava Parazinho para apagá-los, a fim de ficar com o ouro. E dava ao pistoleiro uma mixaria. Ele matava por prazer. Só nessas empreitadas, Parazinho mandou quatro para o além. Também matou dois a serviço de Major, um militar da reserva que trabalhava para Dicão.
No currículo de Boiadeiro constavam cinco homicídios. Matou três caras por dinheiro e dois “só para ver a queda” das vítimas. Conhecido no Maranhão e no Centro-Oeste, Pedrão matou muita gente a serviço de um cara rico e valentão do Mato Grosso, conhecido por Ditão. E o que dizer, então, de Carequinha? Ouçam essa.
Certo dia foi tomar umas e outras com seu colega Goianinho na cantina do Dicão. Ninguém aguenta aquele dia a dia sob o sol escaldante, com mosquitos, barro, perigo constante, sem algum aditivo, seja cachaça, seja cocaína, que eles apelidaram de “noia” e compravam na mão da cozinheira de Eliézio, a Ouriçada, em troca de alguns gramas de ouro. O salário dela também vinha em ouro: 1 grama e meio por dia.
Pois bem. Esvaziaram uma garrafa. Duas. Chega uma hora em que a boca seca, a língua enrola, a cabeça gira e as palavras antes faladas passam a ser gritadas. E dos gritos, ninguém sabe por qual motivo, nasceu a discórdia. Você é isso, você é aquilo, palavrão daqui, palavrão de lá, eu te mato, não, eu antes mato você, e de repente os punhos estão cerrados, os dedos em riste na cara do outro e eles quase se engalfinham no chão da cantina. Só não se esmurraram porque Dicão os separou, como juiz de luta de boxe. E os convenceu a voltar aos barracos: “Vão dormir, seus vagabundos!”
Às quatro da madrugada, Carequinha despertou da bebedeira. Andou a passos trôpegos os 40 metros até o barraco onde dormia Goianinho. Pisando na ponta dos pés para não acordá-lo, aproximou-se dele. Sem dizer palavra, encostou o cano da espingarda 20 no rosto do cara e estourou seus miolos.
Dividindo as despesas com Pedro Prancheta, Eliézio e Cururupu, João Neto e Chico Ceará compraram munições para eles e para os garimpeiros que integrariam a milícia particular. Nada era mais importante que exterminar aqueles que estavam atrapalhando seus negócios.
Depois de pernoitar no barracão de Cururupu, a tropa colocou o pé na mata, formada por Pedro Prancheta, com uma espingarda 20 e um revólver 38; Goiano Doido, com uma espingarda de dois canos e um revólver 38; Pedão, com uma espingarda 12 serrada; Neguinho, com uma espingarda 20 e um revólver 38; Parazinho, com uma espingarda 20, um revólver 38 e dois facões; Ceará Perdido, com uma espingarda 20 e um facão; Goiano Boiadeiro, com uma espingarda 20 e uma faca; Japão, com uma espingarda 12 longa e um revólver 38; Boroca, com duas espingardas 20 e um revólver 38; Maranhão “Uriçado”, com uma espingarda 20; Adriano, com um revólver 38; Paraná Aloprado, com uma espingarda 20; Barbacena, com uma espingarda 20 e um revólver 38; Goiano Barbudo, com uma espingarda 20 e Silva, com uma espingarda 20.
O tamanho da tropa e o armamento indicavam que eles esperavam enfrentar muitos guerreiros yanomamis e estavam dispostos a dar cabo de todos que estivessem na maloca, número estimado em mais ou menos oitenta, dentre homens, mulheres, velhos e crianças.
Foram dois dias exaustivos, carregando armas pesadas, além de suas mochilas, até alcançarem a primeira maloca Haximu, quando a noite descia. Ficaram surpresos ao encontrar a maloca vazia. Pernoitaram lá mesmo e quando o sol os acordou foram em direção à segunda maloca. Também estava desocupada. Andaram por mais de três horas até avistar umas barraquinhas na mata e ali estavam os indígenas, e havia algumas crianças brincando. Então se colocaram em posição de tiro, todos de um lado, e começaram a disparar.
O primeiro a atirar foi Goiano Boiadeiro. Daí em diante, o silêncio da mata deu lugar a ruídos de disparos, gritos de dor, choro, corpos caindo, pedidos de socorro, gritos de guerra dos pistoleiros. Elísia, o irmão de Uxuama, um dos mais velhos, foi varado por duas balas, uma no estômago, outra no coração. Caiu na poça de sangue. A irmã mais velha de Waythereoma, idosa e cega, saiu correndo sem direção e sem entender o que estava acontecendo, mas foi alcançada pelo tiro de uma espingarda nas pernas, caiu e bateu a cabeça no chão.
Percebendo que não havia ninguém para atacá-los, os pistoleiros avançaram na direção dos tapiris. Passaram a atirar de perto. A jovem Masena levou um tiro no peito, caiu, e, já no chão, foi alvejada nas costas. Depois de morta, ela teve sua cabeça dividida ao meio com um facão. Uma menina de 7 anos, apavorada, chorando muito, tentou proteger-se com as mãos, mas o pistoleiro deu-lhe um tiro no rosto.
Quando a munição acabou, os facões entraram em ação. Não havia limite para a barbárie. Sobretudo as crianças, já mortas, receberam cortes nos braços e nas pernas. Uma criança de 1 ano de idade estava dormindo na rede. Em meio ao acesso de fúria, Goiano Doido enrolou-a na rede e a esfaqueou.
A fuzilaria durou alguns minutos. A maioria das balas perdeu-se no espaço, mas as que acertaram não pouparam quase ninguém.
Simão Yanomami ainda estava deitado, supostamente entre 10 e 11 horas, quando levou um tiro do lado direito do corpo, pegando vários caroços de chumbo na costela, no pescoço e três na face, perto da orelha direita, bem próximos uns dos outros, mas conseguiu levantar da rede e se refugiar, razão pela qual não viu mais nada, mas ouviu os gritos lancinantes de mulheres e crianças.
Muita gente estava fora, os homens e algumas mulheres tinham ido a uma festa na aldeia do Simão (e convites para festas não podem ser recusados), e outro grupo, liderado pelo Tuxuaua Araroma, tinha saído para apanhar ingá.
Paulo Yanomami não foi à festa nem à coleta de ingá. Tal como Simão Yanomami, acordou com o barulho dos disparos enquanto ainda descansava na rede de casca. Levantou-se, assustado, a tempo de ver uma espingarda apontada em sua direção. O tiro não o acertou e, enquanto o pistoleiro trocava o cartucho, ele correu para dentro da mata, de onde ouviu muitos tiros. Os invasores entraram nos tapiris. Descarregaram a munição em tudo que viam pela frente. Barbarizaram mulheres e crianças já assassinadas.
Depois de ir atrás daqueles que foram coletar ingás para avisar sobre o que tinha acontecido, Paulo Yanomami voltou aos tapiris, arrasados pelos garimpeiros. Encontrou muitos mortos com marcas de tiros e cortes de terçado na maioria deles, inclusive mulheres e crianças. Sua filha de 3 anos estava entre os mortos.
Waythereoma Hwanxima, que estava na festa na maloca do Simão, contou que ao tomar ciência do ataque aos tapiris, com muitos mortos, ela e outros da aldeia haximu abandonaram a festa e chegaram nas proximidades dos tapiris somente ao anoitecer. Consta assim no inquérito:
Não foram ao local dormir, em vista que não queriam ficar olhando seus parentes mortos. No dia seguinte foram todos ao local onde os corpos foram todos identificados e cremados em diversas fogueiras. Nos corpos das vítimas havia perfurações de chumbo, balas de revólver, golpes de terçado e quase todos eles estavam cortados por quase todo o corpo.
Ao ser interrogado, Pedro Prancheta descreveu a chacina:
Eles saíram por volta das 7:00 hs e só retornaram após três dias e o reinquirido conversou pessoalmente com Japão e este por sua vez lhe contou que saíram em direção às malocas, que eram em número de duas, uma próxima da outra e lá chegando não tinha nenhum índio, tendo então eles dormido ali e no dia seguinte pela manhã saíram no rastro dos índios e após três horas de caminhada encontraram umas barraquinhas no meio da mata e ali estavam os índios, onde havia algumas crianças brincando, ocasião em que os garimpeiros ficaram todos de um lado e atiraram por alguns minutos matando todos que ali se encontravam, tendo também sabido, através de Japão, que Goiano Doido meteu a faca numa criancinha e ele só ouviu ela gritar e logo após saíram todos com medo dos outros índios em direção às malocas e na ocasião atearam fogo nas mesmas, antes porém deram vários tiros em panelas e em tudo que viam pela frente e em seguida retornaram aos seus barracos.
Goiano Doido voltou ao barraco agitado. Foi logo procurar Ouriçada. Ela já sabia o que ele queria.
– Não tenho nada pra você. Só quando pagar o que deve.
– Só um pouquinho.
– Já me deve 14 gramas de ouro.
– Passei o facão numa criança. Sem noia não vou aguentar.
[¹] Este trecho é uma citação de O espírito da floresta, livro de Bruce Albert e Davi Kopenawa
[²] Este trecho é uma citação de O espírito da floresta, livro de Bruce Albert e Davi Kopenawa.
Alex Solnik é jornalista. Trabalhou no Jornal da Tarde, na Istoé Senhor e na revista Manchete, entre outras publicações. É autor dos livros O cofre do Adhemar (Sextante), A última batalha de Napoleão (Kotter Editorial) e A guerra do apagão (Sesc-SP)
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras