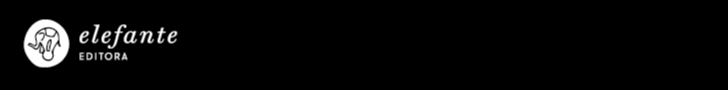Os smartphones estariam sequestrando a infância?
Livro aponta: a hiperconectividade está criando a “geração ansiosa”. Ambiente digital tóxico e viciante distorce a experiência de vida dos menores e estimula distúrbios mentais. Escolas “livres de telas” e regulação das Big Techs são cruciais
Publicado 11/04/2024 às 16:55

Por Tania Menai, na Piauí
Um adolescente americano de hoje é menos propenso a fraturar os ossos que alguém de sua idade quinze anos atrás. Até seus pais e avôs, ou qualquer pessoa acima dos 50 anos, correm mais risco de se quebrar do que meninos e meninas entre 10 e 19 anos.
Até o ano 2000, os garotos lideravam as internações anuais por acidentes, com mais de 15 mil casos a cada 100 mil habitantes, seguidos das meninas, com pouco mais de 10 mil. Em 2018, as internações em cada um dos grupos caiu pela metade. Os dados são dos Centers of Disease Control and Prevention, órgão oficial do governo norte-americano, que observa a taxa de hospitalização nos Estados Unidos por lesões acidentais, como braços, dedos e punhos quebrados.
“Embora possa parecer bom não ter fraturas, esse cenário também significa que não há experiência de vida”, disse à piauí o psicólogo social Jonathan Haidt, autor do recém-lançado livro The Anxious Generation – How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness (A geração ansiosa: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais), um volume de 385 páginas a ser lançado no Brasil em novembro pela Companhia das Letras. No índice remissivo, a obra inclui palavras que deveriam passar longe do universo infantil, como “ansiedade”, “automutilação”, “depressão” (mencionada em vinte páginas), “hikikomori” (isolamento social grave, identificado em muitos jovens japoneses), “pornografia” e… “Zuckerberg”.
“Até uma década atrás, adolescentes eram de longe os mais propensos a quebrar um osso por imprudência. Eles andavam de bicicleta, saltavam em rampas, subiam em árvores. Isso aconteceu até a primeira geração passar a puberdade com smartphones em mãos – o primeiro iPhone foi lançado em 2007 e a mídia social ganhou força em 2012. Foi então que o índice de adolescentes feridos psicologicamente escalou incessantemente, e o número de ossos quebrados despencou”, revela Haidt.
Professor de Liderança Ética na Stern School of Business, na New York University, Haidt compilou estudos, debates e sugestões, tornando-se mais uma voz que engrossa o crescente movimento contra smartphones nas mãos de crianças e adolescentes no país. Ele ainda lançou o site Free The Anxious Generation (Liberte a geração ansiosa). O lançamento do livro, na última semana de março, dominou a mídia americana. O autor Simon Sinek, um entre dezenas de entrevistadores que convocaram Haidt nos últimos dias, fez em seu podcast uma pergunta com resposta embutida: “O que aconteceu com os pais que levavam lápis-de-cera, papéis e livrinhos para os restaurantes em vez de colocar crianças na frente de telas de celulares para almoçaram em paz?”
Haidt, que por três anos agregou estudos e debates, alerta que a Geração Z, nascida entre 1995 e 2010, é a primeira a ingressar na puberdade com um “portal em seus bolsos”, longe de interação presencial e sugada por um mundo virtual viciante e instável.
Consequentemente, esta é a geração mais avessa a correr qualquer tipo de riscos, e entrará para a história como a que carrega mais problemas de saúde mental, sedentarismo e falta de habilidades sociais. “Essas crianças raramente vão para a casa dos amigos, apenas ficam sozinhas em casa no telefone.” E essa falta de convivência é uma das principais fontes de depressão: as taxas de depressão e suicídio entre meninos e meninas basicamente duplicaram. Entre os anos 2010 e 2019, o aumento de meninos americanos entre 10 e 19 anos que tiraram suas próprias vidas foi de 35%. No caso de meninas da mesma faixa etária, o salto ficou em 59%, na tabulação de dados feita pelo autor.
A disparidade entre meninos e meninas, como mostra o resultado de estudos cruzados feitos pela psicóloga e autora Jean Twenge, tem uma relação com o fato de elas se isolarem no quarto sozinhas, mergulhadas nas mídias sociais, comparando seus corpos e cabelos às imagens online. Os meninos isolam-se em casa, em vez de brincarem ao ar livre, mas pelo menos se juntam mais frequentemente em grupos em torno dos videogames.
Na semana do lançamento, esses dados alarmantes sobre a saúde mental dos menores de idade estavam estampados numa caixa de leite de aproximadamente 3 metros de altura. Era uma instalação criada pelo artista Dave Cicirelli, que ficou fixa nos dias 25 e 26 de março numa esquina da Union Square, em Nova York, antes de seguir para a capital Washington. Uma das laterais da caixa imitava o design de informação nutricional, mostrando as porcentagens mencionadas acima, além do aumento de depressão entre meninos de 12 a 17 anos (96%) e meninas (97%), e tempo passado com amigos na faixa dos 15 a 24 anos: para meninos, uma queda de 48%, e meninas, 52%, também entre 2010 e 2019.
Na parte frontal da caixa, estava a foto da capa do livro, em preto e branco, onde uma menina está fissurada em seu telefone. Destacava em letras maiores: Missing Childhood (infância desaparecida). Em um texto menor, estampava os dizeres: “Vista pela última vez com um portal no bolso que a atraiu para longe das interações pessoais e para um mundo virtual emocionante, viciante e instável. A infância em si foi sequestrada. Mas podemos salvá-la.”
A arte é uma alusão às caixas de leite dos anos 1980 nos Estados Unidos, que serviam de veículo para divulgar as crianças desaparecidas em suas comunidades. Na instalação, quem desapareceu foi a infância. Haidt passou algumas horas no local da instalação interagindo com o público, que veio de diversos cantos para falar com ele. Na primeira semana de lançamento, o livro já liderava as vendas na Amazon.
“Entrei nesse debate para fazer com que a Geração Alfa, nascida a partir de 2011, não passe pela puberdade com um smartphone em mãos. Se isso acontecer, acredito que a saúde mental dessa nova geração será muito melhor do que a da Geração Z”, diz ele. “Nos Estados Unidos, as crianças ganham smartphones na quinta série, aos 10 e 11 anos. E esses aparelhos passam a ser o centro de suas vidas, empurrando o restante para escanteio. Não há qualquer segurança ao colocar um celular na mão delas, além de ser impossível garantir qualquer bem-estar digital”, diz. Ele é a favor de que as crianças acessem a internet por computadores, mas não que estejam conectadas o tempo inteiro a um dispositivo pessoal.
Haidt, que nasceu em 1963, reforça que a mudança de hábitos deve começar a partir de quatro regras, a serem implementadas conjuntamente pela sociedade: a primeira é não colocar um smartphone na mão de ninguém até o início do High School, que nos Estados Unidos equivale à nona série, ou 14 anos completos. “Os anos entre a sexta e oitava séries são uma época muito difícil da vida das crianças. Temos que tirar esses aparelhos inteiramente dessa faixa etária”, diz o autor. Nos Estados Unidos, crianças começam a ir para a escola sozinhas por volta dos 11 anos, então um telefone básico se faz necessário para se comunicarem com os pais no caminho. Haidt, inclusive, é a favor da volta ao flip-phone tradicional (só ligação e SMS) para crianças com menos de 14 anos, além de apoiar o uso de telefones feitos especialmente para elas, como as marcas Gabb, Pinwheel e Bark, inexistentes no Brasil, que são despidas de internet, jogos ou aplicativos nocivos. São aparelhos mais elementares, com câmeras, SMS, e opções como Duolingo. Vale notar que o WhatsApp é pouco usado entre americanos no dia a dia e não é uma ferramenta comercial (usa-se mais para se comunicar com quem vive no exterior). Por isso, não faz falta nos telefones sem internet.
A segunda regra proposta por Haidt é proibir acesso às redes sociais até os 16 anos, idade também indicada por Vivek Murthy, cirurgião-geral do governo americano, num estudo divulgado em 2023, como a piauí mencionou nesta reportagem em setembro passado. Haidt celebrou ainda a decisão do governo da Flórida, que em março passado vetou a mídia social para menores de 14 anos, um passo para alcançar a idade ideal de 16.
A terceira sugestão é abolir celulares das escolas, uma vitória vencida pelo secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, que implementou a prática na rede pública. Professor universitário, Haidt sabe que as notificações são um imenso fator de distração e observa que os jovens navegam até em sites de pornografia em sala de aula. Haidt também apoia as pochetes Yondr, usadas em escolas para trancar os telefones durantes as aulas. A escola judaica Alef Peretz, de São Paulo, foi a pioneira no Brasil a adotar o produto depois de a pochete ser também assunto da reportagem de setembro da piauí. Curiosamente, Haidt cita que nos Estados Unidos são justamente as escolas judaicas que têm mais sucesso na empreitada, porque as crianças já estão acostumadas a ficarem desconectadas durante o Shabat, o sábado de descanso.
Quarta regra: acabar com a onda de superproteção parental que tomou conta das últimas gerações. Haidt, que tem dois filhos adolescentes, enfatiza a importância de promover mais independência para as crianças, mais brincadeiras ao ar livre e responsabilidades no mundo real, incluindo tarefas domésticas. “Não devemos proteger nossos filhos de se estressar, porque o estresse faz parte da vida. Com uma ressalva: é fundamental estar atento ao estresse duradouro, a longo prazo. Ninguém deve ficar ansioso ou preocupado por dias. Isso é muito ruim.”
Haidt diz que essas quatro mudanças, de custo quase zero, não são difíceis de implementar se feitas coletivamente. “Quando os pais e as mães se comprometem em conjunto, eles livram seus filhos da tirania do smartphone e da mídia social. E ainda dão a eles uma infância divertida com amigos que brincam pessoalmente. Os pais têm um grande papel conjunto em promover a brincadeira e a independência, além da função crucial de adiar o ingresso de seus filhos no mundo virtual.”
O objetivo inicial do autor era escrever um livro chamado Life After Battle, que trata do impacto das mídias sociais na democracia. O ano era 2021 e, ao escrever o primeiro capítulo, sobre a influência das mídias sociais nos adolescentes, e fazer os gráficos em conjunto com o pesquisador Zach Rauch, notou que esse tema merecia uma obra específica. O projeto de um livro virou dois, e a nova ideia passou na frente na lista de prioridades. “[O vício em telas] é uma das maiores epidemias do nosso tempo. Eu não podia passar para o segundo capítulo do livro original e deixar esses dados para trás. Resolvi investigar a causa do problema, e ver que podemos fazer para resolvê-lo”, diz ele.
No Brasil, onde o problema é semelhante, o combate à superexposição dos menores às telas está alguns passos atrás: não existem telefones celulares especializados para crianças e adolescentes, que ajudam a adiar o acesso às mídias sociais. Nos Estados Unidos, há ainda dezenas de movimentos de pais americanos engajados, que pregam, baseados em ciência e informação, adiar o ingresso de crianças às redes sociais e reduzir ao máximo a exposição às telas – entre eles, o Wait Until 8th , Delay is the Way , Defend Young Minds, 1000 Hours Outside e Protect Young Eyes. Esses pais, juntos, têm um grande poder de persuasão para atrair mais famílias nessa luta para adiar a compra do smartphone para os filhos.
“O contato com a tecnologias faz parte da vida. Mas adolescentes precisam de muito mais”, diz o hebiatra (médico especializado em adolescentes) gaúcho Felipe Fortes. “Eles precisam conviver presencialmente com seus amigos, praticar esportes, assistir a uma peça de teatro, fazer as refeições com a família, brincar com um bicho de estimação, desenhar, escrever, namorar, estar na natureza, escutar uma música ou até não fazer nada”, alerta o médico, que atende em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, além de falar sobre o assunto para 46 mil seguidores no Instagram.
“Os pais e cuidadores têm um papel fundamental na construção desses hábitos. Devemos encarar o assunto “conectividade” de nossos adolescentes como o novo grande tema da parentalidade contemporânea, da mesma forma como nos preocupamos que eles mastiguem de boca fechada ou que olhem para os dois lados ao atravessar a rua”, alerta Fortes.
Ele reforça a necessidade constante de monitorar o conteúdo que os filhos acessam online, limitando o tempo de tela (qualquer tipo, somadas) a duas ou três horas por dia. “Durante as minhas consultas, alguns jovens entram em crise aguda de ansiedade. Choram e dizem que não conseguem imaginar como seria a vida com apenas ‘duas horas de telas’ diárias”, revela Fortes. No livro, Haidt compara esses tipos de reações à abstinência de usuários de drogas pesadas como cocaína e heroína que, assim como o vício em smartphone, estimulam a dopamina no cérebro, dando uma sensação de prazer, mas não de satisfação: elas fazem o usuário pedir mais.
A atenção deve seguir na maioridade. Fortes ensina que entre a adolescência e os 25 anos de idade há um intenso desenvolvimento do tecido cerebral. Nessa fase, habilidades cruciais estão sendo desenvolvidas, como capacidade motora, raciocínio, sensibilidade artística, competências sociais, afetividade, resiliência, saúde emocional e comunicação. Por isso, o cérebro é mais plástico, moldável, adaptável. Para que essa evolução aconteça, precisamos oferecer múltiplos estímulos sensoriais ao adolescente e seu tecido neuronal. E quanto mais diversificado esse estímulo, maior o desenvolvimento cerebral e de habilidades. “No entanto, a atual geração está fechada em apenas um desses estímulos: as telas.”
O cérebro lê todo o conteúdo digital – seja um vídeo, uma foto no Instagram ou um movimento no videogame – como um único tipo de estímulo. A riqueza sensorial (textura, cheiro, tato, atividades físicas) é fundamental para a neuroplasticidade. “O resultado inevitável é a falta de desenvolvimento em habilidades fundamentais para a nossa existência”, alerta. Fortes explica ainda que o tecido nervoso, que recebe e transmite sinais elétricos, é segmentado em áreas específicas para cada habilidade. Ou seja, em lugares pouco estimulados surgem “apagamentos neuronais”. Isso significa que alguns circuitos são “desligados”. “Por isso, nossos adolescentes estão com menos “aptidões”, o que pode ser irreversível e devastador para um indivíduo em franco desenvolvimento socioemocional”, lamenta o médico.
“No entanto, o papel do limite não cabe apenas aos pais. Muitas vezes, escolas já extrapolam o tempo de telas conectando os alunos ou pedindo deveres de casa em plataformas digitais. Defendo um ambiente escolar 100% livre de telas”, diz o médico, que também apoia a exigência de regulamentação das redes e elaboração de algoritmos pelas big techs que protejam crianças e adolescentes. “O tempo excessivo de telas prejudica o sono, que atrapalha a rotina alimentar, que prejudica o crescimento físico e mental saudável, e piora as relações interfamiliares, já delicadas na adolescência. Precisamos arrumar essa cadeia de acontecimentos, antes que seja tarde,” diz ele.
Para muitos Gen Z, os efeitos já são sentidos. Haidt argumenta que essa é a geração mais tímida, que menos arrisca, menos namora e faz menos sexo. Essas características já são aparentes no mercado de trabalho: gerentes que empregam esses jovens dizem que essa é uma turma difícil de administrar, e de empregar: a mão de obra tornou-se mais escassa. Até no Vale do Silício, onde grandes empreendedores até pouco tempo atrás despontavam já na faixa dos 20 anos, a Geração Z anda devagar. Desde 1970, esta é a primeira vez que nenhum deles figura entre os fundadores mais promissores da indústria.
Haidt, que dedica o livro a professores e diretores de quatro excelentes escolas públicas de Nova York, por onde seus dois adolescentes passaram, esmiuçou a vida infantil em diversos aspectos, sugerindo inclusive que tirar o recreio como castigo de uma criança arteira é o pior que se pode fazer, porque talvez tempo e espaço para arejar seja o que ela mais precise.
Entre as sugestões de experiências no mundo real que ele lista no livro, está o movimento CISV International, que estimula debates e engajamento multicultural em colônias de férias em todo o mundo, incluindo onze cidades brasileiras, e onde celular é como uma persona non grata. O autor sabe que muita gente acredita que essa epidemia é irreversível, porque, como se diz em inglês, “o trem já deixou a estação”. Para essas pessoas, Haidt manda um recado: “Ora, se o trem está cheio de crianças em direção a uma ponte quebrada, é hora de freá-lo.”
Tania Menai é jornalista baseada em Nova York. Ela é autora de seis livros, entre eles Unicórnio Verde-Amarelo: Como a 99 se Tornou uma Startup de um Bilhão de Dólares, pela Companhia das Letras
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.