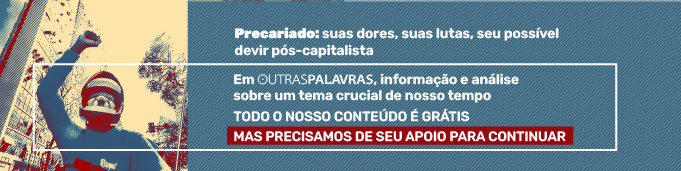Fiori: A guerra, a energia e o poder mundial
Relato de um impasse. Ao tentarem levar a Rússia a um beco sem saída, EUA e Otan acabaram enfraquecendo o dólar e despertando os Brics. A paz na Ucrânia torna-se difícil. Emerge uma nova geografia energética, militar e econômica
Publicado 16/06/2023 às 20:14

Por José Luís Fiori em entrevista a Gilson Camargo para o Jornal Extra Classe
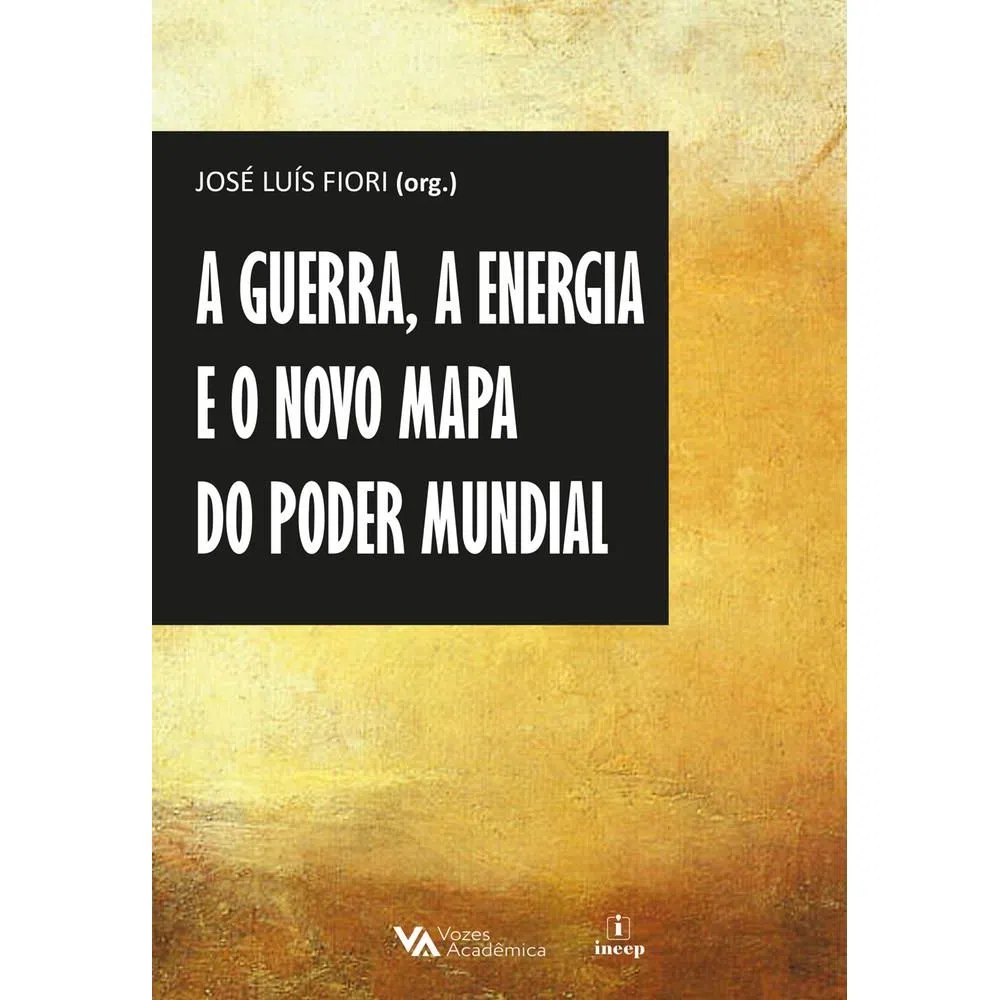
O livro recém-lançado A guerra, a energia e o novo mapa do poder mundial (Vozes, 2023), organizado por José Luís Fiori, reúne 33 artigos de autores como, além do próprio Fiori, José Sérgio Gabrielli, Rodrigo Leão e William Nozaki – todos pesquisadores do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), associado à Federação Única dos Petroleiros (FUP) –, além de quatro entrevistas de José Luís Fiori. São artigos e entrevistas que foram publicados entre os anos 2018 e 2022, analisando as conjunturas nacional e internacional, mas que fazem parte, ao mesmo tempo, de uma pesquisa de largo fôlego que vem sendo realizada no Ineep sobre “as grandes transformações internacionais e a reconfiguração da geopolítica energética do sistema mundial”.
Nesta entrevista, concedida ao jornal Extra Classe, José Luís Fiori trata de temas abordados no livro. Primeiramente, analisa as implicações da Guerra da Ucrânia para a geopolítica mundial, inclusive na questão energética e dos arranjos econômicos e militares que se desenvolverão depois que ela terminar. Para os dois lados envolvidos, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos (verdadeiro oponente por trás da Ucrânia), essa guerra é decisiva, e nenhum deles pode admitir a possibilidade de perdê-la. Ele mostra como os EUA planejaram longamente essa guerra, a partir do resgate de uma estratégia geopolítica formulada no despertar da Guerra Fria, e que nela está sendo jogado o projeto estadunidense de seguir sendo a potência hegemônica pelas próximas décadas ou séculos. Para a Rússia, uma derrota significaria uma ameaça existencial.
Nesse contexto, Fiori explica o papel do Brics num contexto de crise do poder hegemônico dos EUA e de evidente decadência do eurocentrismo. Como parte do grupo, o Brasil, ao assumir sua posição de grandeza e de país globalmente influente, assume também o desafio de construir consensos internos em relação ao seu projeto de nação e de ser capaz de competir entre os países líderes. Estará preparado para isso?
Leia a entrevista na íntegra.
______________
Gilson Camargo – Na apresentação do livro A guerra, a energia e o novo mapa do poder mundial (Vozes, 2023), o senhor refere a pesquisa em andamento, do Ineep, sobre as grandes transformações internacionais e a reconfiguração da geopolítica energética mundial. Qual o seu envolvimento com esse trabalho e como essa questão aparece na publicação?
José Luís Fiori – De fato, no momento da formação do Instituto de Estudos Estratégico do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep), em 2017, fui convidado pelos seus diretores para coordenar uma pesquisa sobre as transformações geopolíticas mundiais e seu impacto sobre a indústria e os mercados internacionais de petróleo e gás, e sobre o processo da “transição energética”. E nestes últimos seis anos o relatório da nossa pesquisa foi sendo feito na forma de artigos mensais sobre os momentos e ângulos mais relevantes desta transformação. Foram cerca de 80 ou 90 artigos, a maioria dos quais foi incluída num primeiro livro intitulado A Síndrome de Babel e a disputa do Poder Global, publicado pela Editora Vozes no ano de 2020. E agora, neste segundo livro, que inclui artigos de outros três pesquisadores do Ineep, quase todos focados na análise da pandemia da covid-19 e na Guerra da Ucrânia.
Esta nova “guerra europeia” poderia ser vista como mais uma disputa secular em torno a recursos energéticos? E depois de um ano e quatro meses das sanções aplicadas contra o petróleo e gás russos, o senhor diria que ela já alterou a geopolítica dos mercados globais de petróleo? Por quê?
Nem toda guerra é causada por disputas energéticas, mas não há dúvida que toda guerra tem algum “componente energético”. E o mesmo se pode dizer desta “guerra da Ucrânia”, cuja disputa mais importante envolve a questão da “primazia mundial”, mas que assim mesmo passa pelo problema do fornecimento do petróleo e do gás russo às demais economias europeias, e para a economia alemã muito em particular.
Os EUA se opuseram desde a primeira hora à construção dos gasodutos do Báltico e sempre tiveram medo da aproximação econômica entre a Alemanha e a Rússia. E hoje ninguém tem dúvida sobre o papel dos Estados Unidos na explosão dos dois oleodutos, o Nord Stream I e II, nos dia 26 de setembro de 2022, bloqueando definitivamente a possibilidade de algum tipo de negociação separada entre os alemães e os russos, e eliminando ao mesmo tempo a dependência europeia dos recursos energéticos russos.
Por outro lado, as sanções aplicadas pelo G7 e seus aliados contra o petróleo e o gás russo já provocaram um redesenho radical do mapa energético mundial, com o redirecionamento da energia russa para os mercados asiáticos, e com o estabelecimento de novos vínculos entre as potências petroleiras do Oriente Médio e a Extrema Ásia, com ênfase particular nas novas relações geoeconômicas e geopolíticas entre a China a Arábia Saudita, o Irã e a Rússia. Uma aproximação econômica e estratégica que nasceu à sombra e como resposta defensiva ao uso norte-americano de sua moeda e de suas finanças, como instrumento de poder dentro do mercado mundial de energia, e como arma de guerra contra seus concorrentes ou adversários.
E ainda no “campo energético”, segundo sua opinião, qual o impacto que poderá ter esta guerra sobre a questão da “transição energética”?
Como já dissemos, a energia foi sempre uma dimensão fundamental de todas as guerras através dos tempos e em todos os lugares. Pela simples razão de que a energia é que move os exércitos. Mas não há dúvida de que, depois da descoberta do petróleo, em meados do século XIX, e depois de sua transformação na principal fonte energética do século XX, intensificou-se muitíssimo a disputa entre as grandes potências pela conquista e monopolização desse recurso fóssil, concentrado em territórios de pouquíssimos países.
No início da Primeira Guerra Mundial, o cavalo ainda era um elemento central do planejamento militar das grandes potências, e o carvão é que movia as máquinas, os trens e os vapores do mundo. Mas quatro anos depois, no fim da guerra, havia acontecido uma grande “transição energética” que mudou a face do capitalismo, e redesenhou o mapa geopolítico mundial. Essa grande “transição” foi deslanchada pela Primeira Guerra, e quem começou o processo foi a Marinha Britânica que iniciou a mudança do combustível das suas “canhoneiras” em 1911. Mas depois do primeiro passo todas as demais potências envolvidas no conflito aderiram à nova matriz do petróleo.
Durante a guerra, todos os governos criaram estruturas e agências específicas de articulação entre seus comandos estratégicos e suas grandes empresas petrolíferas privadas e públicas, incentivando a pesquisa e desenvolvimento de novas formas e tecnologias de exploração dos recursos fósseis. Foi assim, aliás, que o gás natural começou a ser explorado como subproduto da produção de petróleo, já no século XIX, mas sobretudo a partir de meados do século passado, quando foi resolvido o problema da sua transmissão.
Agora de novo, nesse início do século XXI, o mundo está atravessando uma grande transformação geopolítica, e ao mesmo tempo está se propondo realizar uma nova “transição energética”, que visa substituir os combustíveis fósseis por novas fontes de energia que sejam “limpas e renováveis”. E o paradoxal é que esta transição “preservacionista” da natureza e dos homens também esteja sendo promovida pelas pesquisas e inovações induzidas pelas necessidades bélicas das grandes potências. O comando estratégico das grandes potências prevê o uso prioritário da energia fóssil em suas várias plataformas militares, pelo menos até 2050, mas todos se propõem substituir a energia carbônica por uma nova matriz que inclua a energia eólica, solar, maremotriz e biocombustível, com o aproveitamento também de fontes ainda subutilizadas de hidrocarbonetos, como é o caso das areias betuminosas e do hidrato de metano.
Além disso, todos esses países vêm se empenhando no desenvolvimento da eletricidade produzida no próprio campo de batalha, como resultado inclusive das exigências impostas pelos novos sistemas eletrônicos que estão sendo utilizados cada vez mais, nas operações militares com laser, sensores químico-biológicos e exoesqueletos. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a própria Índia e as demais potências intermediárias do sistema mundial trabalham hoje com o mesmo horizonte de 2050/60, quando programam a “transição energética” de suas estruturas e plataformas militares, com vistas à construção de um novo paradigma “fóssil-free”, por razões estratégicas e não ecológicas. O que de fato é um grande paradoxo: produzir energia “limpa” para aumentar a eficiência das máquinas de destruição bélica das grandes potências.
O uso intensivo das sanções econômicas do G7 contra a Rússia, permite falar na existência de uma “guerra econômica” paralela ao conflito militar propriamente dito?
Na verdade, são instrumentos ou armas complementares de uma mesma guerra. Como resposta à iniciativa militar da Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados do G7 desencadearam um ataque econômico contra a Rússia verdadeiramente massivo e arrasador, incluindo o bloqueio comercial e financeiro da economia russa e o congelamento dos ativos e reservas russas aplicadas nas moedas e títulos dos países do G7. Mas é compreensível que se fale numa “guerra econômica” uma vez que os dois principais objetivos deste ataque visavam atingir a capacidade bélica dos russos. O seu primeiro objetivo, era provocar uma asfixia instantânea da economia russa paralisando de imediato sua máquina de guerra; e o segundo, era aleijar a economia russa de tal forma que os russos não pudessem pensar em fazer uma nova guerra por muitos anos ou décadas.
Mas até agora, os Estados Unidos e seus aliados não alcançaram seus objetivos porque talvez não tenham avaliado corretamente o poder de resistência de uma grande potência energética, que detém ao mesmo tempo grandes reservas de minerais estratégicas e é hoje uma das maiores produtoras mundiais de alimentos, além de ser, sabidamente, a primeira ou segunda maior potência atômica do mundo.
Além disso, parece que os “aliados ocidentais” não calcularam corretamente o efeito bumerangue dessas ações dentro de suas próprias economias e sociedades que entraram em recessão e estão enfrentando um verdadeiro levante social em muitos casos contra seus próprios governos. Uma revolta social que pode acabar asfixiando a vontade política de fazer guerra, sobretudo dos europeus. Para não falar do efeito produzido pelo uso do dólar como arma de guerra sobre o processo de despolarização da economia mundial, provocado pela fuga dos governos de todo mundo dos títulos e da moeda americana. Este processo poderá tomar tempo, mas a desconfiança já se instalou dentro do sistema econômico mundial.
E como foi que uma guerra que parecia localizada e rápida durou já tanto tempo?
É crucial compreender que essa não é apenas uma das guerras assimétricas que surgiram após o fim da Guerra Fria, como as guerras no Iraque, Líbia, Síria e Afeganistão. Nessas guerras, observamos uma coalizão de grandes potências, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, lutando contra grupos armados que resistem, muitas vezes com armas vendidas pelas próprias potências envolvidas. Na Ucrânia, estamos testemunhando uma guerra de altíssima intensidade, possivelmente a mais intensa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra ocorre em diferentes frentes, tanto no terreno (ground) quanto no ar, no espaço cibernético e em todas as esferas. Ela envolve tecnologia de ponta. Seria uma guerra assimétrica se fosse apenas entre o Exército russo e as forças ucranianas, porém não é esse o caso. É uma guerra entre o sofisticado equipamento militar russo e o sofisticado equipamento militar norte-americano.
A Rússia chama essa guerra de “operação militar especial” provocada pela expansão da OTAN sobre sua fronteira ocidental, e Biden afirma que a guerra foi provocada pela invasão russa do território da Ucrânia. Quem afinal tem a razão?
Foi Marco Tulio Cícero, o Cônsul Romano (106 a.C.- 43 a.C.), quem formulou pela primeira vez a distinção entre as guerras que seriam “justas”, e as que seriam “injustas”. E foi ele também que formulou pela primeira vez a tese de que seriam moral e juridicamente justas todas as guerras travadas em “legítima defesa”. Mas desde então e até hoje foi sempre muito difícil arbitrar quem tem a razão em cima de um conflito aberto entre partes que alegam o mesmo direito à “autodefesa”. Além disso, muitos séculos depois do fim do Império Romano, já no início da modernidade, exatamente no momento em que estava se formando o sistema interestatal europeu, o jurista e teólogo holandês Hugo Grotius (1583-1645) foi o primeiro a perceber e concluir que, dentro desse novo sistema político formado por Estados nacionais soberanos, era impossível haver consenso sobre um único critério de arbitragem que permitisse dirimir um conflito entre dois Estados territoriais que tivessem interesses contrários e excludentes.
Depois disso, durante mais de 400 anos, a discussão dos teóricos sobre a guerra e a paz segue girando em torno desses dois problemas congênitos do sistema interestatal: o direito dos Estados à sua “legítima defesa” em caso de agressão ou ameaça ao seu território, e da impossibilidade de estabelecer um critério consensual, frente a cada conflito concreto, sobre quem está do lado “certo”, e quem está do lado “errado”. Na verdade, de depois de 2 mil anos de discussões filosóficas e éticas, uma coisa parece definitivamente certa: não existe nem nunca existirá nenhum critério de arbitragem dos conflitos interestatais que seja inteiramente neutro ou imparcial, pelo contrário, todos esses “critérios” de julgamento estarão sempre comprometidos com os valores e os objetivos de alguma das partes envolvidas no conflito e na guerra. E essa é de fato, em última instância, a verdadeira questão que está em disputa neste momento na guerra entre os Estados Unidos e a Rússia dentro do território da Ucrânia,
E nesse caso concreto da disputa que está sendo travada no território da Ucrania, quais os argumentos apresentados pela Rússia para defender a “legitimidade” de sua invasão do território da Ucrania?
Desde 2007, pelo menos, a Rússia tem apresentado e defendido sua posição, em vários fóruns internacionais: sua exigência de que a Otan suspenda sua expansão junto à fronteira russa e, em particular, que se abstenha de incorporar à sua estrutura os territórios da Georgia e da Ucrânia. E que, além disso, a Otan interrompa seu processo de militarização dos antigos países do Pacto de Varsóvia e dos novos países que foram separados do território russo após 1991 e que depois foram incorporados à Otan. A alegação russa contra o expansionismo “ocidental” encontra apoio numa longa história de invasões de sua fronteira ocidental: pelos poloneses no início do século XVII; pelos suecos, no século XVIII; pelos franceses, no século XIX; pelos ingleses, franceses e norte-americanos, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1921; e, finalmente, pelos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1944. Uma ameaça, segundo a visão russa, que se repetiu depois do fim da Guerra Fria, e depois da decomposição da União Soviética, quando os russos perderam uma parte do seu território e logo em seguida assistiram ao avanço das tropas da Otan, apesar da promessa do Secretário de Estado Americano, James Baker, feita ao primeiro-ministro russo Gorbachev, em 1996, de que isto não aconteceria.
Foi por isso que, depois, o presidente russo, Vladimir Putin, pronunciou um discurso na Conferência de Segurança de Munich, de 2007, em que afirmou ser inaceitável para a Rússia que a Otan seguisse se expandindo e tentasse incorporar a Geórgia e a Ucrânia. As chamadas “potências ocidentais” não deram atenção à reivindicação russa e foi por isso que a Rússia interveio em 2008 no território da Geórgia, para impedir sua inclusão na Otan. Depois disso, em 2014, os EUA e a Inglaterra tiveram uma participação direta no golpe de Estado que derrubou o governo democrático da Ucrânia, que era apoiado pela Rússia. Como resposta, a Rússia ocupou e incorporou o território da Crimeia, em 2015. No mesmo ano em que a Rússia, a Alemanha, a França e a Ucrânia assinaram os Acordos de Minsk que foram sacramentados pelas Nações Unidas, mas que não foram respeitados pela Alemanha e a França, nem foram acatados pela Ucrânia. Finalmente, em dezembro de 2021, a Rússia apresentou aos Estados Unidos e à Otan uma proposta formal de negociação sobre a Ucrânia, e de renegociação do “equilíbrio estratégico” imposto pelos EUA, depois do fim da Guerra Fria,
Esta proposta foi rechaçada, e foi neste momento que as tropas russas invadiram o território da Ucrânia, esgrimindo o argumento do “ataque preventivo em legítima defesa” do seu território com relação à ameaça da militarização e da incorporação iminente da Ucrânia à Otan. Visto deste ângulo, dá para compreender que a Rússia não tem mais como recuar nem tem como aceitar uma derrota que ameaçaria a sua própria existência.
E do outro lado, quais os interesses e argumentos dos Estados Unidos e da Otan para justificar sua expansão na direção do Leste Europeu? E para justificar o seu envolvimento tão grande com a Ucrânia?
Depois do fim da Guerra Fria, e durante toda a última década do século passado, os Estados Unidos exerceram um poder militar global absolutamente sem precedentes na história da humanidade. E foi durante este período, logo depois da queda do Muro de Berlim, que o presidente George Bush criou um grupo de trabalho liderado pelo seu Secretário de Estado, Dick Cheney, e por vários outros membros do Departamento de Estado, como foi o caso de Paul Wolfowitz e de Donald Rumsfeld, entre outros. Daí nasceu o projeto republicano do “Novo Século Americano”, propondo que os Estados Unidos impedissem preventivamente o aparecimento de qualquer Estado em qualquer região do mundo que pudesse ameaçar a supremacia mundial dos Estados Unidos durante o novo século que se avizinhava.
Por outro lado, ainda na década de 1990, os dois governos democratas de Bill Clinton apostaram na globalização econômica e nas “intervenções humanitárias” em defesa da democracia e dos “direitos humanos”. Foram 48 “intervenções” durante toda a década, as mais importantes na Bósnia, em 1995, e no Kosovo, em 1999. Mas ainda nos anos 90, o geopolítico democrata Zbigniew Brzezinski – que havia sido Conselheiro de Segurança do governo Jimmy Carter, na década de 1970 – publicou um livro (The Grand Chessboard: American Primacy, em 1997) que se tornaria uma espécie de “bíblia” da política externa democrata dos governos de Barack Obama, entre 2009 e 2016, e agora do governo de Joe Biden. Brzezinski foi o grande mestre de Madeleine Albright (Secretária de Estado de Obama), que por sua vez foi a mentora intelectual de Anthony Blinken, Jack Sullivan, Victoria Nuland, entre outros, que trabalharam com Obama e seguem trabalhando com Biden, e estiveram todos diretamente envolvidos com o golpe de estado da Praça Maidan, na Ucrânia, em 2014.
A proposta de Brzezinski ressuscitou a estratégia concebida por George Kennan, em 1945, de contenção da Rússia como objetivo central da política externa americana. E por isso defendeu explicitamente a expansão da Otan para o Leste da Europa, incluindo explicitamente a Ucrânia. Foi também a partir daí que se gestou o projeto das intervenções visando a mudança de governos e de regimes desfavoráveis para os Estados Unidos, mas em nome da defesa da democracia, como aconteceu com a “primavera árabe” depois de 2010, mas também como aconteceu no Brasil depois de 2013, e na Ucrânia, em 2014. Republicanos e democratas tinham um mesmo objetivo em última instância: a preservação da primazia mundial dos Estados Unidos durante o século XXI. A grande diferença entre os dois estava exatamente na importância atribuída pelos democratas à Ucrânia, considerada por eles por ele como um verdadeiro pivô geopolítico na estratégia de contenção da Rússia. Brzezinski chega a definir 2015 como a data limite para incorporar a Ucrânia à Otan.
A incorporação à Otan não se concretizou, mas o golpe de Estado acabou acontecendo exatamente um ano antes da data prevista por ele. Como se pode ver, portanto, a intervenção americana na Ucrânia, e a sua posterior militarização, responderam a uma estratégia clara e de longo prazo de expansão e preservação da “primazia militar global” dos Estados Unidos. E é exatamente por isso que os Estados Unidos se opõem hoje terminantemente a qualquer iniciativa de paz. Os russos não podem ceder porque está em jogo sua própria existência, e os americanos não querem ceder porque o que está em jogo para eles na Ucrânia é o futuro do seu projeto de supremacia ou primazia militar global, durante o século XXI.
E como sair dessa guerra?
A maioria das guerras tem um final diplomático. O problema é saber quando chegará a “hora da diplomacia” dessa nova guerra europeia. No momento nenhum dos lados se propõe negociar, e os Estados Unidos e a Europa estão comprometidos até o pescoço com a ideia de derrotar a Rússia. Existe uma grande possibilidade de que esta guerra escale podendo se transformar num conflito atômico, que seria uma tragédia para toda a humanidade. E aparentemente a consciência de que estamos na beira de uma guerra nuclear não tem sensibilizado nem demovido os governos envolvidos diretamente. Mas existe também a possibilidade de que esta guerra se transforme num conflito crônico que se prolongue por muitos anos. Para a Rússia, como muitos já disseram, esta é uma guerra existencial que ela não pode perder sem atingir sua própria sobrevivência como nação. E para os Estados Unidos e Inglaterra, sobretudo, esta é uma guerra em que está em jogo a supremacia mundial que exerceram nos últimos 200 anos. O que é certo é que neste momento as portas de saída estão fechadas e a possibilidade de um acordo de paz é remota.
Qual o lugar do Brics na disputa pela hegemonia mundial? Você acredita num deslocamento na atual supremacia norte-americana? Por quê?
O objetivo inicial do Brics não era este, e a própria expansão do grupo vinha acontecendo de forma incremental desde suas primeiras reuniões, em 2006, até o momento em que começou a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, durante o governo de Donald Trump, e muito mais ainda depois que começou a guerra econômica dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia, em 2022. Neste sentido, considero que o uso do dólar e do poder financeiro do G7 como instrumentos de guerra contra dois membros do Brics contribuiu decisivamente para aprofundar a relação financeira entre os membros iniciais do grupo, e aumentou o atrativo do grupo para outros países contrários às sanções norte-americanas e inseguros com relação à suas aplicações em títulos americanos, ou mesmo, com relação ao uso exclusivo do dólar para suas transações internacionais.
Na verdade, o Brics não é um bloco militar ou geopolítico e não ameaçam ninguém, mas na prática a sua própria expansão já é um sinal do declínio da hegemonia dos valores e das instituições europeias, seja na Ásia, no Oriente Médio, na África, ou mesmo na América Latina. Assim como a afirmação do poder econômico e militar da China e da Rússia assinalam por si mesmo um declínio do alcance da liderança política e do império militar global dos Estados Unidos. Basta contabilizar o número de países que resistiram às pressões e não se submeteram às sanções econômicas americanas contra a Rússia. O Brics já representa hoje 1/3 do PIB mundial e já é igual ou maior que o PIB do G7, possuindo 40% da população mundial, 18% do comércio mundial e 50% do crescimento da economia internacional. Ou seja, mesmo sem agredir ninguém, nem se propor a ser o novo centro do mundo, o Brics é por si mesmo a prova cabal de que o G7 já não tem mais representação nem representatividade para falar em nome da “comunidade internacional”
Qual o papel do Brasil nesse novo cenário político e econômico mundial?
Acho que não é necessário relembrar nem muito menos comentar o que passou no Brasil desde o Golpe de Estado de 2015/2016, e em particular durante o último governo de extrema-direita, que isolou o país dentro do sistema mundial, provocando um estrago enorme na nossa imagem internacional. Algo verdadeiramente vergonhoso e humilhante para qualquer brasileiro minimamente antenado com o mundo. Mas agora o Brasil está procurando se reposicionar dentro da política internacional através de uma política externa soberana e independente na defesa dos seus interesses nacionais, e pacificadora, com relação à Guerra da Ucrânia. Este seu novo posicionamento, somado às suas dimensões e ao seu potencial de crescimento, coloca o Brasil próximo do núcleo central do poder internacional.
Mas é importante ter claro que os países que ingressam nesse pequeno “clube” dos países mais influentes têm que estar preparados, porque entram automaticamente num novo patamar de competição entre os próprios membros desse grupo que lutam entre si para impor, a todo o sistema, seus objetivos, valores, e estratégias de projeção nacional. Para enfrentar as pressões decorrentes deste seu novo posicionamento, e de sua decisão de não ser vassalo de nenhuma outra grande potência, o Brasil deverá ter uma grande dose de coragem, persistência e inventividade. E o que é mais importante, o Brasil terá que sustentar uma “vontade estratégica” consistente e permanente, ou seja, uma capacidade social e estatal de construir consensos em torno de objetivos nacionais e internacionais de longo prazo. E, no plano externo, terá que assumir uma posição realista e pragmática, construindo alianças com quem quer que seja, desde que o Brasil consiga manter seus próprios valores, interesses e objetivos estratégicos nacionais.
Como o senhor avalia a proposta formulada pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, da criação de um grupo de países não envolvidos na guerra da Ucrânia para tentar mediar uma saída pacífica para o conflito?
Acho que a proposta brasileira é meritória, de todos os pontos de vista. Sobretudo porque as Nações Unidas não têm capacidade de exercer este tipo de arbitragem e conciliação, e seu Conselho de Segurança menos ainda, porque seus cinco membros efetivos e permanentes são exatamente os grandes “fazedores de guerras” dentro do Sistema Mundial, a maioria deles envolvidos até o pescoço nesta Guerra da Ucrânia. A proposta brasileira, entretanto, possui duas grandes limitações: a primeira é que não existe consenso sobre quem está ou não envolvido com a guerra, e que, portanto, seria aceito pelos países envolvidos; e a segunda é que ela não tem a menor possibilidade de avançar sem a concordância dos países envolvidos na guerra, tendo claro que a Ucrânia não tem a menor autonomia decisória nem tem nenhuma capacidade de fazer nada sem a autorização dos Estados Unidos e da Inglaterra. Os Estados Unidos, porque são de fato o país que está em guerra com a Rússia, e a Inglaterra, porque é o país que tem liderado a russofobia em toda a Europa, e açulado o ânimo belicista da Polônia, dos países Bálticos e da própria presidenta do Conselho da Europa. Assim mesmo, acho que a iniciativa brasileira deve ser vista também como parte de uma mobilização mundial e permanente em favor da paz, que pode tomar meses ou anos, mas que faz parte de um processo secular de consolidação da Paz como um valor universal, contra a histeria belicista da Otan, que agora ainda está se propondo a estender sua presença no território asiático, onde a maior parte das guerras modernas foi provocada pelos próprios europeus e os norte-americanos.