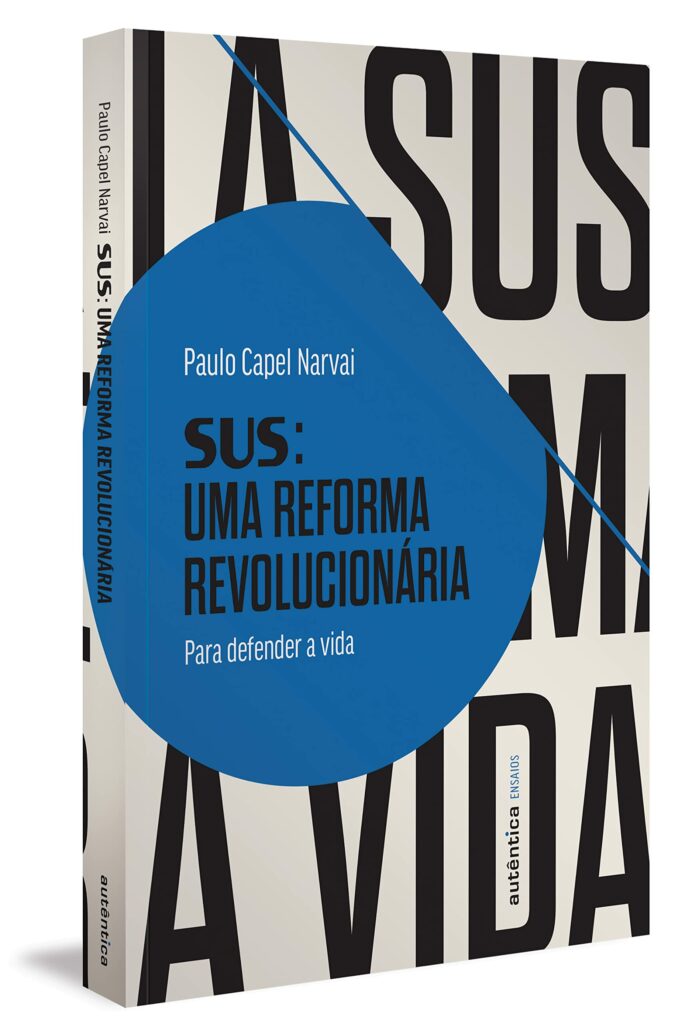SUS: as delícias e as dores de um sistema descentralizado
Livro de Paulo Capel Narvai propõe examinar em profundidade o sistema e o faz sem academicismo. Leia capítulo essencial – sobre como se construiu o caráter participativo da Saúde pública brasileira, e como alguns tentam capturá-lo
Publicado 09/05/2022 às 07:43 - Atualizado 21/06/2022 às 12:42

“De onde veio essa ideia de criar um sistema público de saúde no Brasil?”, questionavam frequentemente o professor titular sênior de Saúde Pública na USP, Paulo Capel Narvai. “Ele é viável?” Diante de dúvidas desse tipo, mesmo entre pessoas bem informadas, Paulo animou-se a escrever um livro que explicasse o Sistema Único de Saúde de forma coloquial, tanto para leigos quanto para seus trabalhadores. “Esta é uma obra cientificamente rigorosa quanto à fidelidade aos fatos, dados e fontes, mas não é um livro estritamente acadêmico, cujo texto só é compreensível a iniciados”, escreve ele na apresentação de SUS: Uma reforma revolucionária, lançado há poucos dias
“Mas eu quis atender, também, o leitor mais exigente, que encontrará aqui muitos fundamentos teóricos e aspectos conceituais que estão no jargão de profissionais da saúde pública e do SUS e que, embora muito utilizados, nem sempre são bem compreendidos por todos – inclusive por muitos que os utilizam”, continua. Na semana que vem, o SUS completa 34 anos – e, neste momento de ataques, mas também de reconhecimento inédito, a obra enriquece o debate.
No capítulo que publicamos abaixo, Paulo trata da gestão descentralizada e participativa do SUS, e frisa que se trata de uma experiência única no mundo. “No SUS, ao contrário de outros sistemas universais de saúde, a participação institucionalizada da sociedade, por meio de entidades, movimentos e organizações variadas, é exercida em todos os níveis de funcionamento do sistema por conselhos e conferências de saúde”. O autor ressalta que a participação popular era uma característica essencial, no momento da criação do sistema, por seus idealizadores.
A governança descentralizada foi atacada logo de início, pelo governo Collor. “O que queria, efetivamente, era manter o sistema de saúde centralizado no governo federal para aprofundar sua privatização, sem ter de negociar com estados e municípios”, explica. Mas houve resistência para que fosse mantido seu caráter municipalista – especialmente organizada pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O livro ressalta a importância dessa estruturação da gestão do SUS de forma compartilhada entre governo federal, estados e municípios.
Paulo expõe, no entanto, que apesar da intensa abertura à participação popular, ao longo das décadas a gestão do SUS foi sendo privatizada. “Ano após ano, sobretudo nas primeiras décadas do século XXI, foi se consolidando uma tendência fortemente privatizante da prestação de serviços públicos de saúde.” Foi fortalecida pela ideia de que funcionários públicos sustentam privilégios, e não fazem seu trabalho devidamente. Nesse contexto, despontou a figura das organizações sociais de saúde (OSS), “um tipo de pessoa jurídica de direito privado, de propriedade de particulares formalmente sem fins econômicos que, por meio de contratos com entes federativos, assumem a gestão de serviços de saúde em determinado território, com as relações entre os partícipes sendo regidas por contratos de prestação global de serviços, ações e procedimentos”.
Inicialmente formadas por colônias de imigrantes, especialmente europeus e sírio-libaneses, as OSS foram perdendo seu caráter territorial, e tornando-se contraditórias. “Muitas OSS são de origem obscura, sem história social e de propriedade nebulosa, e amealham dinheiro público em operações de gestão sem transparência e à margem de qualquer controle efetivo pelos conselhos de saúde. São OSSs picaretas, que têm donos, os quais não veem conflito ético em fazer negócios com o cuidado em saúde.” E, em alguns estados como São Paulo, as OSS são responsáveis pela gestão de mais de 80% dos serviços do SUS. Paulo critica o que chama de “solução-puxadinho”, das OSS e engrossa o coro daqueles que apoiam um SUS 100% público e estatal. “O que é essencial no SUS desde as lutas que lhe deram origem, na segunda metade do século XX, é a rejeição ética da transformação de cuidados de saúde em mercadorias e a desvinculação da saúde”. Como caminhar até este ponto, em que a descentralização não abra brechas para que se infiltre no sistema a lógica da saúde-mercadoria? O livro não tem respostas prontas — nem poderia. A superação dos impasses do SUS será obra coletiva. A Conferência Livre de Saúde e a possível vitória sobre um governo de morte podem ser passos decisivos. SUS, uma Reforma Revolucionária é uma contribuição indispensável.
Apresentação: Gabriela Leite
Governança e gestão do SUS
Jabuticaba
A defesa de “uma autêntica participação democrática da população nos diferentes níveis e instâncias do sistema, propondo e controlando as ações planificadas de suas organizações e partidos políticos representados nos governos, e assembleias e instâncias próprias do Sistema Único de Saúde”, defendida no documento “A questão democrática na área da saúde”, apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES)[1] em 1979, daria origem a uma jabuticaba que moldaria não apenas o sistema de saúde, público, controlado pelo Estado, que se buscava implantar, mas viria a exercer, anos depois, uma influência positiva, decisiva sobre a administração pública em vários setores em que o Estado brasileiro exerce seu papel institucional.
No SUS, ao contrário de outros sistemas universais de saúde, a participação institucionalizada da sociedade, por meio de entidades, movimentos e organizações variadas, é exercida em todos os níveis de funcionamento do sistema por conselhos e conferências de saúde. Isto ocorre desde o nível local, com os conselhos gestores, que podem existir em unidades básicas de saúde, hospitais, ambulatórios de especialidades, até os níveis municipais, estaduais e em nível nacional, com seus respectivos conselhos de saúde, estes obrigatórios por lei.
Para o movimento da Reforma Sanitária, conforme o documento do CEBES, o objetivo dessa participação
[…] visa por um lado maior eficácia, permitindo uma maior visualização, planificação e alocação dos recursos segundo as necessidades locais. Mas visa sobretudo ampliar e agilizar uma autêntica participação popular a todos os níveis e etapas na política de saúde.
Para os reformistas da saúde, a possibilidade da participação popular, cujo conceito foi ampliado para “participação da comunidade” na Assembleia Nacional Constituinte, era
[…] talvez o ponto fundamental desta proposta, negador de uma solução meramente administrativa ou ‘estatizante’. Trata-se de canalizar as reivindicações e proposições dos beneficiários, transformando-os em voz e voto em todas as instâncias. Evita-se, também, com isto, uma participação do tipo centralizador tão cara ao espírito corporativista e tão apta às manipulações cooptativas de um estado fortemente centralizado e autoritário como tem sido tradicionalmente o Estado brasileiro.[2]
Efetivada amplamente no âmbito do SUS, não sem muitas contradições e conflitos,[3] essa participação da comunidade por meio de conselhos e conferências foi logo percebida por autoridades, gestores públicos e pela própria cidadania organizada como uma boa solução para a implementação de políticas públicas asseguradoras do exercício de direitos sociais, em uma república federativa cujos entes são autônomos e que se espraia por um vasto território de dimensões continentais como o Brasil, e com tão rico e diversificado patrimônio cultural.
A maneira como o SUS foi institucionalizando um modus operandi para a gestão do direito social à saúde, republicano, federativo, democrático e transparente, viabilizando a participação cidadã, foi se consolidando no país e, ao mesmo tempo, se tornando um modelo para outros setores da administração estatal. E isto haja vista os sistemas que se estruturaram para a gestão da assistência social e da segurança pública, áreas em que se vêm desenvolvendo esforços importantes para dotá-las de sistemas únicos, unificadores e integradores de várias organizações e instituições que operam em diferentes esferas de gestão, tanto do Estado quanto da sociedade civil, por meio de organizações sem fins econômicos. O modelo vem também exercendo influência relevante nos setores de educação e cultura.
Essa característica do SUS, de viabilizar a participação social em saúde e fazer disso um fator estratégico para o desenvolvimento da gestão participativa, é algo singular, único, que não se verifica em outros países cujos sistemas universais de saúde têm suas ações controladas apenas pelos mecanismos clássicos de controle da coisa pública, como os poderes Legislativo e Judiciário e órgãos de controle de contas e atos administrativos. Por essa razão, a “participação da comunidade”, tal como se efetiva no SUS, é vista como uma espécie de jabuticaba, essa “fruta que só existe no Brasil”.
Atribui-se ao economista, também engenheiro, professor e banqueiro Mário Henrique Simonsen a afirmação de que “se só existe no Brasil e não é jabuticaba, é besteira”. Ex-ministro da Fazenda no governo do general Ernesto Geisel, e do Planejamento no governo de João Figueiredo, o último general presidente, Simonsen tinha grande intimidade com a administração pública e reagia com essa frase ao tomar conhecimento de alguma solução heterodoxa que lhe parecesse despropositada. Seriam invencionices de pessoas profissionalmente inexperientes, que tendem a simplificar processos complexos e a buscar soluções com base não em conhecimentos técnicos, mas no famoso “jeitinho brasileiro”. É provável que Simonsen não tenha criado a frase, muito difundida, mas é certo que ele a popularizou.
Não há consenso, entre os especialistas, sobre a afirmação de que a jabuticabeira só existe no Brasil, pois além da Mata Atlântica, de onde seria originária, a árvore ocorre em vastas áreas da Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina – e foi identificada até mesmo no México. Mas está comprovado, isto sim, que a palavra jabuticaba provém da língua tupi.
Jabuticaba ou não, a “participação da comunidade” no SUS é uma das fortalezas do nosso sistema universal de saúde.
Governança do SUS
O governo de Fernando Collor reagiu como pôde à implantação do SUS.[4] Pressionado por setores conservadores e agentes econômicos encantados com as ideias neoliberais que Ronald Reagan (Estados Unidos) e Margaret Thatcher (Inglaterra) vinham difundindo, o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a conquista do Estado Democrático de Direito desconfiava da Constituição de 1988, a base político-jurídica que tinha viabilizado sua própria eleição. Ele fazia coro aos que viam na Carta de 1988 um excesso de direitos, cujos encargos para o Estado apenas aumentariam a dívida pública e pressionariam a inflação. O que queria, efetivamente, era manter o sistema de saúde centralizado no governo federal para aprofundar sua privatização, sem ter de negociar com estados e municípios. Na lei aprovada pelo Congresso Nacional que regulamentava as disposições constitucionais sobre o SUS, vetou os artigos que tratavam das transferências de recursos financeiros da União para os demais entes federativos e os artigos que se referiam à participação da comunidade. A lei 8.080 foi sancionada com cortes feitos por Collor em julho de 1990, mas ele teve de recuar em suas pretensões centralizadoras. Meses depois, ainda naquele ano, em dezembro, sancionou a lei 8.142. Tudo poderia estar em uma só lei. Mas Collor supôs que teria força para fazer o que quisesse. Apostou e, sendo derrotado, teve de ceder. Foi pressionado pelas entidades e movimentos sociais que lutavam pela descentralização do sistema de saúde e, sobretudo, pelos setores municipalistas, que saíram muito fortalecidos da Assembleia Nacional Constituinte. Sob a consigna “Saúde: municipalização é o caminho!”, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) pressionou muito e venceu a batalha da descentralização. Teve um aliado importante: o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Ainda assim Fernando Collor conseguiu adiar por dois anos a realização da 9ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CNS), que deveria ter ocorrido em 1990 e que se realizou apenas em agosto de 1992, com o tema “Municipalização é o caminho”, já nos estertores da sua presidência, pois seria destituído em dezembro daquele ano. Collor mutilou o SUS o quanto pôde, dando início a um processo que não cessou até hoje, com o sistema debatendo-se entre a asfixia financeira, seu esquartejamento territorial por concessionários privados quase sempre mais interessados no acesso aos recursos públicos do que com a saúde das populações, e o deliberado sucateamento dos serviços públicos do SUS, entre outros males crônicos.
Ao contrário do que muitos pensam, talvez induzidos pelo termo “Único” da identificação do sistema público de saúde brasileiro, o SUS não é uma megaorganização que, de modo vertical, realiza ações em todo o país. No complexo arranjo federativo do Brasil, com os entes federativos gozando de autonomia frente à União, o governo federal não exerce função de mando sobre estados, e, estes, sobre os municípios.
Às leis, sim, há uma hierarquia, com leis municipais não podendo se contrapor a leis estaduais, e estas não podendo se opor à legislação federal. Mas, no âmbito da administração pública, a gestão das políticas públicas, entre as quais a de saúde, requer pactuações entre os entes federativos, nos termos da legislação.
No caso da saúde, a lei 8.080/1990 dedica todo o capítulo III (art. 8º a 14) à regulamentação da organização, direção e gestão do SUS: reafirma que o sistema tem direção única em cada esfera de governo e cria comissões intersetoriais para diversas áreas de gestão, subordinando-as ao Conselho Nacional de Saúde (CNS).
A lei 12.466, de 2011, reconhece como “foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS”, as comissões intergestoras bipartite e tripartite, nos âmbitos estadual e nacional, respectivamente, compostas por representantes de municípios, estados e do governo federal. Essas comissões foram instituídas em 1993 pela Norma Operacional Básica n. 1 do SUS, aprovada pela Portaria 545, do Ministro da Saúde, e têm poder de decisão sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da “gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. A lei 12.466/2011 confere estatuto legal às comissões intergestoras e lhes atribui competência para “definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados”. Cabe também às comissões bi e tripartites “fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados”.
CONASS e CONASEMS, reconhecidos legalmente como entidades representativas dos entes estaduais e municipais, integram a comissão intergestora tripartite – que é composta, paritariamente, por quinze membros, sendo cinco indicados pelo Ministério da Saúde, cinco pelo CONASS e cinco pelo CONASEMS – em nível nacional. Ambos, CONASS e CONASEMS, distribuem seus cinco representantes pelas cinco macrorregiões. As comissões intergestoras tomam decisões por consenso e não por votação e exercem, nos seus respectivos âmbitos, funções de direção do SUS, pois muitas competências e atribuições dos entes federativos são compartilhadas entre essas esferas. Cabe ao CNS exercer o controle público do SUS e, portanto, aprovar ou rejeitar as decisões tomadas pelas comissões intergestoras.
O modelo de governança criado e desenvolvido no SUS, nos marcos do federalismo brasileiro, vem contribuindo para fortalecer e agilizar a administração pública, projetando efeitos sobre o funcionamento de toda a máquina pública. Em 2017, foi editado o decreto n. 9.203, que define “governança pública” como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. A liderança, diz o decreto, refere-se às práticas de natureza humana ou comportamental exercidas nos principais cargos das organizações e implica integridade, competência, responsabilidade e motivação. A estratégia diz respeito à definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido. O controle compreende os processos estruturados para mitigar os possíveis riscos, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e a adoção de critérios economicamente aceitáveis para a aplicação de recursos públicos.
Gestão da saúde pública
As bananeiras, diz o povo, nascem com data certa para morrer. Duram no máximo uns dois anos, dão uma safra e acabou. Após “dar cacho”, precisam ser cortadas, cedendo o lugar para que outra árvore seja gerada por uma nova muda. As jabuticabeiras duram mais, vivem até 100 anos. Demoram uns dez anos para começar a dar frutos, mas têm vida longa.
Volto à metáfora da jabuticaba para assinalar que se a participação social em saúde é mesmo um fruto singular, que confere ao SUS uma especificidade quanto à governança, não se pode dizer o mesmo dos meios utilizados para a gestão das ações e serviços públicos de saúde.
Também entre nós, desde a criação do SUS, foi se desenvolvendo na opinião pública um sentimento de que, justificando-se ou não, a administração direta e, portanto, a prestação de serviços de saúde por “funcionários públicos” não é uma boa solução para o SUS. Ano após ano, sobretudo nas primeiras décadas do século XXI, foi se consolidando uma tendência fortemente privatizante da prestação de serviços públicos de saúde. É como se a administração direta e o provimento de serviços, como saúde e educação, por servidores públicos estatutários fossem bananeiras que deram cachos e que precisam ser extirpadas. Foi se criando na opinião pública uma imagem, falsa, de que servidores públicos são trabalhadores privilegiados e que não cumprem com suas obrigações. A mitologia sobre o “funcionalismo público” é alimentada diariamente por veículos de comunicação que, como se sabe, são financiados por publicidade de empresas privadas interessadas na projeção de uma imagem distorcida dos “serviços estatais”, porque isto lhes interessa comercialmente. A área de segurança pública, bastante deformada pelas pressões que são exercidas sobre ela por empresas privadas de segurança, interessadas em vender proteção para seus clientes particulares, é apenas o exemplo mais eloquente da promiscuidade que pode marcar as relações público-privado em algumas áreas. Quando nesses setores estão implicados, de um lado, os direitos humanos e a proteção social, e, de outro, interesses econômicos que envolvem muito dinheiro, como são os casos da saúde e da educação, toda cautela é pouca.
Nesse contexto, uma forma de gestão emergiu com grande poder persuasivo sobre autoridades públicas e formadores de opinião: a organização social de saúde (OSS), um tipo de pessoa jurídica de direito privado, de propriedade de particulares formalmente sem fins econômicos que, por meio de contratos com entes federativos, assumem a gestão de serviços de saúde em determinado território, com as relações entre os partícipes sendo regidas por contratos de prestação global de serviços, ações e procedimentos. De modo geral, as OSS contratam pessoal de saúde de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A gestão por meio de OSS se dá, portanto, de modo concorrente com a gestão realizada por órgãos públicos da administração direta, cujo servidores públicos são admitidos para o exercício de cargos e funções públicos após aprovação em concursos públicos.
A modalidade de gestão do SUS por OSS tem se disseminado por todo o país. Em cidades como São Paulo, essa participação é superior a 80% dos serviços do SUS. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no final da segunda década do século XXI havia 3.013 serviços públicos de saúde, como hospitais e unidades básicas, administrados por particulares nos 5.570 municípios brasileiros. Esse número correspondia a 73% dos serviços públicos, sendo 58% geridos por OSS e os outros 15% por empresas privadas, com fins lucrativos, segundo o modelo de parcerias público-privadas, as PPP.
As primeiras OSS foram constituídas no Brasil ainda na segunda metade do século XIX, por grupos étnicos, sob a liderança de membros que não aceitavam as condições de vida a que aquelas comunidades estavam expostas, sem proteção social, incluindo saúde e educação públicas. Criadas em uma época histórica em que o Estado brasileiro era do tipo liberal clássico e negava tudo aos trabalhadores, essas entidades eram criadas para organizar pessoas e grupos para cobrar ações do poder público e, na ausência de respostas efetivas, substituir o Estado. Sem direitos (aposentadorias, pensões, auxílios…) e sem proteção social confiável, os trabalhadores, notadamente os de imigração recente e seus descendentes, trataram de organizar entidades beneficentes para lhes proporcionar o que o Estado lhes recusava. Combinavam essas organizações com lutas gerais por direitos sociais, conforme é amplamente conhecido. As primeiras OSS reuniam portugueses, espanhóis, italianos. Logo vieram sírio-libaneses e israelenses. Foi este movimento que deu origem, em São Paulo, ao Hospital de Beneficência Portuguesa (1859), ao Hospital Matarazzo (1878), à Sociedade Beneficente de Senhoras, embrião do Hospital Sírio-Libanês (1921), e um pouco mais tarde, já no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (1950). Essas entidades, identificadas como organizações filantrópicas, obtinham fundos em sorteios, festas, bingos, doações. Ganharam terrenos e equipamentos. Conta-se que Hans, filho de Albert Einstein, doou dinheiro e um relógio do pai para ajudar nos esforços de consolidação daquela OSS. Por todo o país, esses grupos ergueram hospitais e maternidades, sobretudo em grandes cidades. Construíram o que hoje se qualifica como capital social e contribuíram para o desenvolvimento do país. A lei 9.637, de 15 de maio de 1998, especifica as condições para que uma organização seja qualificada como uma OSS.
Hoje, porém, muitas OSS se transformaram em empresas com fins econômicos. Outras viraram uma espécie de caricatura de si mesmas, e os membros das comunidades que lhes deram origem não as reconhecem. Perderam organicidade social e não há mais vínculos comunitários. Muitas foram capturadas por particulares, cujos grupos, poderosos, mandam e desmandam, perdendo-se os elos que possibilitavam o exercício de algum controle dos membros sobre os dirigentes.
Outras OSS, criadas no final do século XX, nada têm ou tiveram de comunitárias ou sociais. São apenas empresas, de propriedade de particulares, que. sediadas em algum município, operam onde querem e sem qualquer controle público além daquele exercido pelos órgãos de Estado com essa atribuição institucional, como tribunais de contas e o Ministério Público.
Embora estejam muito disseminadas em todo o país, as OSS são objeto de muito debate e questionamentos por lideranças sindicais, movimentos sociais e autoridades públicas, incluindo gestores de saúde do SUS. O motivo fundamental do dissenso são as denúncias de infiltrações de organizações criminosas em OSS e sua transformação em “empresas de gaveta”, utilizadas para lavagem de dinheiro e outras ações criminosas.[5] Em muitas OSS, são rotineiros o emprego de mecanismos conhecidos de malversação de recursos públicos, como os acordos com prestadoras de serviços para que superfaturem preços de produtos, ou a emissão de notas fiscais frias para serviços não executados. Também o “calote trabalhista” vem sendo denunciado, quando a OSS deduz encargos trabalhistas dos valores pagos aos profissionais de saúde, mas não os recolhe nos termos legais. Muitas OSS são de origem obscura, sem história social e de propriedade nebulosa, e amealham dinheiro público em operações de gestão sem transparência e à margem de qualquer controle efetivo pelos conselhos de saúde. São OSS picaretas, que têm donos, os quais não veem conflito ético em fazer negócios com o cuidado em saúde. Não as move o princípio ético da caridade, da proteção por meio da filantropia. São, conforme o jargão dos gestores da saúde, entidades “pilantrópicas”.
O que justifica, por exemplo, que uma OSS com sede em São Paulo assuma a gestão de serviços, e até mesmo de sistemas municipais de saúde em locais tão distintos e distantes de sua sede como o são cidades do interior paulista e mineiro, e mesmo Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Natal? Podem até ser organizações que lidam com saúde, mas “sociais”?
Há, porém, quem considere que os problemas vinculando OSS com práticas criminosas são também dificuldades encontradas por órgãos da administração pública direta, argumentando que o problema não é o modelo de OSS, mas a desonestidade de muitos gestores públicos ou seu despreparo técnico para o exercício dessas funções.
O município é a base operacional do SUS. É nessa esfera de governo que ações e serviços de saúde são desenvolvidos. A produção de cuidados de saúde implica, reconhecidamente, uso intensivo de pessoal. A força de trabalho em saúde corresponde a cerca de 75% a 95% dos custos de produção dos cuidados. Equipamentos, sobretudo, mas também materiais, embora envolvam muitas vezes grande incorporação tecnológica e, portanto, altos custos, são amortizados em longo prazo, diluindo custos. A remuneração do trabalho é sempre o que mais onera a produção de ações e serviços de saúde. Mas essa característica do trabalho em saúde é ignorada por muitos planejadores e tomadores de decisão sobre políticas públicas, como acontece com a “Lei de Responsabilidade Fiscal” (LRF), a lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, que atinge duramente a administração pública ao fixar um teto orçamentário, para os municípios, de 54% para gastos com pessoal. Esse teto também existe para a União e os estados/o Distrito Federal, de 37,9% e 49%, respectivamente. Mas a União e os estados/DF, como não são a base operacional do SUS, não sentem tanto os efeitos perversos da LRF.
Para fugir, ou tentar fugir, dessa restrição, muitos municípios optam por terceirizar o SUS e fazê-lo por meio de OSS vem sendo a opção preferencial. Questionado em 1998 sobre a legalidade dessa solução por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 1.923, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 16 de maio de 2015, que é constitucional que recursos públicos sejam transferidos para organizações sociais. Por 7 votos a 2, os ministros entenderam que entidades da área de saúde e educação, por exemplo, podem receber dinheiro do governo para auxiliar na implementação de políticas nas áreas em que atuam. A decisão do STF encerrou um debate que se estendeu por quase duas décadas. Para o STF, basta que os entes federativos observem, em suas relações com OSS, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para ações da administração pública, direta ou indireta. A decisão reiterou as competências do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União (TCU) para fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos às OSS. O Acórdão relativo à ADI n. 1.923 afirma que as relações público-privadas devem ser regidas por “contrato de gestão” e que “por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar”.
As leis 13.019, de 31 de julho de 14, e 13.204, de 14 de dezembro de 2015, atualizaram o marco regulatório das parcerias entre a administração pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e definiram parceria como um
[…] conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação (art. 2º, III).
Essas leis definem também o que são “atividades” (art. 2º, III-A) e “projetos” (art. 2º, III-B) no contexto das relações público-privadas. Para o STF, e de acordo com as leis 13.019 e 13.204, OSS podem “executar atividades e projetos”, mas não se constituem em instâncias competentes para atuar como “gestoras” do SUS. Isso decorre do fato, elementar, de que uma OSS não pode ser, simultaneamente, executora (de atividades e projetos) e agir como órgão de controle e fiscalização. Portanto, controlar e fiscalizar o cumprimento dos termos dos contratos de gestão cabe ao Estado, ou seja, ao SUS, em conformidade com o modelo de governança federativo por ele desenvolvido e nos marcos da Constituição Federal de 1988 e a legislação vigente. Mas, na imensa maioria dos municípios brasileiros, o SUS se depara com enormes dificuldades para exercer plenamente suas competências regulatórias, vale dizer, de fiscalização e controle.
Não obstante, o que as OSS significam para o controle público que a sociedade deve exercer sobre o SUS? As OSS seriam a melhor opção para organizar um sistema de saúde como o SUS? O que significa transferir dinheiro público para pessoas jurídicas de propriedade particular? Quem são essas pessoas jurídicas, em cada localidade?
OSS são um “jeitinho” de contornar a LRF. O “jeitinho” seduz SUSistas (aqueles que de fato agem para viabilizar o sistema) e SUScidas (aqueles que desde a criação do SUS o sabotam sempre que podem). Mas um sistema como o SUS pode ser gerido com base em “jeitinho”? Com serviços e trabalhadores precarizados? Que tipo de edificação social se constrói com base em tais “puxadinhos” organizativos?
O discurso e as análises sobre gestão do SUS acabam, por vezes, sendo truncados em razão do uso superficial ou mesmo inadequado de termos que na linguagem coloquial assumem muitos, e até mesmo opostos, significados. Alguns desses termos são analisados em outros capítulos deste livro, mas aqui é indispensável falar de estatal, público, privado, particular e privativo sob a perspectiva da área de gestão em saúde – reconhecendo, decerto, que há muitos significados para esses termos, em diversas disciplinas e áreas de conhecimento. Na área de gestão, as dimensões da “propriedade” e do “tipo de uso” são muito importantes para a adequada comunicação do conteúdo que se pretende transmitir. Assim, os termos “estatal” e “particular” remetem à dimensão da propriedade, pois é a propriedade que é estatal ou pertence a algum particular. Mas, para a gestão, além da propriedade importa, e muito, o tipo de uso que se faz da propriedade e do que ela produz, que pode ser público, privado ou privativo. O uso de algum recurso, bem ou serviço pode ser público para a propriedade particular (um hospital qualquer, por exemplo), pois independentemente de “quem é o dono”: qualquer cidadão pode, segundo regras públicas e amparadas em legislação, ter acesso e fazer uso do referido recurso. Mas o uso pode ser privativo para a propriedade estatal (um hospital militar, por exemplo), pois embora a propriedade seja “de todos”, por meio do Estado, para ter acesso e fazer uso do referido recurso, um cidadão precisa atender a requisitos específicos, que o tornam privativo. É o caso do hospital militar deste exemplo: para usufruir dos benefícios que presta, o usuário precisa ser militar ou dependente. Em plena pandemia de covid-19, por exemplo, com escassez de leitos para internação de doentes graves, hospitais militares se recusaram a internar não militares e não dependentes.[6] É por isso que, no âmbito da gestão, o oposto de estatal não é, necessariamente, privado, mas particular, pois é isso que diz respeito à forma que a propriedade assume. Há, também, propriedades estatais que deveriam ser de uso público, mas que acabam sendo apropriadas por usuários privados, como é o caso de alguns trechos de praias, ilhas fluviais e marítimas que, ilegalmente, são ocupadas por poderosos que se valem dessas propriedades do Estado como se fossem propriedade particular e que as tornam de uso privado e até mesmo privativo, ou exclusivo. O SUS é, por definição, um sistema do Estado brasileiro. Nesse sentido, ele é estatal. Mas, como se sabe, o SUS é uma organização complexa, que se constitui em rede, comportando e articulando serviços cujas propriedades podem ser estatais ou particulares. As ações e os cuidados prestados são, contudo, sempre, de acesso e uso públicos, segundo regras e normas operacionais.
Mais recentemente vem se intensificando o debate sobre a necessidade de se criar instrumentos que tornem viáveis instâncias regionais de gestão do SUS, que se ocupem de redes de atenção e outros problemas de gestão impostos pela integralidade do cuidado e o enfrentamento dos gargalos relativos à atenção secundária e terciária, em situações que envolvem, necessariamente, conjuntos de municípios. O Brasil conta com cerca de quinhentas regiões que podem e devem operar como polos regionais de saúde que requerem a estruturação de órgãos igualmente regionais de gestão, envolvendo autoridades sanitárias da União, estados e seus respectivos municípios e a representação dos conselhos municipais de saúde das cidades que compõem essas regiões. Este é um problema estratégico de gestão que ultrapassa, em muito, a “solução-puxadinho” representada pelo “jeitinho” das OSS. Para que as OSS éticas e efetivamente sociais possam participar do SUS, contribuindo para desenvolvê-lo, é indispensável que sua atuação fique restrita à assistência à saúde e que os serviços por elas gerenciados se constituam em espaços de formação e atualização profissional, como locais de estágios curriculares e especialização. Mas muitas OSS vêm avançando sobre a área de gestão e extrapolando suas atribuições e competências. Com isso, causam problemas e ampliam as dificuldades de gestão do sistema. Para conter essa tendência, em que OSS passam a agir como empresas em uma espécie de “mercado público da saúde”, o Congresso Nacional precisa produzir legislação complementar sobre a gestão do SUS, de modo a preservar e assegurar seu caráter sistêmico e conter a fragmentação e a desorganização que a voracidade de OSS-empresas vem impondo ao SUS.
Uma importante distinção entre “gestão” e “gerência”, feita pela Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/1996), ajuda a compreender por que OSS não podem assumir a gestão do SUS em diferentes âmbitos. Para a NOB-SUS 01/1996, “gerência” diz respeito à “administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.) que se caracteriza como prestador de serviços ao SUS”. Mas “gestão” é muito mais do que isso, muito mais do que gerência, pois corresponde à
[…] atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional) mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. São, portanto, gestores do SUS os secretários municipais e estaduais de Saúde e o ministro da Saúde, que representam, respectivamente, os governos municipais, estaduais e federal.
Muitos municípios que têm constitucionalmente a missão de comandar o SUS no seu âmbito não estão dispostos, por várias razões, entre as quais a precariedade da administração direta a fazer a gestão do sistema. Muitos sequer dão conta da gerência dos serviços públicos de saúde. Por essa razão, tem sido aventada a possibilidade de serem criadas instituições que proporcionem ao SUS condições adicionais para cumprir sua missão constitucional. Fala-se, por exemplo, em criar uma autarquia federal, com diretoriais regionais que cumpram essa função de apoiar os municípios e as regiões de saúde em que estão inseridos a melhorarem o desempenho na gestão do SUS. Isto inclui, dentre outras funções de apoio, a gestão de uma Carreira de Estado do SUS, interfederativa, para profissionalizar os trabalhadores do SUS, superando a precarização e o amadorismo que vêm caracterizando o trabalho no SUS em muitos municípios.
Desde a criação do SUS, está aberto o debate sobre a necessidade de se criar e consolidar uma Carreira Nacional do SUS, com os trabalhadores da saúde vinculando-se efetivamente ao sistema e não a esta ou aquela prefeitura, a este ou aquele governo estadual, a esta ou aquela OSS. Mas atualmente são prefeituras e governos estaduais, ou OSS, que pagam os salários desses profissionais, que se sentem, na maioria das vezes, “funcionários da prefeitura” ou da OSS, e não do SUS. Por outro lado, prefeitos e governadores fogem dessa conversa sobre Carreira de Estado do SUS “como o diabo foge da cruz”, conforme diz o ditado popular. Este é outro problema estratégico de gestão, crônico, que também ultrapassa, em muito, a “solução-puxadinho” representada pelo “jeitinho” das OSS.
Segue tendo apoio de muitos cidadãos, gestores e profissionais do SUS a perspectiva de um sistema universal de saúde cujos serviços sejam, integralmente, de propriedade estatal. Mas a ideia de um SUS 100% estatal é vista com desconfiança, também, por muita gente. Há quem tema que isso faça perder os esforços autenticamente filantrópicos e a perspectiva caridosa que mobiliza muitas pessoas e as coloca em ação para fazer o que consideram ser o bem. São pessoas honestas, dizem – e com razão. Sentimentos variados mobilizam seres humanos para a ação em defesa de outros seres humanos ou causas que lhes pareçam justas. Pessoas assim se organizam em entidades filantrópicas e fortalecem o chamado “capital social” em cada comunidade. Não há motivos, em princípio, para que entidades com tais características não possam se relacionar formalmente com instituições do SUS e participar do sistema, assumindo a gestão de serviços próprios, com objetivos específicos, nos termos da legislação e sempre sob controle dos órgãos de Estado e de conselhos e conferências de saúde. OSS éticas são compatíveis com os princípios e diretrizes do SUS.
O que é essencial no SUS desde as lutas que lhe deram origem, na segunda metade do século XX, é a rejeição ética da transformação de cuidados de saúde em mercadorias e a desvinculação da saúde do conjunto de ações intersetoriais e políticas econômicas e sociais que devem produzi-la no interior da sociedade, não a reduzindo a um fenômeno meramente biológico e individual.
Para o movimento da Reforma Sanitária e o ideário do SUS, a produção de ações e serviços de saúde, nesse âmbito, deve estar sempre sob total controle público, em processos gerenciais compatíveis com a gestão compartilhada por usuários, trabalhadores da saúde e autoridades sanitárias nomeadas por detentores de mandatos escolhidos democraticamente e com orçamento participativo. Todos os recursos do SUS, em cada território e em cada instituição que integre o sistema, devem ser publicizados pelos canais competentes e aplicados com transparência e sob gestão participativa. Sem que esses requisitos sejam atendidos, qualquer privatização (ou estatização) não assegura que o sistema seja, de fato, estatal, público e com participação da comunidade, conforme determina a Constituição de 1988.
[1] CEBES, 1980.
[2] CEBES, 1980.
[3] COTTA, R. M. M. et al. O controle social em cena: refletindo sobre a participação popular no contexto dos conselhos de saúde. Physis, v. 21, n. 3, p. 1.121-1.1372, 2011.
[4] NARVAI, 2018.
[5] GODOY, M.; FILHO, V. H. PCC usa rede de empresas para se infiltrar em prefeituras de ao menos três Estados. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 2020.
[6] SASSINE, V. Hospitais das Forças Armadas reservam vagas para militares e deixam até 85% de leitos ociosos sem atender civis. Folha de S.Paulo, 6 abr. 2021.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras