Criando o que já existe
Na saúde, Marina Silva quer dividir o país em 400 regiões (o que existe desde 2011) e compartilhar a gestão do SUS com o setor privado
Publicado 02/10/2018 às 14:31 - Atualizado 27/09/2019 às 09:43
02 de outubro de 2018
Por Maíra Mathias, do Outra Saúde
Marina Silva (Rede) é a candidata que mais desidratou na corrida à Presidência da República nessas eleições. Segundo a pesquisa Ibope, ela começou a campanha com 12% das intenções de voto. No último levantamento do instituto, divulgado ontem (01/10), chegou a 4%. Quem entende do assunto afirmava que a considerável intenção de votos do início tem a ver com um fenômeno conhecido como recall, em que os eleitores citam como favoritos os nomes com que têm mais familiaridade. É o caso da ex-ministra do Meio Ambiente dos governos Lula. Marina disputou os dois últimos pleitos ao Planalto: em 2010 (pelo Partido Verde, legenda que indicou seu vice nesta eleição, Eduardo Jorge), quando obteve 19% dos votos no primeiro turno, e em 2014, quando cravou 21%, sendo ultrapassada na última hora pelo tucano Aécio Neves, com quem se aliaria no segundo turno.
A guinada política de Marina de quadro histórico do Partido dos Trabalhadores (PT) a cabo eleitoral do PSDB parece se consolidar em 2018. Questionada em diversos debates, ela justificou que todos escolheram um lado na disputa entre Aécio e Dilma Rousseff – e todos erraram. “Se fosse hoje, não apoiaria o Aécio”, disse na entrevista dada ao Jornal Nacional no fim de agosto. Já em entrevistas, ela tem afirmado que a vitória do PT foi “fraude eleitoral”, pois os partidos da coligação teriam se beneficiado de caixa dois na campanha. E se filiado à corrente que acredita que em 2016 não houve golpe. Argumenta: foi o PT quem colocou Michel Temer (MDB) no poder.
Nos últimos debates Marina demonstrou estar afinada com a estratégia dos candidatos da ‘meiuca’ e, junto com eles, tem procurado destacar os efeitos negativos da polarização “radical” no segundo turno entre o petista Fernando Haddad e Jair Bolsonaro (PSL). Para ela, nessas eleições, as pessoas estão votando segundo o “medo”, não de acordo com a “confiança” nos candidatos e na “esperança” de as coisas melhorarem. Antes, seu mantra era que os políticos que criaram os problemas atuais não serão capazes de resolvê-los.
Mix
A candidata apresenta um programa de governo próximo da socialdemocracia, com pitadas de desenvolvimentismo e neoliberalismo. Logo de início, o texto afirma que o Brasil deve assumir o papel de líder global, “principalmente no que diz respeito à qualidade de vida da sua população”.
Continua se colocando como novidade. “É momento de dar um basta na velha política – das alianças ‘toma lá, dá cá’ que visam proteger o poder de quem governa – e estabelecer uma aliança genuína com o povo brasileiro, com foco em suas reais prioridades”.
De cima a baixo, há uma promessa de renovação do pacto federativo, em que estados e municípios serão chamados para construir e planejar um conjunto de ações – e isso, sempre, está acompanhado da ênfase de que é preciso fazer parcerias com o setor privado.
Isso fica bem claro na parte que se refere a investimentos. O programa parte do princípio de que a gestão eficiente do orçamento federal será suficiente para fazer frente às promessas da chapa (mais dois milhões de vagas em creches, 2% do PIB para ciência e tecnologia, criação de uma renda mínima para o jovem, etc.). Diferente de outros candidatos que afirmam se identificar com um projeto democrático popular, Marina não fala na revogação da Emenda Constitucional (EC) 95. O setor privado parece ser a chave para ela.
“Ainda que os investimentos públicos permaneçam necessários, o envolvimento do setor privado é imprescindível. Devemos reconhecer as obrigações do Estado no âmbito do planejamento e regulação, e suas limitações no plano do financiamento e execução. Iremos mobilizar o potencial de contribuição do setor privado, sem subsídios ou artificialismos, em diferentes modalidades, como concessão, PPPs [parcerias público-privadas] e autorização”, afirma o programa na parte que se dedica a pensar como o Brasil se insere na “economia do futuro”. Com a saúde não é diferente.
Gestão compartilhada
“Todos cooperando” é o lema para a saúde. Por “todos” entenda-se não somente as esferas de governo – União, estados e municípios – e a sociedade, por meio das instâncias de participação do Sistema Único de Saúde (SUS) como conselhos e conferências. Mas também os serviços privados e as entidades filantrópicas. Ao que parece, Marina embarca na agenda de think tanks do setor privado que, desde 2014, se organizaram para incidir no debate eleitoral. Falamos delas com frequência: Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), Instituto Coalizão Saúde (Icos) e Colégio Brasileiro dos Executivos de Saúde (CBEx). Cada qual tem suas propostas, todas convergindo para uma mudança importante na governança do SUS: querem que as empresas e suas representantes definam o rumo das políticas de saúde.
“Nossa proposta é revolucionar a atual forma de gestão fragmentada e pulverizada substituindo-a por uma gestão integrada, participativa e verdadeiramente nacional. Para tanto, dividiremos o país em cerca de 400 regiões de saúde. A gestão será compartilhada entre a União, Estados e Municípios e envolverá as entidades filantrópicas e serviços privados. Representantes eleitos pela população dos municípios da região terão mandatos para participar da gestão”, diz o documento.
Vamos por partes. Em primeiro lugar, as 400 regiões de saúde no Brasil já existem. Portanto, não precisam ser criadas. Isso aconteceu há sete anos, por meio de um decreto assinado por Dilma no início do seu primeiro governo.
A gestão compartilhada também já existe. Foi, inclusive, uma das principais inovações do Sistema Único. Ela acontece por meio de colegiados e conselhos. No alto da pirâmide, digamos assim, ficam a Comissão Intergestores Tripartite, conhecida pela sigla CIT, que reúne representantes do Ministério da Saúde e dois órgãos criados especialmente para isso: o Conass, que reúne os secretários estaduais de saúde, e o Conasems, que representa os secretários municipais. Todos eles têm assento no Conselho Nacional de Saúde, onde também deliberam representantes de movimentos sociais, de entidades sindicais, instituições acadêmicas e científicas, etc. E do setor privado. Descendo, a estrutura se replica: a secretaria estadual de saúde e os secretários municipais deliberam numa instância chamada CIB, a comissão intergestores bipartite. E há conselhos estaduais e municipais de saúde.
Além dessas estruturas, a partir de 2011 o decreto de Dilma criou comissões que reuniriam os municípios de uma mesma região de saúde e estariam na base do processo decisório. E um instrumento legal para apoiar essas decisões: o contrato organizativo de ação pública, conhecido pela sigla COAP. De modo que se essas comissões regionais não estão funcionando, como aparentemente não estão, pode-se aprimorá-las ou revogá-las em nome de um novo arranjo. Mas é estranho simplesmente ignorar sua existência e tratar o assunto como novidade.
A ideia de aprimorar o funcionamento do SUS a partir de uma melhor governança não vem das empresas. Tem sido defendida, há anos, principalmente por dois pesquisadores. Gastão Wagner, da Unicamp, e Alcides Miranda, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS). O primeiro defende a criação de uma autarquia chamada SUS Brasil, o segundo um consórcio. Ambos são críticos forma como a gestão pública é porosa a interesses clientelistas, corporativos e – sim –, empresariais. Defendem a criação de uma instituição de Estado, desvinculada da agenda de governos, gerida por técnicos, em que os trabalhadores da saúde tenham uma carreira única, que permita sua distribuição país afora, com foco nas áreas remotas e periféricas.
Ao que parece, Marina misturou alhos com bugalhos e quer criar uma estrutura assim, gerida ao sabor de interesses locais e empresariais. “Somente a reformulação na gestão permitirá um SUS universalista no direito, mas aberto a uma prestação de serviços que combine órgãos públicos, privados e filantrópicos, orientado por metas e aprimorado por meio da constante avaliação de desempenho e qualidade”, diz seu programa de governo. Para a candidata da Rede, não existem conflitos de interesses entre empresas e sociedade. Mas uma conciliação em que todos os gatos, independente da cor, estariam “comprometidos com o que interessa de verdade: garantir o direito à saúde de qualidade para todos”.
O programa de Marina mostra algo que é constatado há muito tempo por analistas da saúde: é possível defender o SUS, mas a partir de uma polissemia que apague os princípios do sistema em nome da agenda das empresas. E a história dá voltas: o vice da chapa de Marina é Eduardo Jorge, um dos constituintes mais ativos na defesa da criação do SUS.
Marina, contudo, dá atenção à saúde. Tem, junto com Geraldo Alckmin (PSDB), a candidata que mais fala sobre o tema nos debates. Seu programa afirma que o SUS é “o maior programa de assistência gratuita e universal do mundo”, e elogia o Sistema como “uma política muito bem desenhada, mas sobrecarregada pelas características de um país de dimensões continentais e desigual”.
A saúde aparece em vários pontos do programa: na parte dedicada à primeira infância, à educação, ao saneamento básico, aos direitos humanos, às cidades sustentáveis… Em algumas com mais detalhes, em outros apenas como citação pontual.
O documento parte de um diagnóstico comum a outros programas de governo: a saúde é uma das principais preocupações do brasileiro, que enfrenta falta de médicos, longas esperas para exames e consultas, falta de leitos, dentre outros. E o desafio do país tende a ficar mais complexo, na medida em que a população for envelhecendo, já que temos uma tripla carga de doenças: por um lado, não superamos as infecciosas (dengue, tuberculose; e outras que foram surgindo, como zika, chikungunya, e se expandindo, como a febre amarela silvestre). Causas externas, que são resultado da violência nas cidades, no trânsito e doméstica. E crônicas não transmissíveis, como câncer e diabetes.
Segundo o programa de governo de Marina, nos últimos 30 anos o SUS “proporcionou avanços consideráveis de qualidade de vida”. Mas a candidata identifica uma “evidente estagnação e retrocesso” nos últimos dez anos. Ou seja, de 2008 – ainda no segundo governo Lula, quando entregou sua carta de demissão como ministra do meio ambiente –, para cá. O documento diz que houve “incompetência” para avançar, e cita como sintomas disso a “diminuição do ritmo de queda da mortalidade infantil” – que, na verdade, é o aumento do indicador em 2016. E na “incapacidade de diminuir a mortalidade materna”.
De olho nas mulheres
Na reta final da campanha, a principal tática de Marina para recuperar votos tem sido o apelo ao eleitorado feminino, parcela mais indecisa no pleito do próximo domingo. Elas correspondem a 52% do eleitorado. E, entre as mulheres, 27% não têm candidato – a maior parte (15%) pretende anular ou votar branco, segundo a pesquisa Ibope do dia 25 de setembro.
No sábado (29) foram elas justamente as protagonistas do maior movimento de massas já registrado em eleições contra um candidato único. Tendo como alvo Bolsonaro, o movimento #EleNão levou milhões às ruas em todo o país (embora não tenha sido devidamente televisionado). No debate da Record, que aconteceu no dia seguinte, foram dois homens – Alckmin e Boulos – os únicos a saldar a idas das mulheres para as ruas logo na primeira oportunidade.
Marina se dirigiu às mulheres diversas vezes ao longo do debate, como já tinha acontecido na quinta (27) no debate do SBT. Prometeu vagas em creches e que as mulheres terão atendimento à saúde sempre que precisarem.
Na seara dos direitos reprodutivos, é conhecida a posição da candidata contra a descriminalização do aborto. Seu programa de governo dá ênfase a ações preventivas mirando a gravidez na adolescência, oferta de contraceptivos e parto humanizado. Perguntada em debates sobre o tema, têm afirmado que poderia chamar um plebiscito para que a maioria decida.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

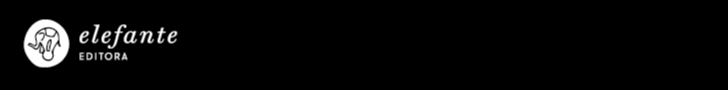
Um comentario para "Criando o que já existe"
Os comentários estão desabilitados.