Orientalismo: por que não enxergamos o Irã
Nas análises do assassinato de Soleimani — por detratores ou simpatizantes de Teerã — impera a ideia de povo arcaico, exótico e fundamentalista. Descrito por Edward Said, cacoete de estudar “Oriente”, com olhos coloniais, ainda persiste
Publicado 23/01/2020 às 19:07 - Atualizado 23/01/2020 às 19:11

A escalada nas tensões entre EUA e Irã causada pelo assassinato de Qassim Soleimani tem sido acompanhada pelo aumento na produção de textos sobre o Oriente Médio. Muitas destas análises que têm aparecido (e que aparecerão) estão marcadas por aquilo que o grande crítico literário Edward Said chamou de orientalismo. Isto torna particularmente oportuna a revisita a Said, em especial a seu clássico Orientalismo (Cia das Letras), mas também A questão palestina (Unesp).
Como indicam as duas citações que formam a epígrafe de Orientalismo, o orientalismo é fundamentalmente uma carreira acadêmica dedicada à representação de quem não é capaz de se representar. No início do século XIX, com as expedições napoleônicas ao Egito, surgiu a prática de enviar intelectuais àquela parte do mundo a fim de que produzissem conhecimento científico e erudito sobre o que havia ali.
A monumental Descrição do Egito, obra em vários volumes com contribuição de mais de uma centena de pesquisadores, é um modelo desta prática, pois compila conhecimento sobre geografia, botânica, costumes, arte, língua etc. encontradas nas terras islâmicas. Deste conhecimento compilado e transformado em texto, surgem duas coisas: uma representação do “oriental” e uma atitude nova para com ele.
O conhecimento apresentado na Descrição do Egito foi superado pelas gerações seguintes de orientalistas, mas a atitude que a anima permaneceu no ofício estruturando textos ao longo do tempo. A análise de Said revela esta atitude na voz pretensamente neutra que representa “o oriental” para os ocidentais, na pressuposição de que os orientais são incapazes de se representarem e na superioridade do estudioso com relação ao objeto estudado. Ao longo dos séculos, o orientalismo produziu um conjunto de textos marcados por esta atitude, textos dotados de autoridade científica em que toda a diversidade encontrada nas terras islâmicas era traduzida, editada, organizada e interpretada para o ocidente.
Neste processo, formou-se para o ocidente uma figura que aos poucos passou a ser familiar: “o oriental”. Esta abstração surgiu sob toda diversidade encontrada no Oriente Médio porque o orientalismo, como disciplina acadêmica, tinha como objetivo fundamental conhecer, a fundo, algo como uma essência oriental, ou seja, algo de imutável e a partir do que é possível explicar completamente “o oriental”.
O islã serviu de base para a formulação desta essência. Não o islã variado vivido pelos próprios islâmicos, mas um islã concebido como uma entidade eterna, sem diferenças internas, sem tensões e que não evolui. Ninguém duvida que o cristianismo do século XIX não é o mesmo praticado no século II, mas, aos olhos do orientalismo, o islã não passou por evolução nenhuma desde o século VII. Tomado como essência que se situa fora do tempo, o islã é tomado como algo capaz de explicar todas as ações do “oriental” no tempo e no espaço, capaz também de dissolver as diferenças entre árabes, persas, bérberes, turcos, curdos, e mesmo as diferenças entre muçulmanos e cristãos que vivem no Oriente Médio: são todos essencialmente seguidores de Maomé, e as demais características são detalhes pouco importantes.
Explicado sempre a partir do islã — deste islã eterno — “o oriental” é representado para o ocidente como um tipo de ser humano incapaz de evoluir no tempo, de se modernizar. Além disto, por ser definido a partir de uma religião, “o oriental” é irracional, misterioso, de modo que é sempre por esta via que melhor se conhece sua ação.
O saber erudito sobre “o oriental” não extrapolou muito os círculos de especialistas, mas a atitude geral transbordou para a sociedade e para a cultura por meio de artistas e das relações políticas conduzidas no período colonial e imperialista. A figura do oriental exótico, misterioso, pouco civilizado, dado às sensualidades e incapaz de agir racionalmente aparece na obra de grandes artistas; sobretudo em franceses como Flaubert, Lamartine, Chateubriand.
No plano político, a atitude para com “o oriental” se concretiza na forma da administração colonial e imperial, que subjugou o Oriente Médio brandindo o argumento da civilização contribuindo para o avanço dos atrasados. Esta forma de política não existe mais, mas deixou suas marcas ao “confirmar” a atitude geral diante do “oriental”, que insiste em recusar as evidentes benesses do progresso.
Agindo na política, na economia e na cultura, o orientalismo elaborou uma representação do “oriental” para o ocidente, e é por conta disto que todos nós, mesmo sem nunca termos pisado no Oriente Médio, “conhecemos” estes seres exóticos e meio bandidos, que andam de camelo, bebem pouca água e são incapazes de se modernizar. A impossibilidade de estabelecerem uma democracia, “sabemos”, se deve ao islã, que os prende no século VII e exige nossa intervenção para que possam, finalmente, evoluir e se desenvolver como humanos.
Esta representação do “oriental” marcada pelo orientalismo latente tem circulado com força nas análises que surgiram recentemente e certamente estarão presentes também em muitas que surgirão no esteio da nova crise que se anuncia.
Em um texto assinado por três jornalistas – dois americanos que vivem no Oriente Médio e um israelense – publicado no The New York Times(e traduzido pela Folha), há uma espécie de perfil de Qassim Soleimani, descrito como “mestre da intriga”, “sombrio”, “mestre da espionagem”. Aprendemos com o texto que ele esteve “por trás de mortes americanas”, atuou na inteligência do país alimentando a “força clandestina por trás da campanha iraniana de terrorismo internacional”. Ou seja, todas as ações de Soleimani se deram no âmbito do escondido, do oculto e do misterioso.
A inteligência militar normalmente trabalha em segredo e isto é raramente posto em questão; quando se trata de um “oriental”, no entanto, o segredo ganha ares de clandestino, inconfessável, misterioso. A inteligência militar “normal” trabalha para manter o Estado; a do “oriental”, trama para estabelecer o perigoso “poder xiita”.
Como acontece com todas as regiões do mundo, o Oriente Médio é cruzado por disputas e alianças econômicas, políticas, diplomáticas, culturais, geográficas. Parte muito significativa deste quadro é a intervenção de potências ocidentais em busca de seus interesses. Existem ali, como em todos os lugares, traumas históricos, lutas de classes, mudanças institucionais, geracionais, sociais, disputas entre setores econômicos e outros inúmeros fatores que compõem o Oriente Médio, mas são minimizados, ou mesmo ignorados em benefício da religião como fator explicativo. Soleimani agiu como agiu porque é um “oriental” e os orientais agem exclusivamente a partir de sua essência, ou seja, em função do islã.
Nem todas as análises aceitam o estereótipo de maneira tão grosseira quanto esta – o artigo de William Waack, por exemplo, não o faz. Mas é preciso notar que a atitude orientalista não está sempre associada ao ódio contra os “orientais”, pois ela também estrutura a visão de que pessoas simpáticas ao Oriente.
O especialista da Folha em Oriente Médio, por exemplo, é evidentemente simpático à região, mas abre um texto seu assim:
“Conscientes das consequências de matar o general iraniano Qassim Soleimani, os presidentes americanos George W. Bush e Barack Obama preferiram não agir durante seus mandatos. Sobrou ao imprevisível Donald Trump a decisão de cutucar a onça persa com vara curta.”
O parágrafo contém uma ideia absurda que é normalizada pela presença de um nome “oriental”. Vejamos como a simples alteração de nome explicita o desatino: “Conscientes das consequências de matar o general Hamilton Mourão, os presidentes americanos George W. Bush e Barack Obama preferiram não agir durante seus mandatos. Sobrou ao imprevisível Donald Trump a decisão de cutucar a onça brasileira com vara curta.”
Podemos ainda imaginar Bolsonaro e o delirante Ernesto Araújo matando um general venezuelano (em território equatoriano!) e teremos uma ideia do disparate que é assassinar um general de um país contra o qual não há declaração de guerra. Mas a frase sequer chama a atenção quando falamos de um general “oriental”, pois ele age exclusivamente motivado pelos arcanos do islã, que ameaçam a racionalidade, a civilidade, a democracia, e deve ser eliminado mesmo.
Ainda segundo a afirmação, a assassinato de Soleimani foi realizado pelo presidente “imprevisível”, mas era plausível e justificável à época de seus antecessores e só foi adiada pelas consequências geopolíticas que desencadearia. Ou seja, discute-se o momento do assassinato — ou da ação, para manter o eufemismo — mas a decisão de que o general iraniano é matável está acima de qualquer discussão.
Isto não é exatamente novidade na história das relações internacionais e a questão aqui não é exatamente esta, mas a naturalidade com que aceitamos uma ação como estas, quando praticada contra “orientais”. Não importa que os EUA não declararam guerra ao Irã, não importa que Soleimani estivesse no território de outro país (também “oriental”): importa apenas a eliminação do agente que tira seu perigoso poder das sombras xiitismo.
A possibilidade deste assassinato se sustenta na força bélica, mas muito de sua autoridade se sustenta na atitude geral do orientalismo em relação a seu objeto de estudo. A superioridade do cientista diante de seu objeto transborda para ações políticas e transforma em “evidência” a necessidade de assassinar alguém que coloca em prática o “perigo oriental”.
No processo de invenção do “oriental”, fica pelo caminho um traço importante na definição do que é um ser humano: a capacidade de falar. Nos dois textos aqui analisados, fala-se do “ponto de vista militar americano”, dá-se voz ao Mossad (!!), mas não se faz ouvir a voz de acadêmicos e jornalistas iranianos ou dos iranianos que não se alinham a Soleimani e nem adotam “o ponto de vista dos EUA”. As poucas vozes iranianas consultadas surgem apenas para confirmar aquilo que cabe no orientalismo, ou seja, que “os orientais” apoiam Soleimani pelo valor religioso de sua atuação. Estas vozes são, no fundo, inúteis, pois apenas expressam a eterna devoção religiosa, irracional e arcaica que define “o oriental” e já está devidamente explicada há muito tempo pelos especialistas.
Neste contexto, o adjetivo “terrorista” é elemento importante porque ele “confirma” a ciência orientalista. Se “o oriental” é essencialmente religião e muito do terrorismo se apresenta como religioso, fica fácil apresentar o islã como essencialmente terrorista e, consequentemente, todo oriental como terrorista em potencial. Política, economia, disputas internas, problemas institucionais são desnecessários quando se pode simplesmente afirmar que “o oriental” é, por essência, um fundamentalista em potencial.
Ao assassinar um general iraniano em território iraquiano, os EUA quebraram protocolos diplomáticos e é provável que tenham cometido um ato de guerra. Qualquer Estado, ao sofrer um ato de guerra, responde à agressão de acordo com as forças bélicas, diplomáticas, econômicas ou políticas de que dispõe, e é isto o que o Irã promete fazer. Atualizando a atitude orientalista, as análises já estão atribuindo a resposta à índole fanática e pouco civilizada desta gente pouco afeita à diplomacia.
Evidentemente, não deve haver ilusões quanto à pureza do coração de Soleimani. Criticar a fabricação deste duelo entre mocinhos e bandidos não equivale, em absoluto, à inversão das posições no duelo, mas à recusa de dividir o mundo desta forma. Se olharmos para Soleimani sem o orientalismo latente, ele não parece muito mais bandido do que, por exemplo, Michael Flynn, membro do alto escalão da inteligência do exército americano, com serviços prestados na invasão americana do Iraque e do Afeganistão.
Segundo os dois textos referidos acima, as ações de Soleimani na inteligência militar resultou na morte de 700 militares americanos, número infinitamente menor do que as mortes militares e civis decorrentes das invasões de que Flynn participou como membro da inteligência. Flynn, ademais, se declarou culpado (guilty plea) por mentir ao FBI no caso da intervenção russa nas eleições de 2016 e exerce grande influência sobre o presidente Trump, que autorizou o assassinato de Soleimani. Olhando para as ações de ambos sem a lente orientalista, a divisão entre bandidos e mocinhos se torna, não apenas ridícula, mas uma ferramenta na luta pelas mentes nesta guerra imperial.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
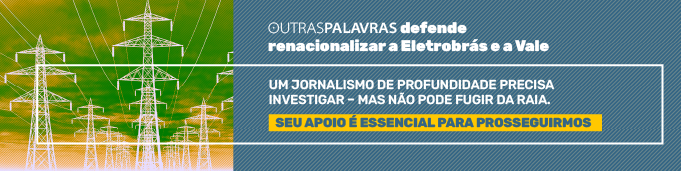

O ser humano não pensa por si mesmo e disto resulta se comportar a humanidade como uma grande manada seguindo o berrante dos meios de comunicação dos ricos donos do mundo. Algum gato pingado que se dedica a estudar e aprende esta verdade fica tão diferente das demais pessoas que se vê isolado e sem ter com quem se comunicar porque a malta de eternos festeiros e apreciadores de igreja, “famosos” e “celebridades” está a anos luz de distância de quem aprende apenas rudimentos do que nos ensinaram os Grandes Mestres do Saber. Causa mal-estar e mesmo sofrimento constatar que a juventude só pensa no futuro em termos de estabilidade econômica, atitude burra da qual resultará muita infelicidade depois do inevitável esgotamento do vigor físico. Trabalhar em prol de uma sociedade justa e equilibrada, o que dispensa os bilionários avarentos, como nos ensinam os grandes pensadores, é muito mais importante do que cuidar para ter paz individual no futuro.