A nova face do conflito EUA x Irã
Reduziu-se escalada bélica, mas seguem as hostilidades. Casa Branca aprofunda sanções que, desde 2018, asfixiam economia iraniana. Em resposta, Teerã aposta em constante fustigamento, para expulsar tropas dos EUA do Iraque
Publicado 14/01/2020 às 19:21 - Atualizado 14/01/2020 às 20:37

Por Alberto Rodríguez García, no RT Noticias | Tradução: Ricardo Cavalcanti-Schiel
Em 4 de janeiro de 2020 as Forças Quds içaram sobre a mesquita Jamkaran, de Qom, pela primeira vez na história, a bandeira vermelha da vingança do Imam Hussein (Ya la-Tharat al-Hussain). Os homens da unidade mais importante da Guarda da Revolução Islâmica do Irã, encarregada de defender os interesses da República no exterior através da guerra não-convencional, juravam não arriar a bandeira até vingar o assassinato do seu comandante, Qassem Soleimani, por parte dos Estados Unidos.
Segundo o primeiro-ministro iraquiano em exercício Abdul Mahdi, Soleimani estava no Iraque para se reunir com ele; na intermediação de um possível acordo entre Irã e Arábia Saudita, visando reduzir a tensão na região, presumivelmente no Iêmen [e a pedido dos Estados Unidos]. Mahdi se reuniria com Soleimani na manhã seguinte ao seu assassinato.
Mesmo que na madrugada de 7 de janeiro o Irã ― invocando o direito à vingança que seria justificada pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas ― tenha lançado um potente ataque com pelo menos 15 mísseis balísticos contra bases norte-americanas em território iraquiano durante a “Operação Mártir Soleimani”, a bandeira da vingança continua tremulando no alto da mesquita Jamkaran. Isso porque, apesar das declarações institucionais para reduzir a tensão e pôr fim à crise, as Forças Quds sabem que não vingaram ainda a morte do seu mártir e que o conflito continuará, mas agora na forma de guerra assimétrica, que os persas vêm aperfeiçoando desde a Revolução Islâmica de 1979. Para entender esse fato, devemos primeiro entender os porquês da recente crise e quem são os atores envolvidos.
O ponto de inflexão
Irã e Estados Unidos chegaram ao ponto limite. A campanha de sanções econômicas contra o Irã, que vem caracterizando o governo Trump, deixou a República Islâmica numa situação econômica muito delicada, que acaba resultando na piora da qualidade de vida dos seus cidadãos e provocando, em consequência, instabilidade política no nível interno. É por isso que em outubro de 2019 as milícias iraquianas pró-Irã iniciaram uma campanha de fustigação contra “a Coalizão” da OTAN liderada pelos Estados Unidos no Iraque. Essa campanha consistia em ataques pontuais contra posições norte-americanas que, apesar de não deixar baixas, tornavam progressivamente insustentável a presença de forças dos Estados Unidos no país árabe, em um momento particularmente complicado.
O ponto de inflexão chegou na sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Kataeb Hezbollah, uma das milícias xiitas, atacou com foguetes uma base dos Estados Unidos em Kirkuk, matando um contratado iraquiano com nacionalidade norte-americana.
Os Estados Unidos responderam ao ataque bombardeando múltiplas bases do Kataeb Hezbollah no Iraque e na Síria. Mesmo tendo eliminado um importante comandante do grupo, a manobra, longe de dissuadi-los, provocou a mobilização de iraquianos que entraram na Zona Verde de Bagdá e assaltaram a maior embaixada dos Estados Unidos no mundo, relembrando o trauma de Benghazi em 2012.
Em Washington, desesperavam-se à medida que o cerco fechava. Se as milícias iraquianas simpáticas ao Irã não fossem enfrentadas, os Estados Unidos iam acabar tendo que deixar o Iraque. Na noite de 3 de janeiro de 2020, Donald Trump deu a ordem mais intempestiva e com piores resultados de toda sua presidência: era preciso assassinar Qassem Soleimani, o homem mais importante do Irã junto ao líder supremo Ali Khamenei. Com Soleimani, o drone que os Estados Unidos enviaram assassinou também outros altos comandantes iraquianos, entre eles Abu Mahdi al-Muhandis, o segundo na linha de comando das Unidades de Mobilização Popular.
As Unidades de Mobilização Popular (com destaque para a Kataeb Hezbollah e a Asa’ib al-Haq) são forças iraquianas mas com significativo vínculo ideológico pró-iraniano ― nem todos os grupos, é verdade, pois sua estrutura é vertebrada antes de tudo pelo nacionalismo iraquiano ― e uma reconhecida relação com o governo do Irã. Com efeito, mesmo que nem todos os grupos que conformam as Unidades de Mobilização Popular (PMU) sejam pró-iranianas, seu antigo porta-voz, Ahmed Jassim al-Asadi, é agora o representante, no parlamento iraquiano, da Aliança Fatah das milícias vinculadas a Teerã.
O apoio, armamento e assessoria a essas milícias permite ao Irã agir, enquanto assegura para o seu lado aquilo que a CIA costuma alegar a seu favor nas suas operações encobertas: a tal “negação plausível”. Assim, os Estados Unidos são atacados indiretamente por meio de uma guerra assimétrica. O objetivo iraniano era manter uma fustigação constante sobre as forças norte-americanas até, de fato, expulsá-las do Iraque. Esse era o sonho de Soleimani. Assim, os Estados Unidos decidiram atacá-lo diretamente, na expectativa de impossibilitar que a República Islâmica continuasse se aferrando à “negação plausível”. A estratégia, no entanto, parece ter falhado, na medida em que acabou fazendo com que atores antes não alinhados ao Irã, como o líder religioso Moqtada al-Sadr, acabassem se alinhando taxativamente contra os Estados Unidos. Dessa forma, o parlamento iraquiano aprovou incontinente, com o apoio da coalizão Saairun (de Moqtada al-Sadr) e da Aliança Fatah (de Hadi al-Amiri), a expulsão formal do país das forças norte-americanas. Nesse sentido, a partir de agora, as milícias pró-iranianas podem esgrimir o argumento legal de defender a soberania do país, para expulsar dele a Coalizão militar ocidental.
Seguindo sua lógica da guerra assimétrica, o Irã realizou o ataque da noite de 7 de janeiro, simultaneamente ao enterro de Qassem Soleimani. Era preciso, de acordo com a filosofia da honra, que tanto influencia a mentalidade persa, responder logo ao assassinato do seu general por parte dos Estados Unidos, em parte para lançar uma mensagem ao mundo e em parte como propaganda interna. Nessa madrugada, choveram quase duas dezenas de mísseis balísticos iranianos sobre as bases norte-americanas de Al-Assad e Erbil, localizadas em solo iraquiano. Foi, no entanto, um ataque muito controlado e de grande precisão, para demonstrar a capacidade do programa iraniano de mísseis [o mesmo que pode destruir quaisquer forças navais norte-americanas que se aproximarem do litoral do país e do estreito de Ormuz] sem que houvesse maiores probabilidades de atingir pessoal e produzir grandes baixas (os ataques foram lançados sobre hangares e prédios de abastecimento). Em se acreditando nas autoridades norte-americanas, não houve feridos nos ataques. Isso permitiria ao “regime dos aiatolás” cumprir a promessa de atacar os Estados Unidos a partir de território iraniano para vingar Soleimani, mas também facilitava ao governo dos Estados Unidos não responder e baixar a tensão, evitando o círculo da ação-reação-ação… e a guerra total.
Assim chegamos a 8 de janeiro de 2019. Depois do sepulcral silêncio de Trump durante e após o ataque noturno iraniano, o presidente dos Estados Unidos apareceu no dia seguinte para pôr fim à possibilidade de uma escalada bélica total. Na sua declaração à mídia, anunciou novas sanções contra o Irã ― algo de se esperar e já sem maiores impactos, levando em conta que desde 2018 o país vem sendo asfixiado economicamente ―, mas também afirmou que “não quer utilizar suas armas contra o Irã”, transparecendo que, no momento, não haverá uma resposta militar.
O Irã aproveitou a necessidade de responder rápido para testar como o gabinete de Trump reage, e isso parece ter acabado por produzir o que se esperava, deixando razoavelmente evidente que, apesar da fanfarronice, o governo Trump hoje se dispõe a agarrar a primeira oportunidade de frear uma escalada bélica. Mesmo que Donald Trump tuitasse no dia 4 de janeiro que “se o Irã atacar qualquer americano ou ‘ativo americano’, temos 52 objetivos marcados” e que “atacaremos rápido e forte”, a realidade demonstrou, quatro dias depois, que essas ameaças podem ser não mais que palavrório sem credibilidade, um espetáculo, um blefe à medida de uma hollywoodinização da política. Apesar da superioridade militar e econômica norte-americana diante do Irã, a realidade é que os “soldadinhos de cáqui” não estão preparados para resistir a uma guerra de fustigamento. Mais do que isso, se o Irã responder com todas as possibilidades disponíveis, a última coisa que se veria seria a assinatura iraniana, uma vez que ele pode atacar em outros cenários como Iêmen, Afeganistão, Síria, Líbano e Iraque.
É por tudo isso que a redução da tensão e o fim de uma escalada não significam, de forma alguma, o fim das hostilidades. Deve-se ter em conta que as tentativas de aproximação entre Teerã e Washington, iniciadas em 2013 até chegar a seu ápice em 2015, com o estabelecimento do Plano de Ação Integral Conjunta (JCPOA), foram definitivamente perdidas com a saída unilateral do acordo por parte dos Estados Unidos, em maio de 2018. Com a campanha de sanções da Casa Branca cada vez mais agressiva, uma solução diplomática para essa guerra fria pós-moderna parece improvável, sobretudo diante da incapacidade da Europa de se adaptar para nadar entre as duas correntes em que se encontra. E reitere-se que uma solução parece improvável porque, da forma como vão as coisas, amanhã pode ocorrer qualquer ação imprevisível.
A resposta que vimos entre 7 e 8 de janeiro serve para o Irã falar de “vingança pelo martírio de Soleimani”, mas as milícias xiitas do Iraque ainda estão atrás da sua vingança por Abu Mahdi al-Muhandis, seu comandante falecido no mesmo ataque a Soleimani. A crer nas palavras do líder da Hezbollah, Hassan Nasrallah, e da Resistência Islâmica, de fato, a vingança não se cumprirá até que os Estados Unidos sejam expulsos do Oriente Médio.
E quem são as Unidades de Mobilização Popular (PMU) (em árabe, Hashd al-Shaabi)?
É preciso voltar a junho de 2014. O exército iraquiano, mal equipado e desmoralizado, viu-se incapaz de fazer frente a um Estado Islâmico que avançava de forma fulminante, tomando as cidades de Faluyah e Samara. Os soldados iraquianos foram incapazes de deter o grupo terrorista que tomou Mossul em menos de uma semana. Parecia que o próprio Iraque estava perdido e que os extremistas poderiam chegar a capturar até mesmo Bagdá. Foi então que o Grande Aiatolá Ali Sistani emitiu uma fatwa para criar as PMU. E elas só tiveram sucesso pelo papel chave que as estratégias do general Qassem Soleimani jogaram no terreno.
Longe do que se possa pensar, as PMU não são representantes do Irã, nem são exclusivamente milícias pró-iranianas. Trata-se de uma união de grupos de diversas tendências ideológicas, ao ponto de representar, à sua maneira, o estado atual da política e da sociedade iraquiana. Assim, quando os Estados Unidos assassinaram o comandante Abu Mahdi al-Muhandis, das Forças de Mobilização Popular, não estavam acabando com a vida de um terrorista; estavam matando um chefe militar iraquiano que comandou os primeiros soldados que conseguiram deter o Estado Islâmico no Iraque.
No meio de todo essa barafunda, a figura que acaba saindo mais reforçada é a do clérigo Moqtada al-Sadr, que se já se podia considerar um dos homens mais influentes do Iraque (junto com o aiatolá Sistani), agora está jogando suas cartas de forma maquiavélica para se apresentar como o único avalista possível da soberania iraquiana. No seu último comunicado, em que afirmava taxativamente que a crise havia terminado, exige do governo que volte a cumprir com suas funções, pede a expulsão das forças estrangeiras e solicita às milícias evitar ataques, convidando-as a fechar seus escritórios principais, para que não se tornem alvos e possam provocar outra escalada militar entre potências, disputada com sangue iraquiano.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
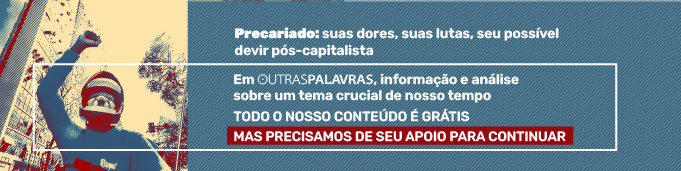

Há um fato que permeia esse episódio crucial do confronto EUA-Irã (o assassinato de Suleimani), que simplesmente não consta das análises mais substantivas, e que, justamente por isso causa espécie.
Trata-se do vazamento de relatórios atribuídos ao MOIS e publicados em 18 de novembro de 2019 pelo The Intercept em parceria com o NYT.
Os relatórios apresentam um retrato de um Suleimani cruel, inclusive contra aliados, indulgente com deveres religiosos e cultuando autopromoção com claros objetivos políticos.
Se verdadeiros os relatórios (e não parece haver negativa disso), por que o MOIS, ou parte dele, teriam interesse em “fritar” seu maior guerreiro?
E por que tal vazamento há poucos dias do seu assassinato?