Brasil: Quando a política precisa estar “fora da ordem”
Diante do fisiologismo do Congresso, Executivo não ousa, pois julga-se fraco. E todo embate dissolve-se dentro da institucionalidade. Com a crise do capitalismo, não seria tarefa de um governo popular fomentar conflitos “fora da ordem”, como dizia Florestan Fernandes?
Publicado 24/05/2024 às 16:44

“De nada serviria (…) trazer soluções ditadas pela boa vontade e imaginação de reformadores, inspirados embora na melhor das intenções, mas que, por mais perfeitas que em princípio e teoricamente se apresentem, não encontram nos próprios fatos presentes e atuantes as circunstâncias capazes de as promover, impulsionar e realizar”.
O trecho acima foi publicado há quase 60 anos, em A revolução brasileira, uma das grandes obras de Caio Prado Jr. A ideia que ele traz, porém, está longe de ser considerada ultrapassada, e cairia bem a todas as pessoas que desejam um novo rumo para o Brasil. Afinal, nunca conseguiremos escolher o caminho certo para trilhar se não sabemos nem mesmo de onde vamos partir.
Sem a pretensão de trazer alguma verdade absoluta, este artigo tenta fazer um diagnóstico aproximado da realidade social de nosso país nos dias de hoje. Mas também não é possível compreender em que pé estamos sem um pouco de história.
Mudamos para que tudo continuasse igual
Nesse sentido, é necessária a compreensão de que a burguesia brasileira aceitou assentar as suas bases em uma posição no capitalismo global que não fosse outra que não a do capitalismo dependente. Isso não significa ler a classe dominante brasileira como uma classe meramente subordinada aos interesses das burguesias de países capitalistas centrais.
Nas palavras de Florestan Fernandes, a dominação burguesa no Brasil vai se dar em uma “dupla articulação”, na qual “o desenvolvimento desigual interno e a dominação imperialista externa constituem requisitos da acumulação capitalista e de sua intensificação”. Em outras palavras, a elite brasileira tira seus lucros de um sistema econômico que se limita ao abastecimento das necessidades do centro global do capitalismo, mas que compensa esta posição subalterna com a superexploração de sua classe trabalhadora.
É aí que reside boa parte da construção histórica do Brasil, como, por exemplo, a abolição tão tardia do trabalho escravo negro. É aí também que podemos explicar a imigração branca do século 19, quando nosso país aceitou parte do excedente das “classes perigosas” de trabalhadores europeus, ao mesmo tempo em que o processo abolicionista evoluía sem ser acompanhado de políticas de trabalho, terra e moradia a nossa população negra, jogando-a a um exército industrial de reserva que possibilitaria um maior lucro de fazendeiros e industriais brasileiros na exploração do trabalho.
Também é neste ponto em que, num contexto de crise global do capitalismo que falaremos mais a frente, podemos explicar a nossa atualidade, em que a reforma trabalhista, a reforma da previdência e regimes fiscais que atacam os gastos no Estado social possibilitam a continuidade desta hiperexploração.
“Uberização”, “pejotização”, “precarização”, “austeridade”, “capitalismo de plataforma”, todos estes termos modernos fantasiam de inovação o que é uma realidade bem incomoda: os preceitos da divisão de trabalho no Brasil da atualidade não são tão diferentes daqueles que formaram o mercado brasileiro ainda no século 19.
Caio Prado Jr. dizia que havia quatro etapas principais para compreender o essencial da formação do Brasil moderno: a independência política, a supressão do tráfico africano, a imigração de trabalhadores europeus e a abolição do trabalho escravo.
Será que a “uberização” é realmente uma total inovação no sistema que daí se originou? Ou simplesmente maquia a sua intensificação? Qual é a cor destes trabalhadores subempregados andando de bicicleta com uma mochila nas costas? E qual é a pressão que este tipo de trabalho informal tem exercido no mercado de trabalho formal?
Todas estas pseudo-reinvenções do capitalismo se deram sobre uma mesma estrutura de produção: uma divisão racial do trabalho, construída pela marginalização do povo negro e pelo ideal supremacista de embranquecimento da população nacional, que permitisse um lucro baseado no máximo de exploração da classe trabalhadora, compensando a posição inferior do país no capitalismo global. Some-se à questão racial, ainda, a questão de gênero no trabalho doméstico não remunerado e na desvalorização dos trabalhos de cuidado.
Não estamos dizendo aqui que se deve desprezar todas as novidades de um mundo cada vez mais complexo. Mas também não é preciso reinventar a roda para compreender o capitalismo moderno brasileiro, pois o próprio também não a reinventou, só a aprimorou. Como também não se reinventaram as nossas elites, que seguem sustentadas entre o abastecimento das necessidades externas e a máxima exploração da desigualdade interna.
E é neste ponto que nos dirigimos a uma parcela específica da esquerda: para a realidade brasileira, não parece existir a possibilidade de um projeto nacional de desenvolvimento baseado na aliança trabalhadora com uma burguesia “nacionalista” ou “desenvolvimentista” pelo simples fato de que esta burguesia jamais existiu no Brasil.
Se há algo que representa bem a classe dominante brasileira é a frase do então presidente da Fiesp, Benjamin Steinbruch, em 2014: “você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda, comendo o sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita, e tem 15 minutos para o almoço, entendeu? E eu acho que se o empregado se sente confortável em poder, eventualmente, diminuir esse tempo, por que a lei obriga que tenha que ter esse tempo?”
Não há, nem nunca houve, na burguesia brasileira, um interesse coletivo em maximizar seus lucros através do desenvolvimento social e tecnológico do país ou da mudança de posicionamento brasileiro no capitalismo global. A burguesia brasileira sempre optou, e ainda opta, pelo lucro via aumento da exploração do trabalho, vide a reforma trabalhista e a “precarização”, o que obviamente impede qualquer aliança com a classe trabalhadora.
10 anos de ajuste fiscal
À exploração do trabalho, podemos somar, ainda, a ideia de cortes em gastos sociais, tão difundida como necessária no Brasil nos últimos anos. Se considerarmos a apresentação do plano de ajustes proposto por Joaquim Levy, então ministro da Fazenda, em 2015, passando pelo Teto de Gastos e pelo novo “arcabouço fiscal”, lá se vão quase 10 anos que nosso país se vê sob algum tipo de regime fiscal limitante.
Nesta lógica da austeridade como um mal necessário, o que vemos, de fato, é uma prática de cortes em qualquer setor que não represente um retorno privado imediato, como a previdência social, ou que seja uma indução à agenda privatista, como nos casos em que os cortes atingem setores básicos como a saúde e a educação. Também falamos, assim, numa lógica de maximização de lucros através do arrocho sobre a classe trabalhadora, usuária destes serviços.
Para piorar, a crise global aumentou a pressão externa pela imposição desta agenda, na tentativa de manter o sistema internacional de dependência capitalista. Talvez o que melhor represente essa questão no cenário global seja o relatório “Um Ajuste Justo”, publicado pelo Banco Mundial para o Brasil em 2017. Em sua receita de austeridade, ele chegava a propor que nosso país aumentasse o número de estudantes por sala e reduzisse o número de professores nas escolas.
A hegemonia deste discurso ultraliberal mostra suas piores consequências na realidade recente do país. A tragédia no RS, por exemplo, trouxe à tona os reduzidos (às vezes quase nulos) gastos públicos de municípios e governo estadual gaúchos com o que deveria ser considerado básico, algo que se reproduz por todo o país. Esta é a verdade que já devíamos ter aprendido ao menos com a pandemia, e que agora bate de novo a nossa porta: cortar gastos públicos é sinônimo de cortar no básico do dia a dia do povo brasileiro.
O que temos hoje, então, de forma generalizada, já que o gargalo orçamentário se inicia em nossa própria Constituição Federal, é uma máquina pública que se autolimita a fazer menos do que o básico. Traduzida na falta de serviços básicos, esta austeridade não tem um efeito único no humor da população. Diante da situação, há quem exija um incremento do Estado social. Contraditoriamente, porém, com a diminuição da confiança das pessoas em tudo o que é público e político, há quem apele para a defesa da privataria. No geral mesmo, apenas uma grande insatisfação popular que se concentra na classe política.
Este ultraliberalismo, porém, não se limita apenas à diminuição do Estado prestador de serviços. Ele também vem acompanhado da aniquilação do Estado administrador da economia. Por administrador, me refiro a algo bem maior do que a mera visão de um “Estado empresário”, que age no mercado através da competição com o setor privado, ou mesmo do que o Estado regulador, que coloca algumas fronteiras nas quase nunca respeitadas regras do jogo econômico.
O que temos visto no Brasil é a destruição ou o sucateamento dos mecanismos que possibilitam que o Estado possa definir os rumos da economia do próprio país.
Para além da velha lógica de “portas giratórias” e captura pelo setor privado das agências reguladoras, que nunca superamos, temos um Banco Central cada vez mais autônomo, podendo passar por cima de planos de governo eleitos. A Caixa, tão importante na construção civil brasileira, vem passando por anos de sucateamento na tentativa forçada de privatizá-la. Agora, junto com o igualmente importante BNDES, foi inexplicavelmente colocada sob o teto de gastos constitucional. Também não há explicação razoável, a não ser o rentismo, para que a Petrobras tenha operado por anos abaixo de sua capacidade de refino.
Apenas alguns exemplos para pintar a imagem da nossa realidade atual: a de uma máquina estatal que parece existir única e exclusivamente para manter vivo o “laissez faire” liberal. Em outras palavras, um Estado que só age para limitar a sua própria atuação. É o que fica muito explícito em medidas como a Lei de Liberdade Econômica, de 2019, que limitou a revisão de contratos pelo Judiciário ao estabelecer a presunção de que todo contrato é paritário e simétrico. Ou quando a reforma trabalhista expandiu o entendimento de que os acordos coletivos se sobrepõem ao legislado e limitou o acesso à Justiça do Trabalho.
Em suma, com pequenas variações de qual governo o ocupa, a situação estatal brasileira é a de submissão a uma lógica liberal radical de Estado mínimo, na qual amarras fiscais impedem o desenvolvimento de um Estado social e de um Estado condutor da economia nacional até mesmo a planos de governo que a isso se propuseram.
Os atores políticos
Como dito anteriormente, embora as respostas para isso variem, há muito sentimento de indiferença à ação política no Brasil. O que não significa que não haja grupos e conflitos políticos construindo a realidade do país. Quase todos eles são levados a instâncias institucionais, mas parece haver um desinteresse enorme da população na escolha de como compor essas instituições. O altíssimo “não-voto” (entre abstenções, votos nulos e brancos) nas disputas do Executivo só não são maiores do que o ainda mais esmagador “não-voto” no Legislativo.
Importante dizer, porém, que este não é um problema recente no Brasil, que sempre apresentou números parecidos na Nova República, tampouco é exclusivo do nosso país. E também é óbvio que nossa realidade política não se limita às instituições dos 3 poderes, mas é inegável que as grandes disputas da atualidade se deem nesse âmbito. Tanto é que, como veremos a frente, os esforços dos grupos políticos com maior influência na alteração da realidade brasileira são no sentido de ocupar esses espaços. A maioria destes grupos, hoje, é ligado à direita.
A esquerda brasileira também já teve seu movimento de organização para a ocupação da política. Talvez não seja exagero dizer que a formação do PT nos anos 80 é um dos fenômenos populares mais bem sucedidos da história do país quando falamos de organização política, e que resultaria em quatro mandatos presidenciais eleitos de forma consecutiva anos mais tarde.
O PT foi capaz de aglutinar os grupos que reuniam as maiores possibilidades, à esquerda, de transformação da realidade brasileira na época da redemocratização: os trabalhadores rurais, com destaque ao MST; os setores progressistas da Igreja Católica, em especial as CEBs e Pastorais; e o sindicalismo urbano que emanava do ABC paulista. Tudo isso garantiu uma capilaridade enorme ao partido nascente.
A questão é que a experiência histórica realizada pelo PT nos anos 80 não pode ser repetida como uma cartilha, pelo simples fato de que a sociedade brasileira já não é a mesma dos anos 80.
De lá pra cá, o Brasil se urbanizou ainda mais e o trabalhador rural deixou de ser a peça central da luta política do país, embora nossa economia ainda gire em torno do agrarismo. A sempre baixa sindicalização do país caiu ainda mais no cenário da reforma trabalhista, e hoje não atinge nem 10%. E a bancada evangélica é só a ponta de lança de um projeto político que pode ser visto a cada esquina do Brasil.
Os principais atores desta esquerda que se organizou na redemocratização foram tirados de cena. No cenário atual, a luta urbana contra a especulação imobiliária por um teto parece ganhar protagonismo em relação a luta rural contra o latifúndio pelo acesso à terra. Nas “pseudo-reinvenções” do neoliberalismo, vimos a luta por direitos trabalhistas perder espaço para distorcidas noções de empreendedorismo e flexibilidade no trabalho. Igualmente, no campo religioso, a teologia da libertação parece ter cedido para as teorias da prosperidade e do domínio. Some-se a tudo isso, ainda, duas décadas de campanha midiática contra organizações partidárias no sensacionalismo das coberturas do Mensalão e da Lava Jato e a militarização do cotidiano brasileiro.
Neste processo de tantas mudanças, importante notar que a Frente Parlamentar da Agropecuária, nome oficial da bancada ruralista, chegou aos números de 300 deputados federais e 47 senadores e, numa esmagadora maioria de partidos de direita, consegue ocupar mais da metade do Congresso Nacional. Juntos e misturados, destaque também para a Frente Parlamentar Evangélica (206 deputados e 26 senadores) e a Frente Parlamentar da Segurança Pública (256 deputados), formando a famosa Bancada BBB (bala, boi e bíblia).
Números que traduzem, de certa forma, uma máxima aqui já dita: mudamos para que tudo continuasse igual. Se a representação parlamentar de hoje é, na aparência, muito diferente daquelas oligarquias da República Velha, certo é que o projeto de capitalismo dependente que coloca o Brasil entre a desigualdade interna e o abastecimento do capitalismo central (baseado em uma economia agrária) continua a todo vapor.
Até mesmo uma política como as Campeãs Nacionais seguiu obedecendo a essa lógica, se analisarmos que uma boa parte destes investimentos públicos se destinou a indústrias ligadas ao agro (como frigoríficos e fábricas de celulose) e a empresas de infraestrutura que se subordinaram à lógica da privataria e da abertura ao capital estrangeiro.
Os subgrupos da Bancada BBB, neste sentido, mais do que se somam, se confundem, inclusive com membros em comum. Suas votações nas reformas que, como dito acima, foram na direção de diminuir o Estado social e administrador, coincidem no geral.
Assim, a soma das bancadas evangélicas e policiais ao projeto agrário de Brasil parecem ser mais apologéticas do que materiais. Em outras palavras, elas incrementam a defesa do tipo de capitalismo dependente brasileiro com um discurso ideológico de apelo moralista-religioso e toques de militarização.
Isto também não é novidade. Na verdade, é prática corrente de qualquer país que o interesse dominante tenha suas divisões, inclusive englobando representantes de classes não dominantes, desde que seus conflitos sejam mantidos “dentro da ordem”, para usar a expressão de Florestan Fernandes.
Tampouco é novidade que um modelo desses acabe degringolando para formas mais violentas de Estado. Marx mesmo já narrava em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte como, ainda no século 19, as elites francesas foram gradualmente abandonando princípios liberais mais radicais de democracia, almejando seus interesses de dominação política e econômica, ao permitir que castas cada vez mais autoritárias subissem em seus ombros, até uma efetiva militarização total do poder.
No capitalismo dependente, em que as utopias liberais de democracia já são deixadas de lado desde sua origem, formando-se uma autocracia burguesa dissimulada, nas palavras de Florestan, um “poder burguês em sua manifestação histórica mais extrema, brutal e reveladora”, esta escalada autoritária parece ser mais cíclica. É interessante como o autor explica, por exemplo, a aproximação entre burguesia e militares na ditadura como algo quase inevitável diante das características políticas do capitalismo dependente brasileiro.
O que nos leva à constatação de um traço que merece ser destacado nesta subdivisão parlamentar brasileira da atualidade: o aumento exponencial da presença de policiais, sobretudo militares, nas Casas Legislativas do país. É possível estimar pelo menos 109 policiais ou militares das FA entre senadores e deputados federais e estaduais no Brasil, sendo 47 deles ex-PMs.
Os fenômenos de milicianização das polícias, de aumento da autonomia policial em relação aos poderes civis, de usurpação de funções pela PM, entre outros, se inscrevem nesse contexto e parecem nos deixar próximos a mais um destes ciclos autoritários se cumprindo. Os principais atores políticos que ocupam os espaços de poder no país, infelizmente, estão à direita e cada vez mais extremos.
Não há, nem na nossa história, nem na atualidade pós-Bolsonaro, razões para acreditar que a burguesia brasileira não seja capaz de abrir mão de qualquer protagonismo político para uma nova “aventura” autoritária que mantenha a ordem na qual ela se sustenta: a da desigualdade interna combinada com o abastecimento das necessidades capitalistas externas.
O presidencialismo e os conflitos fora da ordem
Constatamos, até aqui, que o Brasil ainda é um país preso às características de seu capitalismo dependente e vive um momento em que praticamente todos os atores políticos com maior poder de mudar a realidade se posicionam em uma direita cada vez mais extremista, nos levando a um modelo de Estado cada vez mais debilitado em seus aspectos sociais e de administração da economia.
Com isso, uma boa parte da esquerda organizada tem enxergado seu poder de incidência na realidade social brasileira limitado à ocupação da Presidência da República nos últimos anos, além de ver o próprio poder presidencial como algo reduzido na atual correlação de forças. É preciso enxergar que há vida para além do Palácio do Planalto, mas também devemos relembrar que a Presidência da República não é pouca coisa em um país de tradição presidencialista como o nosso.
Parece que caímos no lugar comum da frase “mas também, com esse Congresso aí”, como se a correlação desigual de forças já tivesse decretado a morte do Poder Executivo Federal no Brasil. Enquanto isso, assistimos à briga entre o Legislativo e o Judiciário que, dentro da ordem, competem pelo poder de fato no país.
Qualquer recuo é lido como uma necessidade diante do eterno risco de impeachment. Qualquer protesto ou greve, nessa ressaca de 2013 da qual a esquerda até hoje não se recuperou, é visto como um perigo à fraca estabilidade do presidencialismo. E, ao invés de construir sua base nestas contradições de classe do Brasil, entende-se que o governo deve agir constantemente para apaziguá-las, sempre com benefícios ao lado mais forte para que se evite um novo golpe.
Seguindo esta postura, o governo pouco consegue aglutinar em torno de si.
Não nego, aqui, que Lula tem feito alguns esforços por um caminho contrário ao recolocar no debate público a necessidade de fortalecer o Estado social. Este, aliás, creio que seja um dos debates com maior poder mobilizador para a esquerda na atualidade brasileira, e é bom ver programas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida de volta à realidade. Não há melhora na economia que seja percebida pelo povo, com razão, sem a ampliação do Estado social. Mais que isso, ele é o motivo e a tradução de qualquer melhora econômica.
Por isso, não faz sentido que o próprio Governo queira pautar qualquer tipo de discurso ou proposta fiscalista que seja. Socialmente, economicamente, politicamente, em todos os sentidos, é um grande tiro no pé que pragmatismo político nenhum explica. Pragmatismo político não é uma cartilha pronta de bons costumes, nem um fim em si mesmo. Ele se mede por resultados e, ao que parece, o governo sabe que os seus não têm sido dos melhores aos olhos do público.
Mas o reconhecimento, pelo próprio governo, de que o presidencialismo perdeu sua força no jogo político brasileiro se torna uma “profecia autorrealizável”. O Poder Executivo não ousa, porque se julga fraco, e, ao não ousar, se enfraquece mais ainda. Como sair deste ciclo vicioso? É realmente um desafio tentar responder a esta pergunta, mas a resposta certamente não está no que vem dando errado.
Talvez, um caminho seja exatamente o contrário: abraçar as contradições, ao invés de apaziguá-las.
Em A revolução burguesa no Brasil, Florestan explica bem como a burguesia brasileira se construiu no país capitalizando exclusivamente os “conflitos faccionais”, de “dentro da ordem”, ou seja, monopolizando as disputas que são tidas como legalistas ou democráticas, até mesmo pelo fato da definição do que é legal e democrático ser feita por ela própria como classe dominante.
Nesse processo histórico, a classe dominante brasileira conseguiu para si até mesmo o direito de decretar a suspensão desta própria ordem para “salvaguardar a legalidade, a ordem democrática e os interesses do povo”. Caso mais patente em nossa história é a aliança das elites com os militares no golpe de 1964, o que vem tentando se reeditar por uma parcela burguesa do país com o bolsonarismo.
Ao mesmo tempo, nesta relação política em que apenas os conflitos de dentro da classe dominante foram tidos como legítimos, “os conflitos com as classes antagônicas, ao serem estigmatizados, postos ‘fora da ordem’ e sufocados por meios repressivos e violentos” também foram capitalizados por esta elite, na medida em que ela os utilizou para defender suas medidas de defesa da “estabilidade da ordem”.
Desta forma, faz sentido a um governo que se pretenda popular buscar uma transformação através apenas destes conflitos de “dentro da ordem”? Em termos mais concretos, em momento de turbulência, faz sentido tentar ser o mediador da busca de um falso equilíbrio entre os 3 poderes (falso, porque o equilíbrio só existe se uma agenda econômica específica for respeitada)?
Não me parece sensato que o papel de um governo popular, em meio a uma crise do capitalismo, seja tentar trazer os conflitos de “fora da ordem”, em outras palavras, os conflitos brutos de classe, para o terreno controlado da ordem. Ao invés disso, não seria, talvez, um caminho para romper o atual imobilismo justamente identificar e fomentar estes conflitos tidos como de fora da ordem?
Nesse sentido, já falamos aqui das mudanças em nossa sociedade que tiraram alguns dos atores políticos da esquerda de cena. Isso não impede que já tenham surgido outros. Há um potencial aglutinador enorme de movimentos negros e feministas no Brasil, ativos em comunidades, com capilaridade e força transformadora. Movimentos por moradia se organizam cada vez mais em uma multidão de pessoas que não acompanharam os benefícios da urbanização e, em meio à especulação imobiliária, têm de viver diariamente focadas na manutenção de um teto.
São demandas que passam por mudanças nas relações de trabalho e propriedade e batem frontalmente com a hiperexploração típica do capitalismo dependente brasileiro. Demandas que exigem de um governo popular a construção de um Estado social e administrador que crie condições para romper com esta estrutura que se articula entre a desigualdade interna e o abastecimento externo.
Uma construção política interna articulada nestes termos parece ter potencial para vir a constituir uma força política que faça mais do que lutar para manter a própria sobrevivência no campo institucional do país. Não pode um governo popular ter o papel de induzir os conflitos políticos e sociais de potencial transformador?
A política mundial também caminha para fora da ordem
Por mais que seja difícil (e ninguém nunca nos disse que seria fácil) esta construção interna, pois fala-se aqui de induzir um rompimento das estruturas mais básicas da realidade social do país, é possível que tenhamos como aliado um cenário mundial favorável no momento.
É verdade que a pressão dos países centrais do capitalismo sobre os periféricos aumentou nos últimos tempos. Citamos aqui o relatório do Banco Mundial sobre o Brasil como exemplo, e podemos ainda citar outros como a política de preços e a redução do refino impostas à Petrobras ou a agenda de privatizações de empresas de infraestrutura, como a Eletrobrás. Ainda poderíamos falar do avanço da Otan na Europa, a crise migratória ou a volta do FMI à América do Sul.
Por outro lado, percebemos que estes avanços imperialistas são também uma reação. Há um movimento crescente pela multilateralidade na política mundial que ameaça a hegemonia dos países centrais do capitalismo na mesma medida em que os países dependentes passam a questionar seu posicionamento no mundo. Não me aprofundarei mais nesta parte por já ter escrito sobre o assunto melhor neste espaço antes, mas repito os questionamentos que fiz àquela época:
“Quais os efeitos do enfraquecimento de órgãos centrais do capitalismo para a soberania dos países do chamado Sul global? Em palavras exemplificativas, o que aconteceria com um país periférico em crise que, ao invés de recorrer a submissão da agenda liberal do FMI, tivesse alternativas como o Banco do Brics? Caso a desdolarização continue a avançar, que peso continuarão a ter as sanções norte-americanas para países que rezem fora de sua cartilha? O que aconteceria se o lastro de confiabilidade de países não ficasse mais sujeito apenas ao Banco Mundial e a agências de risco de Wall Street? Neste ponto, poderia a multilateralidade representar novas formas de organização política e social para o mundo?”
São todos questionamentos ainda sem resposta definida, é verdade. Mas é possível imaginar uma união de interesses entre os conflitos que caminham fora da ordem interna com os atuais conflitos que caminham fora da ordem global. Limites territoriais do colonialismo e das guerras imperialistas têm sido questionados da Palestina à China. No centro da África, crescem ideias de se libertar dos resquícios de dominação europeia. Não seria a hora de questionarmos também nossas fronteiras econômicas e nosso papel de dependência? O cenário nos oferece, ao menos, maior poder de barganha?
Afinal, também há crise lá no centro do nosso sistema capitalista dependente.
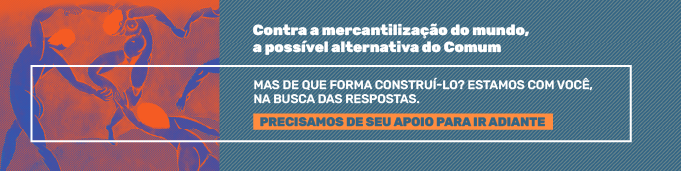


Na verdade, sempre vivemos fora de ordem. Um exame da vida pregressa de nossas autoridades mostrará coisas do arco da velha.