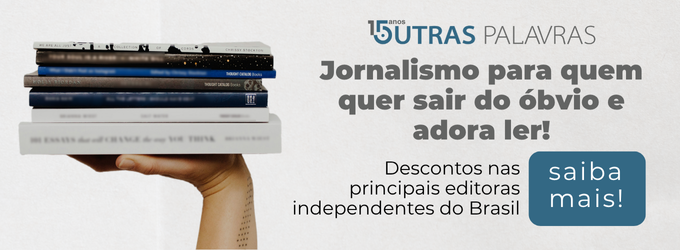Vacina: a lógica grosseira dos “fatores de risco”
Baseada em critérios equivocados, imunização prioriza diabéticos ou hipertensos, e deixa de fora populações e territórios mais expostos ao vírus — como as periferias. Discurso de “risco individual” afasta saídas eficazes e coletivas para a tragédia
Publicado 28/05/2021 às 18:02 - Atualizado 28/05/2021 às 18:24

Em 1961, os “fatores de risco” apareceram pela primeira vez na literatura médica, em um estudo de doenças cardiovasculares nos Estados Unidos. Sessenta anos depois, tornaram-se, ao lado das “comorbidades”, palavras faladas diariamente por um país que sonha com vacinas contra o coronavírus.
De forma genérica, o fator de risco se expressa a partir de uma comparação estatística de acontecimentos entre grupos sem e com (ou com menos e mais) determinada característica. Fumar aumenta em quantas vezes o risco de desenvolver câncer de pulmão? O cálculo do risco permite uma resposta para essa questão em um número, pertencente ao reino da objetividade e o mais distante possível de sentimentos, moralidades ou interesses ocultos.
Em São Paulo, maior cidade do país, qualquer indivíduo que utilize um medicamento anti-hipertensivo já é considerado com “comorbidade” e pode ser vacinado antes da população “de menor risco” da mesma idade. A última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia considera uma pessoa hipertensa se ela tiver pressão aferida em casa maior do que 130×80 mmHg. No consultório, são necessárias duas medidas acima de 140×90 mmHg, sem uso de medicações.
Essa separação absoluta entre pessoas hipertensas e normais e, consequentemente, portadoras de maior e menor risco de morrer de covid, é geralmente tratada como uma verdade científica. Induz à falsa percepção de que a pressão alta é uma entidade com existência própria dentro dos corpos, e não apenas uma classificação de risco derivada de uma medida inventada por um instrumento médico.
Nesse sentido, as redes sociais sobre a atual etapa da vacinação têm passado muito tempo discutindo questionamentos éticos sobre fraudes, “jeitinhos” e o direito de escolher publicizar a própria doença. Mas pouca gente se perguntou as razões de priorizar todas as “comorbidades” nessa etapa da vacinação.
Uma exceção tem sido o epidemiologista Paulo Lotufo, que resgatou em artigo recente a Lei dos Cuidados Inversos, formulada pelo médico britânico Julian Hart: quem precisa mais, acaba sempre recebendo menos assistência; e quem menos precisa, recebe mais. Lotufo chama a atenção para o fato de que grande parte das idosas brancas e ricas, isoladas desde o início da pandemia, já estão plenamente vacinadas. Enquanto isso, a maioria das brasileiras e brasileiros mais jovens, que trabalham sob muito maior risco de infecção, não receberam nenhuma dose.
A situação é ainda pior se pensarmos que mesmo havendo uma lista de “comorbidades” definida, não houve sequer uma mobilização nacional no âmbito da Saúde da Família para diminuir minimamente a desigualdade de “diagnósticos” entre a população que depende do SUS e quem tem acesso a médicos via setor privado. Quantos brasileiros morreram com covid sem jamais ter passado em uma consulta médica na vida?
Mas podemos ir além. Não basta apenas diagnosticar os adultos com pressão alta e diabetes “silenciosas” para incluí-los no grupo prioritário de vacinação. Pensar a pandemia de forma radicalmente social e territorial é abandonar esse “fantástico mundo” em que vivem os fatores de risco escondidos apenas em corpos individuais, possíveis de serem medidos apenas com os instrumentos corretos (o medidor de pressão, a medida de glicose em jejum, a balança etc.).
A inclusão de comorbidades como prioridades na vacinação é justificada a partir de estudos hospitalares de mortalidade. Ou seja, estamos decidindo quem vacinar a partir de um dado específico do enfrentamento à pandemia – o desfecho hospitalar após agravamento da infecção. Isso significa que estamos, no momento, igualando e colocando como centro da vacinação todas as comorbidades consideradas fatores de risco, com exceção dos grupos específicos denominados “vulneráveis” (populações indígenas e quilombolas, prisioneiros, população em situação de rua, beneficiários do BPC, dentre outros). Essa verdade científica nos leva a vacinar primeiro quem tem 45 anos e duas pressões maiores do que 140×90 do que quem trabalha dentro de um shopping center, em uma central de telemarketing ou em uma agência bancária e quem utiliza transporte público lotado e simplesmente não tem alternativa de ficar em casa.
No fim das contas, a pandemia tem nos mostrado, além da omissão genocida do governo federal, a força neoliberal da ideia de um “risco individual”. A proposta do isolamento como estilo de vida (fique em casa, se puder…) segue em voga, a despeito de seu absoluto e trágico fracasso. “Pesar” o risco, gerenciar a própria exposição ao risco, ser de “grupo de risco”: o controle da pandemia foi transformando-se mais em uma questão moral e comportamental do que resultado de intervenções sanitárias.
Sessenta anos depois da invenção dos fatores de risco, eles seguem parecendo, como provocou a feminista Donna Haraway, “truques de Deus”: verdades universais e objetivas, geradas por cientistas desencarnados capazes de deter as visões de todos os lugares e ao mesmo tempo sendo visões partindo de nenhum lugar específico. As pessoas no Brasil estão sendo vacinadas, em sua maior parte, independentemente da situação econômica, racial e social e da distribuição territorial e sanitária da disseminação do vírus e suas variantes. Em vez de pensar uma forma integrada de priorização a partir de dados clínicos, territoriais e socioeconômicos, o controle da pandemia está sendo feito quase que exclusivamente a partir de um fantástico mundo dos fatores de risco e comorbidades, devidamente restringido pela escassez nacional da vacina e por passaportes carimbados com CRM.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.