Por trás da crise “financeira”, a velha luta de classes
Marx estava certo, por mais que economistas superficiais tentem negá-lo: causa das turbulências econômicas é enriquecimento sem-fim da burguesia
Publicado 05/11/2013 às 14:19
Por Vicenç Navarro | Tradução: Cibelih Hespanhol
É surpreendente verificar que a extensíssima literatura produzida sobre as causas das crises atuais se tenha centrado tão pouco no conflito capital-trabalho (aquilo que costumávamos chamar de luta de classes) e sua gênesis no desenvolvimento da crise. Uma possível razão é a enorme atenção dada à crise financeira como suposta causa da recessão atual. Só que essa atenção desviou os analistas do contexto econômico, e também político, que determinou e configurou a crise.
Não é possível analisar cada uma delas, e a maneira como estão relacionadas, sem referir-se ao conflito capital-trabalho. Como bem disse Marx, “a história da humanidade é a história da luta de classes”. E as crises atuais (da financeira à econômica, passando pela social e política) são um claro exemplo disso.
Vamos aos dados. No período pós Segunda Guerra Mundial, um pacto entre o capital e o mundo do trabalho sustentou o conflito. O pacto determinava que os salários, incluindo o salário social (aumento da proteção social pelo desenvolvimento de benefícios e serviços públicos do “Estado de bem-estar social”), evoluíssem de acordo com o aumento da produtividade, principalmente. Em consequência, as rendas do trabalho aumentaram consideravelmente, alcançando seu máximo (em ambos os lados do Atlântico Norte) na década de 1970 – quando a participação dos salários no PIB, em termos de remuneração por empregado, correspondeu nos EUA a 70%; e nos países que viriam a tornar-se a “Europa dos 15”, esse percentual era de 72,9% (na Alemanha, 70,4%; na França, 74,3%; na Itália, 72,2%; no Reino Unido, 74,3% e na Espanha, 72,4%).
Esse pacto social se rompeu no final da década de 1970 e início da década de 1980, como consequência da rebelião do capital ante os avanços do mundo do trabalho. A resposta do capital foi o desenvolvimento de uma nova cultura econômica, baseada no liberalismo, mas com maior agressividade – resultado, naquele momento, de uma postura defensiva frente aos progressos do mundo do trabalho. Em políticas públicas constituiu-se o chamado neoliberalismo, que tinha como objetivo recuperar o terreno perdido enfraquecendo o mundo do trabalho.
A partir de então, o crescimento da produtividade não se traduziria mais tanto no aumento das rendas do trabalho, mas no aumento das rendas do capital. Essa resposta – o desenvolvimento de políticas neoliberais , que constituíam ataque frontal à população trabalhadora – foi muito bem sucedida. As rendas do trabalho diminuíram na maioria dos países aqui analisados. Nos Estados Unidos, em 2012, passaram a representar 63,6% do PIB. Nos países da União Europeia dos 15 (UE-15), 66,5% em média, assim discriminados: 65,2% na Alemanha, 68,2% na França, 64,4% na Itália, 72,7% no Reino Unido e 58,4% na Espanha. O decréscimo das rendas do trabalho no período 1981- 2012 foi de 5,5% nos Estados Unidos e de 6,9 na EU-15: 5,4% na Alemanha, 8,5% na França, 7,1% na Itália, 1,9% no Reino Unido e 14,6% na Espanha – uma queda espantosa, neste país.
O contexto político
Tais políticas foram iniciadas em 1980 nos EUA pelo presidente Reagan, e em 1979 no Reino Unido, pela primeira-ministra Thatcher. Foram também aceitas como inevitáveis e necessárias na França de 1981, pelo governo de François Mitterrand, ao sustentar que o programa pelo qual fora eleito, de clara orientação keynesiana, não poderia ser aplicado devido à europeização e globalização da economia – postura sustentada mais tarde pela Terceira Via, corrente dominante na socialdemocracia europeia. A aplicação das políticas neoliberais, por eles definidas como “social-liberais”, caracterizou as políticas dos governos socialdemocratas na UE. Todas tinham como objetivo facilitar a integração da economia dos países europeus ao mundo globalizado, aumentando sua competitividade pelo estímulo às exportações – e às custas da redução da demanda interna, reduzindo assim os salários. Um resultado dessas políticas foi que o aumento da produtividade passou a repercutir no aumento das rendas do capital, e não no aumento salarial.
O desemprego foi um aspecto-chave para disciplinar o mundo do trabalho e alcançar esse objetivo. O desemprego aumentou enormemente em todos esses países. Nos EUA, passou de 4,8% nos anos 1970 para 9,6% em 2010. Nos países da EU-15, foi de 2,2% para 9,6% – na Alemanha, de 0,6% a 7,1%; na França, de 1,8% a 9,8%; na Itália, de 4,9% a 8,4%; no Reino Unido, de 1,7% a 7,8% e na Espanha, de 2,4% a 20,1% – neste, um crescimento assustador.
Essa polarização das rendas, com grande crescimento da renda do capital às custas da renda do trabalho, foi a origem das crises econômica e financeira. A redução da renda do trabalho criou um extenso problema de escassez da demanda privada, que por várias razões passou desapercebido.
Uma delas foi a reunificação alemã, em 1990, e o enorme gasto público que a acompanhou (para incorporar o leste ao oeste e facilitar a expansão da Alemanha Ocidental em direção à Oriental), financiado, principalmente, à base do aumento do déficit público da Alemanha. O país passou de uma situação de superávit em 1989 (0,1% do PIB) à de déficit, a partir desse ano, e todos os anos, chegando a 3,4% em 1996. Isso significa que a Alemanha adotou uma política de estímulo por meio do gasto público, que (como resultado de sua dimensão territorial e centralidade) beneficiou toda a economia europeia.
O segundo fato a atrasar o impacto da queda da renda do trabalho na redução da demanda foi um enorme endividamento da população. Na Europa, o endividamento foi facilitado pela implantação do euro, que levou à tendência de fazer confluir os interesses dos países da Zona do Euro com os interesses da Alemanha. A substituição por uma única moeda, o euro, do marco alemão e de todas as outras moedas da Zona do Euro, teve como consequência a germanização dos interesses monetários. O caso da Espanha é exemplar. O preço do crédito nunca fora tão baixo, facilitando o enorme endividamento das famílias (e empresas) espanholas – o que fez passar assim desapercebida a enorme perda de capacidade aquisitiva da população trabalhadora.
Por outro lado, a grande acumulação de capital (em razão do aumento da riqueza gerado pelo aumento da produtividade ter sido na renda do capital, não na renda do trabalho, predominantemente) explica o aumento das atividades especulativas, incluindo o aparecimento das bolhas – das quais as imobiliárias foram as mais comuns, mas não as únicas. A rentabilidade era muito mais elevada no setor especulativo do que no produtivo, meio estagnado em razão do declínio da demanda.
O crescimento do capital financeiro foi a característica desse período nos dois lados do Atlântico Norte – crescimento resultante do endividamento e das atividades especulativas. Esse crescimento se baseava, em parte, na necessidade de endividamento, devido à contínua redução anual da compensação salarial em todos esses países. A situação era especialmente acentuada nos países da UE-15, onde o percentual anual médio de crescimento salarial teve uma queda de 3,5% em 1991 a 2000, para 2,4% em 2001 a 2010. Na Alemanha foi de 3,2% a 1,1%, e na Espanha de 4,9% a 3,6%.
A explosão das bolhas
O establishment financeiro e político acreditou que a crise financeira fora originada pelo colapso do banco estadunidense Lehman Brothers, e se limitaria ao setor bancário dos EUA. O economista Thomas Palley menciona o então Ministro das Finanças alemão, o socialista Peer Steinbrück (hoje candidato à presidência do partido socialdemocrata), ao profetizar que esse seria o fim do status dos EUA como grande potência financeira, em razão das fragilidades do seu sistema financeiro. Segundo ele, o colapso do dólar beneficiaria o euro.
A grande ironia dessas previsões é que, no final, o que salvou a banca alemã foi o Federal Reserve Board (FRB), o Banco Central dos EUA. O modelo alemão baseado na exportação tornou o seu setor bancário enormemente vulnerável à contaminação. Os bancos alemães encontravam-se massivamente intoxicados com os produtos especulativos da banca estadunidense. Grandes bancos alemães (como o Sachsen LB, o IKB Deutsche Industriebank, o Deutsche Bank, o Commerzbank, o Dresdner Bank e o Hypo Real Estate), assim como as Caixas alemãs (como BayernLB, WestLB e DZ Bank), caíram numa enorme crise de 2007 a 2009, todos eles tendo de ser resgatados – a grande maioria pela ajuda do FRB norte-americano.
A orientação econômica baseada na exportação (modelo tipicamente liberal) contagiara profundamente o capital financeiro alemão, em consequência de seus investimentos tanto na banca estadunidense (cheia de produtos tóxicos) como na dos países periféricos, denominados PIGS (Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha) e mais tarde GIPSI* (com a incorporação da Itália), cheias de atividades especulativas do tipo imobiliário.
Uma das causas desse contágio é o sistema de governança do euro, dominado pelo capital financeiro. Tal sistema de governo é produto de uma arquitetura neoliberal que se baseia na diferença de comportamento do Banco Central Europeu (BCE) e do FRB e nos distintos modelos de exportação praticados pelos EUA e pela Zona do Euro (multipolar, no caso dos EUA, e centrado na própria Zona do Euro, no caso da UE).
Acontece que o BCE não é um banco central, enquanto o FRB é. O BCE não empresta dinheiro aos Estados e não os protege frente à especulação dos mercados financeiros. Daí decorre que os Estados periféricos da Zona do Euro estejam tão desprotegidos, pagando juros claramente abusivos, os quais deram origem à enorme bolha da dívida pública desses países. Isto não ocorre nos EUA. Lá, o FRB protege os estados. A Califórnia possui uma dívida pública tão preocupante quanto a da Grécia, mas isso não asfixia sua economia. A da Grécia, asfixia.
À luz desses dados, torna-se absurda a acusação de que os países periféricos, devido à sua falta de disciplina fiscal, foram os causadores da crise. Espanha e Irlanda mantiveram suas contas públicas superavitárias no decorrer de 2005 a 2007. Eram os discípulos prediletos da escola neoliberal, dirigida pela Comissão Europeia, sendo arquiteto desta ortodoxia o Ministro [Pedro] Solbes, que já havia ocupado o cargo de Comissário de Assuntos Econômicos da UE. Na verdade, de 2002 a 2007 a Alemanha registrou déficits públicos maiores que os da supostamente indisciplinada Espanha.
Não foi, pois, a falta inexistente de disciplina, mas a falta de um Banco Central para sustentar sua dívida pública, que causou [na Espanha] o crescimento dos juros da dívida pública – serviços prestados (…los intereses de la deuda pública, provista por los bancos alemanes…) por bancos alemães e outros, beneficiando-se de elevadas taxas de alto risco. O objetivo principal das medidas de corte nos gastos públicos, incluindo gastos sociais, é pagar juros à banca alemã, entre outras. O enorme sacrifício dos países GIPSI não tem nada a ver com a explicação encontrada na mídia e em outros fóruns de difusão do pensamento neoliberal – que atribuem os cortes à necessidade de corrigir os excessos desses países. Eles são para pagar uma banca que controla o BCE (o qual debilita os Estados, ao invés de protegê-los, para que paguem quantias maiores). As evidências são esmagadoras. O famoso resgate da banca espanhola é, em realidade, o resgate da banca europeia, incluindo a alemã, que já investiu mais de 200 milhões de euros em ativos financeiros espanhóis.
Uma nova explicação para a crise
Uma variação dessa explicação é o argumento de que o problema da Zona do Euro consiste na diferença de competitividade, havendo alta competitividade no centro – Alemanha e Holanda – e baixa no sul – nos países GIPSI. Essa diferença explicaria o fato de que os primeiros têm saldo positivo em suas balanças de comércio exterior (exportam mais do que importam), enquanto os segundos têm saldo negativo (ou seja, importam mais do que exportam). Daí que a solução passaria pelo maior crescimento da competitividade dos segundos. E a melhor maneira de fazer isso seria baixando os salários (a denominada desvalorização interna).
Essa explicação tem sérios problemas. Em primeiro lugar, nem a Irlanda, tampouco a Itália, registravam balanças comerciais negativas quando a crise teve início. Mais: o crescimento do componente negativo da balança de pagamentos nos países GIPSI deveu-se, predominantemente, ao aumento das importações – resultado do endividamento, e não do declínio da produtividade ou competitividade. E agora a melhora de sua balança comercial se deve à escassez da demanda. Em ambos os casos, têm pouco a ver com mudanças na competitividade.
Na verdade, a produtividade do trabalho padronizada por atividade econômica não é substancialmente diferente, na Espanha ou na Alemanha. O problema, portanto, não pode ser explicado por um diferencial de competitividade, mas por um diferencial de demanda – acentuado em nível europeu por um problema estrutural, resultante do declínio das rendas do trabalho.
O motor da economia da Zona do Euro se fundamenta no modelo exportador alemão, cujo êxito se baseia na moderação salarial (com salários muito abaixo do nível a que corresponderia sua produtividade); na impossibilidade de os países periféricos reduzirem o valor de sua moeda (o que beneficia a Alemanha); na enorme concentração de euros; na mobilidade de capitais da periferia em direção ao centro; e no domínio das estruturas financeiras, pela enorme influência sobre o BCE, que não atua como Banco Central. É um grande engano ver a balança de pagamentos como resultado da diferença de produtividade.
A Alemanha deveria atuar como motor estimulante da economia, não pelo aumento das exportações (baseadas em baixos salários), mas pelo crescimento da demanda interna, aumentando os salários e a escassa proteção social. O trabalhador alemão tem mais em comum com o trabalhador dos países GIPSI do que com seu establishment financeiro e exportador. E nos países periféricos deveriam ser implantadas, também, políticas de estímulo, revertendo as políticas de austeridade – que além de prejudicar as classes populares contribuem para a recessão. A estas políticas, porém, se oporão os agentes do capital, porque terão seus lucros reduzidos. Portanto, é bem claro. Marx, afinal, estava certo.
–
*PIGS significa porcos, GIPSI significa cigano. Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência. [Nota do tradutor]
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras



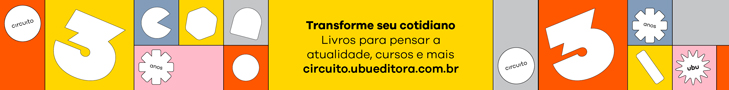
e seguindo essa mesma linha, é curioso notar que Brasil, Rússia, India e China, viriam a ser os “tijolos”, né, os BRICs.
dá gosto ler um texto assim!
Não conhecia os rótulos (pejorativos) PIGS e GIPSI. Chama a atenção como uma lógica Centro-Periferia consegue se reproduzir dentro da própria Europa, fazendo o mundo parecer uma matrioska.
Uma análise muito elucidativa. Parabéns.