Hilário e seus dois corações (o que pulsa e o da repulsa)
Ele vivia nas ruas da Cidade do México. Com cantos, palmas e sons desarmônicos, juntou-se às aulas de Expressão Popular. Sua cor índia, que remetia às origens maias, se mesclava com o óleo do progresso. Um dia, sumiu com a “limpeza” do bairro
Publicado 12/01/2021 às 20:32 - Atualizado 13/01/2021 às 10:24
Por Roberta Traspadini, na coluna Diálogos Pedagógicos | Desenhos: Cecilia Angileli | Vídeo-Edição-Produção: Karen Dias

Conheci Hilário em 2002, na colônia Progresso Nacional, Cidade do México. Vivia entre o mercado e a ponte, na companhia de outros dois colegas – Pancho e Nayar – e de Tito, seu vira-lata.
A primeira relação ocorreu quando sentei na esquina do mercado e comecei a tocar o berimbau, enquanto passavam os triciclos coloridos levando-trazendo gente ao mercado. Hilário foi provocado por aquele som e logo sentou ao lado. Olhava impressionado como um pedaço de pau havia se transformado em um instrumento musical.
Naquele tempo nosso projeto Expressão Popular começava a se estender por aquela região, após uma temporada em um abrigo para crianças machucadas pela vida, abandonadas por seus entes.
Hilário aceitou o pandeiro que lhe passei, mas queria mesmo era o berimbau. Quando o instrumento foi tocado e a turma aos poucos começou a chegar para armarmos a roda de capoeira angola, Hilário já parecia integrar o grupo. Do seu jeito especial, nos acompanhava no canto, nas palmas, nos sons pouco compreensíveis e desarmônicos, mas estava realmente presente ali, de corpo e alma.
Foi, no entanto, embaixo da ponte em uma manhã que insistia em chover, que nossa relação se solidificou. Levamos um café da manhã e, logo após, fomos à praça tocar instrumentos embaixo de uma grande árvore. Naquele dia, Hilário insistia em tocar o gunga. Foi divertida a forma como ele prestou homenagem aos mestres Pastinha e Bimba e, pela língua que falava, provavelmente também aos deuses maias.

O jovem, de cheiro de vida sofrida com manchas pelo rosto, mexia comigo de um jeito profundo. Exalava a ausência de banho e a presença da cola. Esta última substituta voraz de uma vida sem sentidos. Tinha o rosto e as mãos repletos de um óleo escuro que havia penetrado sua pele, profundamente. Sua cor índia, que nos remetia às origens maias, se mesclava como óleo do progresso. Seus olhos da cor da terra, perdiam-se nas manchas negras presentes em todo o corpo.
Eram visíveis também os bichinhos que percorriam seu corpo, sem que Hilário tivesse reação alguma. Acostumou-se àquelas companhias próprias de quem vive nas ruas, nos porões, nos subsolos. Hilário tinha os olhos sorridentes e distantes, conjugavam o verbo morrer na forma transitiva, em meio às trevas da vida cotidiana.
Era apenas mais um jovem nesta condição na qual se encontravam milhões de latino-americanos sobrevivendo das/nas ruas do continente, como resultado de uma miserável situação desigual.
Apesar da morte que trazia em vida, os momentos que nos conectavam eram mediados pela arte. Entre Hilário e eu corriam músicas, silêncios, sorrisos, e, em alguns momentos, toques nos rostos, nas mãos, encontro das pernas sentados lado a lado na roda.
Ele se divertia com o meu sotaque pouco compreensível. Nossas comunicações passavam por outras esferas, para além das palavras. Por mais de um ano, esta relação foi contínua, presente e, acima de tudo, sabedora dos limites concretos colocados pela vida.

Um dia, em uma das atividades no parque, Hilário chegou sem camisa. Sobre seu peito via-se uma marca forte, profunda, de uma pisada raivosa. A mesma marca que fica quando pisamos em um cimento, asfalto, ainda molhado. O curioso é que, de longe, essa marca ganhava o aspecto de um coração de cabeça para baixo.
Hilário trazia dois corações, um dentro, outro fora do peito. Um era o órgão vital que reconfigura os sentidos possíveis da condição humana. O outro, a marca social da miséria humana, a face da chibata ainda presente no século XX. Do coração de dentro sentíamos o latido quando, na roda, cantávamos juntos. Do de fora, vivenciávamos a dor sofrida da violência da vida urbana. À noite, nas ruas, os “ninguéns” correm sempre o risco de morte projetada por poucos “alguéns”.
Dizem os contos populares da Progresso, que foi em uma das visitas dos zapatistas, quando da marcha del color de la tierra, que o subcomandante Marcos, ao avistar aquela mancha, definiu o termo “abajo y a la izquierda está el corazón”.
Pancho nos contou que aquela marca era de um sapato e fora adquirida em uma noite em que dormiam “sossegados” aos pés da porta do mercado da colônia Progresso Nacional, sob o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Foram acordados aos golpes e quando se deram conta, apenas conseguiram proteger-se das violentas pancadas que receberiam, encolhendo-se. Aqueles “homens dignos”, os “alguéns” saltavam alcoolizados do carro para “limparem” a cidade do que eles denominavam como a escória humana. Tamanha inversão de sentidos. A desumanidade apresentando a face do que esses monstros entendem por humano e quem tem direito à esta condição.
Hilário perdeu o ar com o pisão. Conta Pancho que os sapatos pareciam estar quentes, como se tivessem jogado fogo próximo às latas que traziam os meninos grudados em seus corpo no afã de sobrevivência. Quando foram socorridos, Hilário estava desacordado. Após esse episódio nunca mais voltou a falar, perdeu quase todos os dentes da frente e se afundou ainda mais na latinha que trazia sempre consigo no bolso do casaco.
Tentávamos criar pontes em uma sociedade cujos muros vedava as brechas abertas pelo tempo. O bairro era popular e como tal abrigava muitos tipos de trabalhadores. Havia os/as moradores de rua, os/as moradores, com casas, protagonistas de trabalhos ambulantes na região. Além destes, habitavam a colônia outros trabalhadores aparentemente mais prósperos que os dois grupos anteriores.
No popular entre os sem casa e os com casa, habitam mundos de exclusões.
No interior do popular existem camadas nada sutis de diferenças sociais que materializam situações reprodutoras de estereótipos decorrentes da relação entre os ninguéns e os alguéns de outras classes sociais. É a transposição sem mediações de uma hierarquia mediada pela propriedade privada, seus valores mercantis e os sabores de quem tem o direito ao banquete. Comer abaixo da ponte, dentro de casa ou no mercado, revela a questão estrutural historicamente determinada sobre estes, nossos, corpos.
Nos bairros populares a estratificação social efetiva, no tom comparativo de uma sociedade concorrencial, os “dignos” e os “não dignos”. Os primeiros de pena, os segundos os perpetuadores da pena sobre os demais corpos. Hilário, como todo/a morador/a de rua do continente, figurava como mais um “ninguém.”
Foi trabalhoso nessa seara de desigualdades conseguir a permissão social dos trabalhadores do mercado popular para que os moradores de debaixo da ponte pudessem estar conosco nas aulas, no espaço reservado à arte. Assim como foi duro o movimento de incluir Hilário, como um par nas atividades. Afinal, não era socialmente visto, sentido, ao longo do tempo, como um par. Seu cheiro ímpar mas comum, o óleo preto no rosto e no corpo, a fome, seus trapos e a linguagem não traduzível a algum idioma colonial, o afastava do que poderia ser entendido como “o normal” do grupo.
Demorou, mas com paciência e muita ajuda de outros pares da comunidade, Hilário tornou-se parte do grupo. Compartilhávamos sorrisos, silêncios e saberes entre jovens da Universidade (UNAM), crianças e adolescentes da Progresso Nacional, filhos e filhas dos trabalhadores do mercado, instrutores de diferentes nacionalidades da América Latina e os meninos de rua da região.
Havia dias em que Hilário simplesmente não dava o ar da graça. Em outros, rondava e resistia, não entrava. Até que sua não aparição tornou-se mais frequente. Após um longo intervalo de cinco dias, começamos a procurar pelo bairro, pois não era da rotina de Hilário sumir. Sua presença era corrente entre os triciclos e os sons de uma região repleta de transeuntes. Embaixo da ponte encontramos seus pertences: papelões, uma manta rasgada repleta de pulgas, sua latinha e o casaco que ele nunca abandonava. Pelo aspecto dos objetos, tudo indicava que Hilário não aparecia por ali há algum tempo.
Descobrimos, dias depois, com a ajuda dos líderes comunitários, que haviam feito uma “limpeza” no bairro e desapareceram com os meninos de rua. Visitamos abrigos, fomos atrás da ação social e nada de Hilário. Até que, em uma sexta, bem cedinho, véspera da celebração do dia de mortos, ao chegarmos no mercado para trabalhar, Dom Pedro nos mostrou o jornal do dia com o enunciado: 4 corpos, 3 homens e um cachorro encontrados mortos na praça da Progresso Nacional. Na semana santa, mais uma chacina para adornar de tristeza a alegoria da vida mercantil. A manchete anunciava ainda que um dos rapazes trazia uma mancha no peito como uma marca de sapatos. Imediatamente associei ao coração de cabeça para baixo, como o mapa invertido da América Latina de Torres Garcia.
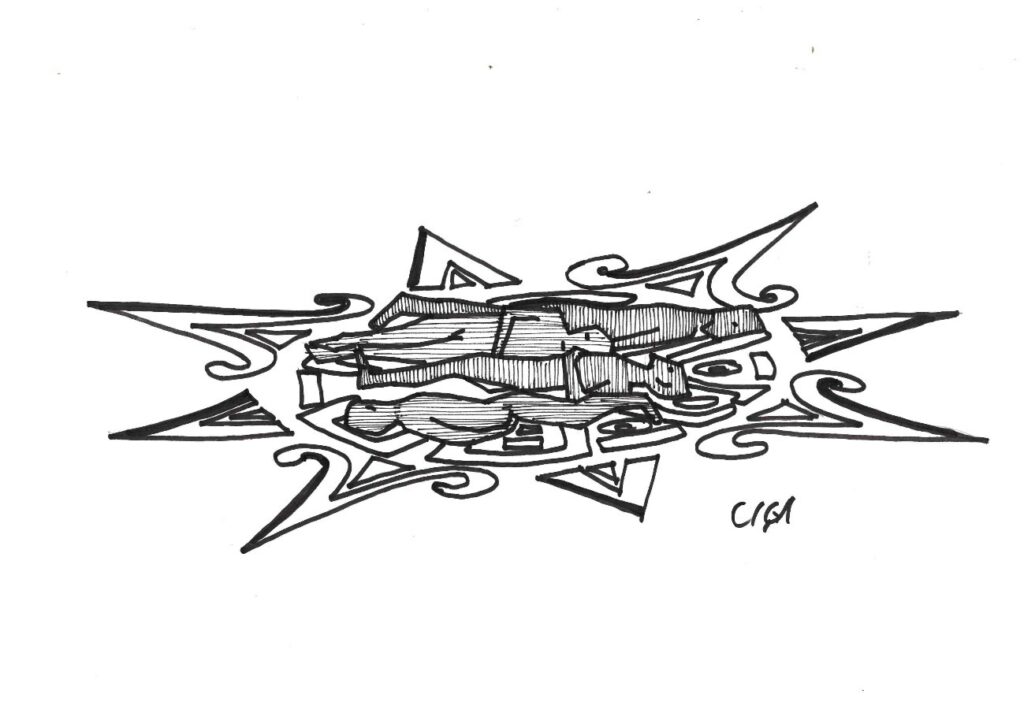
Hilário, seus companheiros e Tito não participariam mais do projeto Expressão Popular. Expressavam concretamente a miserável condição de uma sociedade excludente e perversa. Os dignos justiceiros “homens do bem” limparam o bairro da escória.
Hilário, Nayar, Pancho e Tito foram mortos na porta da igreja. Uma saga em toda América. Do lado de dentro das igrejas a vida e a morte de Cristo são celebradas. Do lado de fora, parte desta mesma sociedade almeja e protagoniza a morte dos Hilários.
A candelária brasileira é reproduzida por todo o continente. A chacina valida a hipocrisia cristã de amar aos homens, somente se forem iguais uns aos outros, imagem e semelhança egóica que reverbera a intolerância e a raiva com os desvalidos.
Entre o choro e o abraço apertado em Dom Pedro, pensei imediatamente no berimbau. Armei com calma o gunga enquanto relembrava as ladainhas que mais tocavam Hilário. Dom Pedro e Dona Ana desenharam uma roda de flores antes mesmo que o grupo todo chegasse. Uma sexta cujo dia exigia tributo aos nossos mortos, recentes e passados.
Enquanto o mercado abria e as pessoas começavam sua rotina, comecei o toque de Iuna. Logo após emendei outros toques deixando literalmente o berimbau chorar.
Fixei meu pensamento longe, na ponte e nos lamentos ora risonhos, ora chorosos, de Hilário. Senti de leve seu cheiro trazido pelo vento. Mestre Pastinha e Mestre Bimba com certeza estavam acolhendo Hilário e seus compas na roda da vida que segue em outro plano. O menino dos dois corações partiu. Mas não sem deixar partida a vida um pouco mais para aqueles e aquelas que ainda nos tocaria re-sentir e re-viver.
Eu
já vivo enjoado/ de viver aqui na terra
óh
mamãe eu vou pra lua/falei com minha mulher
ela
então me respondeu/nós vamos se Deus quiser
vamos
fazer um ranchinho/todo feito de sapé
amanhã
ás 7:00 horas/nós vamos tomar café
ê
eu que nunca acreditei/não posso me conformar
que
a lua venha a terra/que a terra venha a luar
tudo
isso é conversa/pra comer sem trabalhar
ó
senhor amigo meu/escute o meu cantar
quem
é dono não se insiuma/quem não é quer enciumar
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


Parabéns para Roberta Traspadini! Texto bastante sensível e necessário!
Peço licença…
Necessito comentar uma outra matéria: “Índia: prosseguem protestos de milhões de agricultores”.
Vou comentar aqui porque não encontrei espaço para isso na própria página da matéria. (?)
Quero fazer um questionamento aparentemente simples, porém, extremamente necessário.
Observemos a foto da matéria: é uma grande concentração de mulheres em protesto na Índia, correto?
Pergunto por que a manchete (ou a chamada) se refere aos “agricultores” e não às agricultoras?
Por que dentro do texto da matéria não encontrei nenhuma palavra, tal como, “mulheres camponesas” ou simplesmente “camponesas” ou ainda “agricultoras”?
Procurei um rosto masculino na foto e não encontrei.
Afinal, estas mulheres da foto são tão invisíveis assim?
Qual é a dificuldade?
Obrigada.
O texto não dá ao cristianismo a primazia da hipocrisia, não fala em doutrina cristã, apenas diz: “A chacina valida a hipocrisia cristã de amar aos homens, somente se forem iguais uns aos outros, imagem e semelhança egóica que reverbera a intolerância e a raiva com os desvalidos”. O alvo é exatamente os cristianismo retrógado que “defende” os iguais uns aos outros, se forem semelhantes a ele, e condena os desiguais . Está implícita a pancada do berimbau na cabeça da instituição cristã, poderosa e rica que deveria se lavar por dentro e por fora.
Comovente texto, ainda mais pela semelhança com a nossa realidade.
Só um reparo: a hipocrisia que reina lá e aqui, não provém da doutrina cristã: ” Ai de vós,….. hipócritas! pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança.
26 ……! limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
27 Ai de vós, ……., hipócritas! pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
28 Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade.” – Mateus 23
Talvez seja melhor buscar a doutrina cristã em exemplos de dedicação ao próximo, até a morte, em vidas como a de D. César Romero e outros.
Obrigado