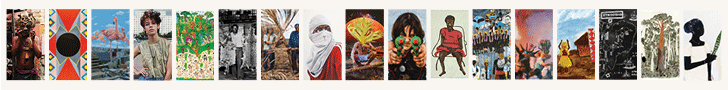WikiFavelas: Jovens que olham para si e o mundo
Dicionário Marielle Franco analisa o programa Papo na Laje, projeto instigante de comunicação popular. Nos episódios, as trincheiras da cultura, a negritude como conexão de afetos e o território como o fazer política: “só estamos vivos por causa de nós”
Publicado 01/11/2023 às 18:20 - Atualizado 07/11/2023 às 13:08

Por Sonia Fleury, Clara Polycarpo e Patrícia Ferreira
Título original: Juventudes em cena: construção discursiva, identitária e política
Como as juventudes periféricas constroem suas identidades e sua potência política por meio das suas práticas culturais? A tensão entre lutas políticas e identitárias promove um intenso debate, mas como os jovens vivenciam e expressam em seu discurso a articulação desses elementos?
Nascido e produzido por jovens militantes das periferias do Rio de Janeiro, o Programa Papo na Laje se apresenta como um programa televisivo interessado nas múltiplas experiências de protagonismo das juventudes de favelas e periferias do estado. Diante das diferentes linguagens da comunicação popular e comunitária, seus idealizadores promovem encontros entre diferentes atores com distintas inserções sociais para “resenhas” que se transformam em episódios temáticos, nos quais dois convidados são entrevistados sobre suas atuações e perspectivas. Como o nome do programa evidencia, o cenário dessas resenhas é a favela, do topo das lajes das casas de moradores(as). Por isso, toda quinta-feira, às 18 horas, estreia um novo episódio no canal da TV Comunitária do Rio de Janeiro (TVCRio) e no YouTube, e o programa já está em sua segunda temporada de gravações. Todos os episódios encontram-se também no Dicionário de Favelas Marielle Franco.
Dando destaque para a trajetória de cada um(a) dos(as) convidados(as), o programa visa conhecer as ações e os sonhos que os movimentam, além de visibilizar organizações que já atuam nesses territórios, fortalecendo o contato e o intercâmbio entre os movimentos sociais em atuação. O Grupo de Análise do Discurso do Dicionário de Favelas Marielle Franco trabalhou a análise das principais formações discursivas identificadas nesses episódios, considerando o discurso como uma prática social, para além da atividade meramente individual de quem o enuncia. Assim a estrutura social se manifesta, delimita e molda o discurso, como também é por ele modificada. Através da Análise do Discurso dos jovens no Programa Papo na Laje e de sua divulgação tanto na plataforma wikifavelas.com.br, ampliamos a divulgação da produção político-cultural dos coletivos de favelas, evidenciando sua potência como ação coletiva. Sendo assim, a discussão sobre cultura e política pode ter como contribuição produções artísticas e culturais realizadas pelas próprias juventudes periféricas como parte do que se compreende a potencialidade de constituição de novos sujeitos(as) políticos(as) no Brasil.
Apesar da escolha dos temas e dos participantes ser feita pela direção do Programa Papo na Laje, a equipe de Análise do Discurso do Dicionário de Favelas Marielle Franco selecionou um conjunto de 6 episódios cujas temáticas dizem respeito a questões culturais e identitárias de um total de 48 episódios divididos em 2 temporadas, nos quais variaram os locais da gravação, contando com 2 distintos participantes em cada episódio, conduzidos por 2 diferentes entrevistadoras. As temáticas selecionadas estão relacionadas à construção de identidades, em sua articulação entre sujeito(a) e ação coletiva, a serem tratados sob a perspectiva teórico-metodológica da análise de discurso, que pretende compreender não apenas o conteúdo do discurso, mas a interação que dele se constrói a partir da tensão com a práxis social de seus atores. Para tanto, foram selecionados os seguintes episódios:
- Ser jovem hoje – episódio 1: juventude, território e militância;
- Ser jovem hoje – episódio 2: ancestralidade, política e representatividade / proporcionalidade;
- Trança e Identidade – episódio 12: conhecimento/autoconhecimento; ancestralidade e trabalho;
- Passinho e Dancinha – episódio 16: corpo, linguagem e trabalho;
- Ser mulher – episódio 17: cuidado/maternidade; sonho e desejo;
- Roda de rima – episódio 18: compromisso, trabalho e rua.
As técnicas adotadas na Análise do Discurso basearam-se na identificação das condições de produção do discurso e dos seus sentidos materializados na linguagem enunciada. Orlandi não pensa a língua como um sistema abstrato e formal, nem o sujeito como a fonte dos sentidos. Os sentidos não são produzidos pelo sujeito, mas sim em outro lugar, anterior e externo a ele, sendo que a AD trabalha “refletindo sobre a maneira como a linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua” (ORLANDI, 2012, p. 16). Tal consideração nos permite analisar o jogo das relações de força que tomam a produção de sentido nos dizeres dos atores em análise, em relação à memória discursiva (ORLANDI, 1999) que disponibiliza os dizeres sobre as favelas, fazendo com que a produção da identidade das juventudes periféricas e faveladas seja lida de determinado ângulo e forma em relação ao espaço da favela e a seus próprios(as) moradores(as).
Aqui, nos debruçaremos sobre 6 episódios do Programa Papo na Laje, em um total de 48 episódios, gravados entre 2022-2023, já disponibilizados e inseridos no Dicionário de Favelas Marielle Franco. A partir deles, trataremos de questões relacionadas à construção da identidade favelada e periférica, em uma articulação entre sujeito e ação coletiva, perpassando questões de linguagem e questões de classe, raça e gênero. Consideramos, neste sentido, pelo formato do material que está sendo analisado – a saber, episódios disponibilizados em plataformas digitais -, o próprio papel das mídias digitais periféricas na produção de sujeitos(as) políticos(as) favelados(as) diante das transformações no mundo do trabalho e nas sociabilidades e suas subjetivações. Optamos por sistematizar o conteúdo e seus discursos em 6 Formações Discursivas, com a intenção de dar conta – mesmo que apenas metodologicamente – das discussões que permearam os episódios em questão e que podem ser lidas a partir da sua transversalidade.
1) Subjetivação – entre o individual e o coletivo ou “o nós é que constrói o nós”
O primeiro ponto a ser analisado trata, justamente, da construção do que é a identidade das juventudes periféricas no tempo presente – considerada para além de categorias formais de objetivação e, sim, de subjetivação. Por exemplo, o discurso dos jovens no episódio 1, “Ser jovem hoje”, gravado no ano de 2022, explicita a noção de que os(as) moradores(as) contam com a solidariedade, a organização e a responsabilidade diante das situações que os afligem e, com isso, a identidade se faz marcada tanto pelo território quanto pela ação política coletiva. Na ausência das políticas públicas, tiveram que enfrentar a pandemia, em particular, com ações coletivas a partir de sua organização e do seu conhecimento da realidade.
É no cruzamento entre a política pública (praticamente ausente, que, quando ocorre, se faz de forma precária e inefetiva) com a ação filantrópica (que se supõe salvadora, mas que não sabe “quem é quem”) que se fortalece a identidade de “cria”. “Cria”, aquele que conhece as pessoas em suas singularidades – sabe quem precisa e do que precisa – e por isso pode desenvolver uma ação coletiva que atende às necessidades, respeita as diferenças e é respeitado pelos moradores que não tentam obter vantagens. Sua ação coletiva pode ser traduzida como o Olho no Olho: sabe que não adianta só distribuir cesta básica para uma senhorinha que não tem como carregar o peso, tem que levar a cesta até a casa dela.
Ao invés da filantropia que vem de fora com a pretensão de ser salvadora, surgem lideranças locais que iniciam ações capazes de revitalizar espaços públicos, incentivar a leitura, mobilizar as crianças em aulas de esporte, entre outros. É o cuidado de quem se preocupa com o outro, o comum do pobre que se preocupa com o pobre, o “Nós por Nós”. Essa noção vai além da própria ação porque se fundamenta em um conjunto muito sólido de valores construídos a partir de uma vivência comum, uma experiência compartilhada na qual as pessoas se sentem dependentes dos demais e também responsáveis por eles. Não se trata de uma visão ingênua, já que percebem que muitas pessoas não têm noção das razões que os levam a viver assim, têm a “venda nos olhos”. No entanto, são capazes de se solidarizar com os demais.
A questão da ocupação dos espaços políticos permeia toda a conversa no episódio 2, “Ser jovem hoje”, especialmente a partir dos relatos e experiências de Magda Gomes e Gelson Henrique. Tomam como exemplo o coletivo Mulheres Negras Decidem, onde se pode ver a “mulherada preta” sentada em roda, pautando seus temas de interesse, defendendo a importância de buscar incidência sobre a política institucional e trazendo as referências negras pertinentes ao debate. Trata-se de um espaço que reconhece o papel das mulheres como sujeitas políticas sem que isso esteja atrelado a uma determinada formação acadêmica, que busca recuperar o “lugar de incidência de sujeitas políticas que nós somos” e o esforço ali é o de construir “como se entender enquanto sujeitas políticas e se articular por esse lugar”. A questão da legitimidade vem do elemento comum da negritude, que independente da trajetória de cada um faz com que todos os que dele compartilham sejam lançados numa mesma rede de afetos, opressões e também de construções em potencial. A tensão entre os saberes que se originam da experiência compartilhada da negritude e o conhecimento acadêmico se dilui quando recorrem ao conceito de “capital social e cultural” de Pierre Bourdieu (1989) e apontam que a questão seria como ampliar a representatividade dessas mulheres negras nesses espaços políticos.
Os diferentes conflitos vivenciados pelos jovens negros favelados se expressam na necessidade de burilamento dos conceitos, de tal forma que expressem o sentido político que lhe querem atribuir. Assim é que ao tratar da ocupação política de espaços pela juventude questionam o conceito de representatividade e o substituem por outro conceito chave, o de proporcionalidade. Juliana França diz textualmente “eu já nem falo de representatividade, eu falo de proporcionalidade… aí a gente começa a conversar!”. Falar de representação já não é suficiente, é preciso representação proporcional, é preciso agir em rede e estar em todos os lugares. Sobre representação, os participantes acreditam que não se trata de “reinventar a roda”, posto que, segundo Magda, “o Movimento Negro Unificado já deu o papo, você tem atualmente a Coalização Negra por Direitos, tem tantos outros movimentos… a potência das nossas redes é ser estratégico, saber qual é o plano político, equalizador que desejamos”.
A ideia do representante é vista por Gelson como local da representatividade do um só, do destaque, “o que é muito perigoso pra gente que é preto”. A oposição se estabelece entre o destaque – o representante individualizado – e a rede, ou construção, que fortalece o coletivo. Eles terminam defendendo que “a gente não pode se forjar no debate da vaidade, a gente tem que se forjar no debate da construção”, onde cada um tem o seu espaço e sua forma de atuar: alguns serão os que vão pegar o microfone; outros vão atrás do financiamento, da grana; e outros vão cuidar dos demais, oferecer uma água e dizer “descansa militante”. Ao tratar do apoio anônimo e acolhedor, expresso no copo d’água e no apelo “descansa militante” os três participantes se unem e brindam alegremente.
Para os entrevistados deste episódio em especial, o “fazer” política se ancora em diversas dimensões da ação das juventudes:
- Pertencimento a redes e coletivos: a organização em coletivos redes de resistência onde militam pela incidência política de mulheres negras, combate à pandemia e à fome, direitos humanos, educação, participação política das juventudes etc. A construção coletiva parte da compreensão de que “sozinho não rola”, que vem dos movimentos que os jovens vão criando e se filiando;
- Entendimento de que o lugar do sujeito político é em todo lugar, pois, toda ação cotidiana é política: comer é político, afeto é político, corpos são políticos, estar juntos é político. É no micro que vão fazendo as coisas acontecer, desenvolvendo uma leitura política, um olhar crítico sobre a realidade: não branco, não colonial, não acadêmico – “Arial 12”. Todo movimento individual está ligado a uma rede, a um coletivo, independente da vontade ou consciência;
- Mudar o eixo do debate ao assumir, nas favelas, o combate à pandemia e à fome pois puderam deslocar a pregação sobre medidas de higiene incompatíveis com a realidade local para medidas concretas e adequadas aos recursos disponíveis, levando à organização de redes de coletivos e de redes;
- Avaliação de que não adianta querer melhorar o Estado porque ele não está falhando em seu projeto político que visa à subalternização e extinção dessa população;
- Sabotar o pacto colonial se faz construindo os nós que dificultam a ação da branquitude. A afirmação de que “o nó é que constrói o nós”, como desenvolvido no artigo de Gelson Henrique publicado na Agência Jovem, envolve o uso de tecnologias ancestrais como a roda de conversa, de samba, do terreiro, espaço onde os nós são construídos e constroem os nós identitários e as barreiras ao colonialismo.
2) Ancestralidade, cuidado e resistência ou “olhar os antigos para ser farol para os jovens”
A visão política dos participantes é atravessada pelas suas experiências e vivências de compartilhamento, assim como pela cosmovisão da cultura afrodescendente, onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Como no velho ditado iorubá que diz que “Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje”. O que significa pensar em política institucional ou em política como incidência? Na perspectiva de Magda, entrevistada no episódio 2, refletir sobre política significa necessariamente problematizar a construção do futuro. Assim, a política precisa envolver a construção “de um processo contínuo e perene que traga segurança para o nosso presente/futuro que são as nossas crianças”. Mas como fazer isso? Ela responde essa questão, olhando para trás,”mirando nos nossos ancestrais, nossos anciões”.
Os participantes trazem exemplos de como dentro de casa, os mais velhos, a partir de questões simples da vida cotidiana, deixam lições valiosas sobre o que chamam de política do compartilhamento. A mãe de Gelson, entrevistado neste mesmo episódio 2, por exemplo, o ensinou o que era a política do compartilhamento muito cedo ao dividir igualmente entre ele e a irmã os poucos biscoitos disponíveis para levar para merenda da escola. Na casa de Magda, “a política do compartilhamento sempre foi óbvia”, uma vez que a premissa da convivência era não aceitar o resto. A base da sociabilidade na casa partia da ideia de que ou se divide o que se tem ou não se divide o resto. Aprender, desde muito cedo, essa lição permitiu que ela “virasse uma chave” e entendesse que o importante não é dividir o que sobra e, sim, dividir o que tem.
A noção de política do compartilhamento é extremamente potente, pois ela define não só o modelo de solidariedade do comum, como coloca um parâmetro claro para a luta política que é a rejeição das sobras ou restos que a sociedade dominante lhes destina. Uma leitura política do mundo. Hoje Magda busca espalhar esse ensinamento, refletindo coletivamente “como a gente soma nesse movimento de partilha”. Ela aponta o fôlego da juventude para somar nesse esforço. Gelson segue o mesmo caminho, falando em juventudes no plural e mostrando que, desde a infância, as juventudes periféricas aprendem a ter senso de comunidade e de partilha. Isso cria uma leitura política do mundo. Mesmo em situações de escassez, aprender a compartilhar cria jovens que têm um olhar político, que “não é um olhar branco, colonial, acadêmico de quem escreve em Arial 12”, mas sim um olhar crítico e “assertivo de onde estamos vindo”.
Como forma de lembrar e reverenciar o passado, as fabulações de futuro de Juliana, Magda e Gelson são representadas como movimento, um movimento de continuidade e perenidade por meio do tempo, tal qual o canto em uma roda de capoeira. Afinal, “tempo é orixá”, e é à luz dos mais velhos que se guia o farol para os mais novos. O aprendizado trazido pelas tias, mães e avós é circular nisso que se faz pensar no presente e no futuro a partir das crianças e, tendo em conta, ao mesmo tempo, os conhecimentos transmitidos pelos ancestrais. As redes e os sonhos coletivos de sujeitos e sujeitas políticas são o que contribui para a continuidade das gerações. Só estamos aqui porque os ancestrais viveram, guiaram e resistiram. É neste sentido que Juliana cita “Sankofa”, um pássaro com a cabeça voltada para trás, de maneira espelhada, que remete ao retorno, ao caminho e à busca, ou seja, ao retorno ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro.
Magda reforça que é necessário reconhecer que toda atitude individual reverbera no coletivo e, assim, devemos contribuir para a continuidade da geração que foi antes, sendo o eixo da próxima geração. Continuar é conectar as redes para que cada um seja eixo e ponte na construção dos futuros possíveis. Neste fluxo, sujeitos e sujeitas políticas devem se entender como potência e como nutriente, em uma alimentação que nutre e que sustenta as novas gerações.
No episódio 12, “Trança e Identidade”, três trajetórias se encontram no caminho das tranças. Criança, menina e mulher vão se descobrindo a partir do cabelo – e a partir de como se dão as relações pessoais, familiares e até mesmo sexuais entremeadas na história do cabelo. Quando Milena Francisco rememora a infância do “coque” e da “praticidade”, rememora também que o cuidado com o cabelo, passado de avó para mãe, faz parte das estratégias afetivas entre as mulheres negras. Afinal, como aponta Gleice Nascimento, “como a casa de cinco mulheres pretas não atravessa a trança?”. Ainda assim, o cabelo crespo, sem cacho, associado à cor da pele, o cabelo de África, por muito tempo serviu como esconderijo. Durante a própria constituição do lugar da mulher negra no mundo diaspórico, as formas que o cabelo foi tomando dizem muito sobre as estratégias de resistência desses corpos.
Se as mãe negras optavam pela praticidade de um cabelo que poderia, no coque, durar cerca de uma semana, as meninas negras, já na adolescência, passam a descobrir o seu próprio cabelo ao experimentar outras formas de uso. E, neste processo, refletem sobre sua autoimagem de forma positiva ou negativa. Juliana França relembra do “cabelo nylon”, atravessado pela trança, que servia como demonstração de um amadurecimento, mas, por outro lado, de uma tentativa de aceitação social. A estética racista imposta nega às meninas negras o conhecimento sobre o próprio cabelo. Com isso, o momento de reconhecer-se como negra passa também, para muitas, como o momento da transição capilar.
Juliana França, entrevistadora, conta o quanto foi surpreendente e, neste caso, até mesmo assustador o momento em que realizou seu “corte químico” e teve contato direto com o seu cabelo natural. Para ela, foi difícil “sustentar” a sua própria identidade diante da identidade do seu cabelo. Trançar-se foi uma forma de se reconectar consigo mesma. Neste sentido de descoberta, a trança também não pode voltar a ser um esconderijo, de objetificação ou estigmatização. É ela o pontapé para a aproximação com as suas referências ancestrais. É por isso que as tranças são tidas como essas ferramentas ancestrais que unem os fios das mulheres negras ao serem reconhecidas como alimento e caminho de suas próprias sobrevivências. A relação com as tranças as conecta à trajetória de todas as mulheres negras e passa a atravessar suas vidas por diferentes cruzamentos, seja como autocuidado, seja como forma de ganhar a vida, considerando trançar outras mulheres em sua profissão.
As trajetórias das duas entrevistadas se assemelham na constituição de uma linha do tempo da relação pessoal com as tranças. Num primeiro momento, a trança surge na infância de maneira funcional para suas mães, seja por ser um penteado de fácil manutenção (Gleice Nascimento), como também “para não pegar piolho” (Milena Francisco). Na adolescência, a trança reaparece desempenhando um papel de construção de identidade e de conexão com a ancestralidade africana, mesmo com a reprovação de seu círculo social. Já na fase adulta, após a superação das questões anteriores, as tranças passaram a atuar ainda no contexto das relações afetivas, chegando ao ponto de “não ser tão desejada” por estar com o cabelo crespo natural, influenciando a autoestima e tornando a trança quase que compulsória para as relações afetivas das mulheres pretas na atualidade.
A trança atravessa a vida das convidadas desde suas infâncias e a relação delas com as tranças propõe uma nova forma de autoconhecimento identitário para cada uma delas. Para além de uma forma de identidade racial, a trança recupera um passado histórico africano. Uma ligação ancestral com a cultura africana se faz presente a partir de um movimento de “pontapé inicial para ir atrás das próprias referências”, como argumenta Gleice. A trança é uma forte constituição de identidade africana e utilizá-la constitui uma resistência histórico-cultural muito rica para a população negra brasileira. A utilização das tranças é uma forma de carregar a resistência da negritude brasileira. Essa pauta vai além da vida individual e particular de cada participante do episódio; ela retoma uma memória histórica que é fundamental à vida das mulheres negras no Brasil. Retomando as palavras da entrevistada Milena, a trança na vivência de uma mulher negra constitui um dos primeiros passos para “se descobrir uma menina negra”.
Ao tratar a questão de gênero com as expectativas, portanto, do que é “ser mãe”, no episódio 17, “Ser mulher”, as entrevistadas – conduzidas pela entrevistadora como argumento – colocam o “cuidado” como central em suas rotinas e perspectivas de vida. Na verdade, quando falamos de maternidade, o cuidado é, de fato, central: cuidar dos filhos, cuidar da casa e, sob um casamento, do próprio marido. É o que reforça Thamires ao considerar as imposições dos papéis de gênero em nossa sociedade: “Na próxima encarnação, eu quero ser pai. Por mais que o pai seja ótimo, cumpra com todas as obrigações, o filho sempre é da mãe. Isso é fato. Quando a gente é mãe, está o tempo todo cuidando”.
Em razão dessa centralidade considerada, o cuidado passa a fazer parte não apenas da rotina da casa, mas também das relações com o exterior e consigo mesmas. Como relações de trabalho, por exemplo, Thamires se identifica atualmente como manicure e pedicure, profissão que tem como atividade o cuidado de outras pessoas a partir da relação com a higiene e a beleza. Ingridy, por sua vez, expressa que o cuidar se tornou sua profissão, formando-se técnica em enfermagem para atendimento a idosos, profissão intrinsecamente relacionada aos cuidados com a saúde. Ao cuidar dos outros, sejam seus próprios filhos ou não, as mulheres se mantêm fixadas ao espaço doméstico, seja sua própria casa ou a casa para quem elas estarão prestando serviço, e limitam seus próprios mundos a atender a terceiros.
Neste sentido, o cuidado também é sentido como uma falta. Apesar de redes de apoio, com marido, familiares e amigos, Thamires, por exemplo, sente falta de ser cuidada. Em um relato emocionante, conta como teve que dar conta de um filho doente enquanto ela também estava doente na correria de hospitais, se sentindo exausta. De tanto cuidar de todo mundo, parece que ninguém cuida de fato dela. O que é uma constante ao considerarmos as relações de gênero no casamento e na maternidade sob o patriarcado. Por outro lado, a Ingridy não cuida diretamente dos seus filhos, já que a Justiça também não cuidou dela ao retirar a sua guarda dos filhos. Mesmo que de longe, toda a sua vida é construída para que um dia possa estar com eles e, assim, cuidar de seus próprios filhos. Com isso, o cuidado se faz central também pela sua própria ausência.
3) Território, rua, cidade e pertencimento ou “as pessoa são mais povão, elas vivem o mesmo que a gente”
Como temos visto até aqui, a construção da identidade dos jovens está fortemente imbricada com o pertencimento ao território, como uma comunidade de sentidos, nucleada pelo conceito de “cria”. “Cria” é quem vive a favela, enfrenta cotidianamente seus problemas, busca soluções individuais e coletivas para superá-los, estabelece uma teia de relações com outros(as) moradores(as), sabe como os demais vivem o dia a dia, conhece as potências e inovações que emergem nos múltiplos coletivos e nos becos.
O conceito de “cria” articula a identidade pessoal com a memória coletiva, com as relações sociais, com os recursos existentes em um dado território, com as necessidades e com as potencialidades, com os dramas comuns com as organizações coletivas. É um conceito nucleador e mediador, que dá sentido aos sentimentos coletivamente compartilhados. São aqueles que falam e entendem a sua língua, de pessoas que não aprenderam a falar bonito e nem a ouvir bonito. Por exemplo, a língua aparece como parte do processo de dominação na escola tradicional e como possibilidade de comunicação e aprendizagem quando os professores populares falam como os jovens das favelas.
Porém, a noção de território explode os limites geográficos quando é tratada a partir das identidades construídas ao longo das trajetórias de luta, das opções políticas e das contingências vivenciadas por cada um(a), em um processo que se constrói junto, mas não tem fim: Território Direitos Humanos, Território Artista de Periferia, Território Mãe Militante. Enquanto o território físico e social, encapsulado pelo conceito de “cria”, demarca a separação entre o interior e o exterior, entre o dentro e o fora, entre o nativo e o estrangeiro, o território como identidade construída politicamente rompe barreiras físicas e sociais, cria novas possibilidades, redes de relações que englobam aqueles que juntos querem transformar a realidade.
A transversalidade “cria”/não “cria” diferencia os(as) moradores(as) daquelas pessoas que falam da favela mas não vivem a favela. Também inclui o Estado e suas políticas públicas que tratam de forma homogênea situações singulares, assim como o mercado que vampiriza as inovações produzidas nas favelas, sem que haja retorno financeiro para os(as) moradores(as). Já o território construído politicamente permite aos jovens favelados circular por outros espaços e criar novas inserções sociais, bem como trazer projetos para dentro da favela. Por fim, a articulação entre o território que delimita e o que explode os limites físicos possibilita entender as relações de desigualdade e exclusão a partir da chave do racismo estrutural e a possibilidade de mudança e fabulação de uma nova realidade a partir da construção do comum.
Por exemplo, no episódio 17, “Ser mulher”, ao se referirem ao seu território de moradia, as duas entrevistadas utilizam nas suas falas noções positivas em relação a esses espaços, contrastando com os discursos hegemônicos que são utilizados na mídia tradicional quando se fala em territórios favelados e periféricos. Ingridy, moradora de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, diz sentir segurança onde mora: “Gosto de morar aqui, porque eu me sinto em casa. […] quando eu pego meu ônibus e chego em Benfica, no Manguinhos, na Zona Norte eu fico bem tranquila”. Ela ainda pontua que existe um “lado ruim” do território – sem dizer qual é – mas o seu discurso dá ênfase para as noções positivas do lugar, como as pessoas acolhedoras. Usando de referência os discursos da mídia tradicional, que destacam a insegurança, episódios de tiroteio e outros crimes no território, a fala de Ingridy é completamente oposta e joga luz nos aspectos positivos de se morar em Benfica, em São Cristóvão, Zona Norte.
Outro aspecto que as entrevistadas destacam é a rede de apoio que ambas possuem, com amigos, vizinhos e familiares que as ajudam quando é necessário. Thamires, que mora recentemente em Curicica, Jacarepaguá, Zona Oeste, e morou por muitos anos no Complexo do Alemão ressalta a solidariedade que existe nesses territórios entre os(as) moradores(as): “[…] as pessoas são mais ‘povão’, elas se preocupam mais com a gente, porque elas vivem a mesma coisa que a gente”.
Ainda na marcação do território e suas sociabilidades, podemos perceber, no episódio 18, “Rodas de rima”, que a história do Hip hop, para Akin e FL, começa na rua. A cultura Hip hop é a rua. Antes da Roda Cultural do Pistão, espaço de intersecção entre as trajetórias individuais dos dois entrevistados, Akin começou com pichação na rua aos 16 anos. Depois, campeonato de skate ao som de rap. Depois basquete, grafite e DJ. A cultura Hip hop é, então, para ele, a junção de todos esses elementos da rua. E o seu compromisso é também com a rua.
É nesse compromisso, inclusive, que nasce a Roda Cultural do Pistão, em 2012, em Campo Grande, movimentando tantos outros contatos e jovens pela cidade. Já aconteciam outras rodas em outras regiões, como na Zona Sul e no Centro, mas a dificuldade de mobilidade para lá, desde a Zona Oeste, impedia que se construísse um movimento mais forte. Como aponta FL, no Centro acontece muito mais coisa, mas, se decidir ir para lá, não tem condução para voltar. No fim das contas, reconhece que é parte de um projeto político que procura impedir a circulação da cultura periférica pela cidade.
4) Preconceitos, violências e barreiras invisíveis ou “existe um projeto político de embarreirar tudo”
O desafio do conhecimento/autoconhecimento é enfrentado por todas as pessoas no seu processo de constituição como sujeitos(as), envolvendo autonomia, autoestima, reconhecimento social e capacidade de escolha e de ação. Trata-se de um processo bio-psico-social que muitas vezes se prolonga mais além da fase crítica, que é identificada com a adolescência e juventude. O que tem de singular nesse processo para as mulheres negras, por exemplo, é o desconhecimento de uma parte do seu corpo, do seu próprio cabelo, como resultado dos estereótipos, preconceitos e pressões sociais que impõem uma estética racista e um controle sobre seus corpos que resulta na ocultação do cabelo através de diferentes técnicas.
Ao romper com essa norma, iniciando a transição capilar, é possível ouvir frases tão fortes como “eu me descobri negra” (episódio 12), e a surpresa de se defrontar com uma parte de si que era desconhecida, defrontar-se com uma imagem de si que nem sempre é facilmente aceita, até chegar a se achar bonita. O fio do cabelo é também o condutor da busca de uma identidade que encontra a ancestralidade, o cuidado entre as mulheres da família, o resgate de sonhos e da liberdade de experimentação.
É por isso que, no episódio 12, “Trança e Identidade”, as tranças aparecem como elemento fundamental desde cedo na vida dessas meninas. Utilizadas primeiramente em razão de economia de esforço para manutenção de penteados e cuidado com a higiene dos cabelos das filhas. O fazer e o cuidar dos cabelos, tornam-se momentos de atenção e afeto. Mais tarde, transformam-se em signos de identificação e resistência.
A constituição da autoimagem dessas crianças encontra diferentes elementos de conflitos. Desde a infância, as meninas se veem diante de um bombardeio de referências nas quais os cabelos lisos são socialmente disseminados como belos, seja nos brinquedos, na televisão, na publicidade e na vida cotidiana. Na adolescência, as críticas continuam e adolescentes de tranças agora são designadas ao gueto, associada de forma pejorativa a ícones afrodescendentes, como Bob Marley, por exemplo. Algumas deixam de usar as tranças e voltam ao coque. Na vida adulta, o coque se torna um penteado obrigatório em alguns ambientes de trabalho – manter os cabelos presos é exigência.
Se, de um lado, há uma visão pejorativa da ancestralidade africana a partir do cabelo, do outro surge um forte elemento de resistência. Nesse universo, as tranças soltas libertam outra imagem, uma imagem de descoberta, resistência e de referência à ancestralidade. E, o cabelo se constitui como um elemento de transformação dessa imagem. Há um esforço social a partir da própria população negra de reparação da crítica da imagem dos cabelos de pessoas negras. São criados elementos de orgulho, aceitação e identificação a partir da aceitação dos cabelos naturais. Quem antes utilizava cabelos alisados ou relaxados, agora passa pela transição. A transição vira um momento marcante na vida dessas pessoas, principalmente no reconhecimento e aceitação da sua imagem. O ver-se no espelho, reconhecer-se e sustentar essa nova imagem aparecem como os desafios dessa transição, pois evoca as experiências de preconceito e não aceitação vividas desde a infância.
O episódio 18, “Rodas de rima”, introduz algumas questões que geraram dificuldades para a produção de eventos e de rodas de rimas, como, por exemplo: espaços impraticáveis, estereótipos atrelados aos grupos, e, principalmente, barreiras invisíveis. Essas barreiras podem ser entendidas como dificuldades sociais e/ou históricas que dificultam a elaboração e circulação da cultura periférica nas favelas e comunidades. Parafraseando um dos entrevistados, estamos diante de uma cicatriz do passado que convive no presente.
Estas barreiras invisíveis atingem não só a produção de eventos, mas uma vivência compartilhada pelos sujeitos periféricos. Retomando um pouco a constituição histórica do Brasil, fazemos parte de um país que fundou sua forma de socialização em torno de práticas misóginas, racistas e elitistas. Atualmente, o avanço do neoliberalismo construiu condições para que este modo de pensamento continuasse se perpetuando. Retomando o entrevistado FL, “há um projeto político de embarreirar tudo isso [isto é, o acesso à cultura, o dever social do rap e os modos de produção envolvidos na roda de rima] de acontecer”. Começamos a entender que as barreiras invisíveis fazem parte de uma constituição sociohistórica cujo projeto é manter a cultura periférica às margens da sociedade, sem direito à circulação e valorização. Este projeto se materializa como cicatriz de toda essa memória do passado que insiste em se fazer presente na atualidade.
Mas as juventudes tensionam e destroem essas barreiras, visíveis e invisíveis. De uma pista de skate abandonada por um estigma de criminalização, o movimento Hip hop de Campo Grande ocupa, reforma e transforma a rotina e a sociabilidade de uma região que ainda carregava, do passado, algumas cicatrizes: o Pistão. O que antes carregava o peso da disputa de facções, hoje recebe famílias para apresentações teatrais. Inclusive, até filho de policial participa da roda cultural. E, como semente, a cultura Hip hop vai mudando a cara da rua e da cidade.
5) Militância, compromisso e trabalho ou “retirar a venda dos olhos”
A reflexão sobre “ser jovem hoje”, em especial, no episódio 1, aparece atravessada pelo processo de tomada de consciência sobre a complexidade da realidade que os cerca, e que na imagem trazida por eles é representada pela “retirada de uma venda dos olhos”. Tal processo é experienciado – em oposição à ideia de racionalizado – nos primeiros contatos com os movimentos sociais que acessam as juventudes, em especial os grêmios escolares e movimentos estudantis.
Tal experiência é relatada como uma espécie de choque que provoca um ímpeto de mobilização ao redor. Fala-se abertamente sobre a preocupação em contagiar e expandir essa experiência para as pessoas que vivem ao redor sem ter “noção do que se passa”, ou seja, sem desenvolver uma capacidade analítica que permita a construção de uma visão crítica sobre como processos sociais mais complexos – de natureza econômica, racial e política – estruturam e atravessam o dia a dia das populações faveladas e periféricas.
Nota-se também que a escola é o espaço preferencial desse despertar de consciência dos jovens sobre os problemas sociais, mas não de um ponto de vista moral ou estritamente didático: do ponto de vista do seu potencial agregador, de reunião das juventudes num mesmo espaço de socialização, que está longe de ser indisputado. Em oposição aos professores tradicionais que repassam a responsabilidade da formação ao interesse do próprio indivíduo, em sua fala, os jovens destacam a importância dos esforços de aproximação e de “tradução” da realidade realizados pelos educadores do campo popular. Numa perspectiva que endossa a concepção freiriana de educação, enfatiza-se a importância da utilização de múltiplas linguagens e de recursos artísticos variados no processo de ensino-aprendizagem que têm marcado iniciativas no campo popular tais como os pré-vestibulares sociais. E apontam que o diferencial entre esses espaços é precisamente o fato de que os educadores populares vêm do território, têm a mesma origem dos educandos e, portanto, tendem a apresentar maior sensibilidade às dificuldades que se apresentam ali, preocupando-se com a adaptação das linguagens utilizadas nesse processo.
Diante disso, torna-se evidente que os movimentos sociais desempenham um papel fundamental nesse processo de tomada de consciência política e social, que é, em si, tão doloroso quanto empolgante. Nas palavras repetidas por eles: “tão libertador quanto desesperador”, pois, diante do momento de tensão que o país ainda vem passando, enxergar a realidade é um sofrimento que vem acompanhado de um forte senso de responsabilidade. O diálogo evidencia claramente a ideia de que “a militância é uma caminhada que não acaba mais” pois, uma vez retirada a venda dos olhos, a juventude percebe que sempre esteve à frente dos grandes movimentos da história e se pergunta o que é possível fazer pela sua própria comunidade e pelas próximas gerações.
“A favela educa ou educam a favela?”. Esta pergunta, feita no episódio 2, “Ser jovem hoje”, é fundamental para refletir sobre educação nas favelas. De imediato, ela coloca sujeitos de tais territórios em posição de produtores de saberes a construir o universo educacional. Favela é fonte de conhecimento, produz saberes. A partir da ancestralidade, conhecimentos múltiplos, que atravessam gerações e constroem um riquíssimo arcabouço histórico-cultural para a favela, são adquiridos e transmitidos. A grande questão é fazer valer tais conhecimentos afro culturais.
Uma outra reflexão trata da política pública na educação. É preciso refletir sobre como as crianças e os jovens da/na favela estão sendo educados. O que o MEC ensina em tais espaços periféricos? Os saberes ensinados refletem e dialogam com a vivência dessa juventude? Ou existe um movimento, advindo do MEC, para que esses jovens apenas passem em vestibulares como o ENEM, e simplesmente sejam inscritos em uma ideologia branca dominante, de matriz colonial, que desconhece a formação de sujeito pensante na favela e que impossibilita que seus saberes sejam inscritos como tais? É preciso pensar em como inserir saberes não chancelados pelo MEC, ou como dito no episódio “como tornar esses saberes possíveis?”, na rede educacional produzida pelo Estado. É preciso pensar como tornar possível que os conhecimentos produzidos em espaços periféricos sejam inscritos na rede educacional do Estado.
A favela aqui é vista como protagonista de sua história. Essa mudança potencializa o saber vindo da favela. Um saber que permite a vida, porque, segundo Gelson, “só estamos vivos por causa de nós”. Isso reafirma que os conhecimentos não-acadêmicos são conhecimentos assertivos e poderosos advindos da população periférica. A resposta está na formação pelas redes, pelos coletivos, pelas rodas. É preciso apostar nestes outros espaços e formas de transmissão que fazem circular esses conhecimentos dentro e fora da favela. Afinal, “a gente não faz nada sozinho”.
A favela renova a ideia do Movimento Antropofágico, símbolo da Semana de Arte Moderna de 1922, ao misturar balé, samba, break, frevo, pagode e funk na inovação chamada “Passinho”. E não para por aí. Motivados pelos desafios das mídias sociais, os dançarinos entrevistados no episódio 16, “Passinho e Dancinha”, criam novas variações como “Reverso” e “Macumbinha” ao ritmo acelerado do beat de 150bpm e 170bpm.
O Passinho, por exemplo, está mais ligado ao duelo entre dois ou mais dançarinos, impondo uma dinâmica gamificada, típica da nova geração Y. As batalhas presenciais reúnem moradores de diversos territórios do Rio de Janeiro, integrando aqueles na arte aqueles separados por questões de segurança pública. O Passinho se destaca com a característica de ser um movimento no qual se juntam várias formas de manifestações artísticas do universo da dança. “Passinho é uma forma mais radical de demonstrar, uma mistura muito grande de várias culturas, ballet, molejo, swing, tudo junto.” (RD).
Desde o isolamento social durante a pandemia de Covid-19, o aprendizado dos movimentos do Passinho acontece através da própria visualização de vídeos pela internet. A divulgação de suas inovações e variações ocorrem majoritariamente pelo aplicativo de vídeos curtos mais popular entre os jovens, o TikTok. E nisso, lazer e trabalho se chocam. Por ser uma ferramenta fechada, o acesso a este material audiovisual acaba ficando restrito às bolhas definidas pelos algoritmos destas ferramentas digitais, impossibilitando sua indexação por ferramentas de busca como o Google. Já a “Dancinha” dialoga mais com os bailes dos anos 80 e 90 como uma dança predominantemente parada, mas com jogadas de ombro e de pé, tendo os dançarinos se apresentando em grupo.
A noção de trabalho associado à dança aparece inicialmente como esforço individual para o aprendizado e aperfeiçoamento. O aspecto lúdico, no entanto, sempre está presente, desde a fase inicial de treinamento, passando pelos encontros em desafios que geram uma comunidade, até a profissionalização, onde se assume o projeto de “ganhar o pão de cada dia” com a dança. Do enfrentamento das interdições com a ocupação dos espaços públicos à participação nas batalhas é uma trajetória impulsionada pelo desejo de mostrar o potencial artístico da cultura que nasce nas favelas, bebendo na inspiração e legado dos mais antigos. A dança também é vista como uma possibilidade de ascensão, capaz de abrir várias portas, desde o tutorial para turistas estrangeiras até a monetização dos conteúdos nas redes sociais. Passam a usar a internet como uma ferramenta, mas é preciso dominar a tecnologia para ter sucesso no mercado. Viver da dança, trabalhar dançando, trabalhar no que gosta, não ser escravo! Nem todos, no entanto, chegam a poder viver da dança, que fica como um momento lúdico da juventude.
Até porque, como parte de um compromisso – para além do trabalho, é preciso “dizer o que a sociedade precisa ouvir”. Esta frase, proferida por Akin, no episódio 18, “Roda de rima”, sintetiza a concepção do Hip-Hop e do Rap como um movimento cultural de natureza fundamentalmente política. A influência da música do rapper MV BILL, a pegada militante, mostra que o RAP é um compromisso, não é só juntar gente. Assim, o RAP é visto como tendo um compromisso político e social que envolve a responsabilidade da pessoa que está com o microfone na mão. Diferentemente de cantores de outros estilos, para os cantores de Rap trata-se de um dever: o dever de dizer o que a sociedade precisa ouvir.
Sendo uma uma proposta política de cunho educativo e comunicacional, envolve não somente os participantes da sua tribo, mas outros moradores e vizinhos. Neste processo o resgate da música e cultura dos ancestrais africanos é parte da construção da identidade, na medida em que se assume que “a gente herdou uma responsa”. Qual é a responsabilidade legada pelos ancestrais? A compreensão que “a gente não vive liberto”, por isso é preciso ir à luta, mesmo que tentem desqualificar as denúncias dos favelados como “mimimi”. Termina com a pergunta: “Que favela é essa que ganhou?”
Hoje, o funk e o trap estão entre os gêneros mais ouvidos nas plataformas de streaming no país. Para se ter uma ideia, a indústria da música no Brasil movimenta bilhões de reais, sendo que a maioria desse faturamento vem justamente do streaming. A profissionalização de jovens de periferia neste mercado em ascensão permite uma autonomia na produção cultural e uma maior participação econômica nos proventos oriundos dos direitos autorais das músicas. Esta passagem da produção cultural para a produção musical visa garantir a realização do sonho de seus integrantes, que manifestaram o desejo de alcançarem uma sustentabilidade financeira a partir do trabalho com a arte, sem abandonar a verve política do movimento Hip hop, gênese da roda de rima.
6) Liberdade, sonhos e desejos ou “ter a liberdade de experimentar”
No primeiro episódio da série Papo na Laje, os jovens em roda, ao falarem de sonhos, trazem como um dos elementos a “transformação da realidade”, ou seja, em seus discursos a ação lúdica e imaginativa está integrada à ação concreta. É o sonho como motor de mobilização e realização para a transformação da realidade em que se vive. Mas o sonho aqui apresentado não se limita a uma mera ação individual, mas sim a uma ação que é fruto de um sujeito coletivo. O sonhar só encontra sentido e potência quando partilhado: sonhar junto, em roda, com a sua comunidade. E nesse sentido, o território e seus habitantes são uma das preocupações centrais do sonho coletivo desses jovens, se traduzindo, por exemplo, em “trazer projetos para a comunidade”, na preocupação com as crianças, com seus vizinhos e amigos.
Eles consideram que muitos desses conhecidos da sua comunidade possuem uma “venda nos olhos”, que limita a existência à rotina de trabalho, escola e casa, tendo uma ausência de outras perspectivas. E aí a desigualdade dos sonhos surge como uma crítica, porque os sonhos da “zona sul” da cidade, lá no asfalto, são diferentes dos sonhos da favela, onde muitas vezes não são apresentadas oportunidades de uma existência além da rotina ordinária. Mas para isso, mais uma vez, a solução é o “sonhar junto” para transformar a realidade.
O sonho de uma cidade mais acolhedora, onde as crianças possam brincar em segurança nas ruas aparece também nas falas dos jovens. Aliás, as crianças são citadas recorrentemente ao longo do episódio, e em especial quando se fala dos sonhos, como uma representação simbólica desse sonhar e do futuro que se presentifica. E são crianças que também sonham, como o sonho de uma delas partilhado no episódio de, quem sabe um dia, poder saborear, toda semana, estrogonofe e bolo de abacaxi no lanche da escola?
Ao falar dos sonhos, Gleice, entrevistada no episódio 12, “Trança e Identidade”, coloca em perspectiva o poder de escolher e experimentar o que se deseja: desde o tipo de cabelo até a profissão, já que esse poder de escolha foi e é negado muitas vezes à população negra. Para ela, vida é experimentação e é isso que ela deseja para si e os seus: “Eu quero que as pessoas se deem chance de experimentar, se deem chance de fazer coisas diferentes para se descobrir. Porque não tem só preta cabeleireira, não tem só preta manicure, tem preta que vai fazer R.I…”. Nesse sentido, o poder de escolha tem também a ver com poder subverter o estereótipo que se espera que você adote e assumir novas escolhas, espaços e posições.
Na fala de Milena, também no mesmo episódio, a própria possibilidade de sonhar já é um sonho, o que aponta a violenta realidade de muitos sujeitos no Brasil: enquanto para uma parte da população o sonhar é estimulado e considerado algo natural, para outra parcela – preta, pobre e favelada – o que se impõe enquanto realidade é a sobrevivência. Milena sonha para si e os seus a realidade de estar viva e poder ter perspectivas para o futuro. No fundo, os sonhos de Gleice e Milena dizem respeito a elementos básicos da experiência humana, quais sejam: experimentar a vida que se vive e escolher os próprios sonhos, tendo oportunidades concretas de realizá-los.
No episódio 17, “Ser mulher”, as entrevistas são induzidas pela questão inicialmente colocada pela entrevistadora, a partir da condição de ser mãe. Ao tratar ser mulher e ser mãe como equivalentes, ocultam-se as representações de outras formas de existência da mulher. No entanto, ser mulher e ser mãe é a realidade de muitas jovens nas favelas e periferias.
Para parte dessas jovens, a realidade que se apresenta cedo vem na ordem “namorar, engravidar e a vida desandar”, assim falam as entrevistadas que se tornaram mães ainda na adolescência e, para elas, ser mãe foi deixar os sonhos para trás. “Eu tinha o sonho de ser atriz!” Esse pode ser um sonho comum em uma adolescência vivida no Rio de Janeiro, influenciada por uma ideia de glamour do universo do espetáculo na cidade que é um polo de produções artísticas no Brasil. As relações entre sonho e realidade aparecem nos discursos e evidenciam as impossibilidades dos sonhos diante da realidade quase predestinada.
Adolescentes têm sonhos comuns a esta faixa etária, como o de ser atriz, por mais distante que isso esteja da realidade de quem vive nas favelas e periferias. A gravidez precoce, fruto dos desejos e afetos, vem exterminar os sonhos e substituí-los pela dura realidade de se tornar responsável pela casa e pela vida dos filhos, pelo cuidado da família. Essa realidade muitas vezes vem acompanhada por agressões e violências, pela falta de apoio para buscar uma saída, seja da parte do Estado, seja por parte de familiares e conhecidos. Ao contrário, muitos tentam convencer essas jovens mulheres que já não tem mais jeito, não há saída para ela e para seus filhos, sua sina já está traçada.
Reencontrar o desejo é um processo de reencontro consigo mesma, muitas vezes fruto da separação que rompe com o domínio masculino. Outras vezes, esse reencontro se dá como parte da trajetória mesma da maternidade e das lutas pela sobrevivência. Diferentemente do sonho adolescente que foi interditado, o desejo da mulher que se constrói nas suas lutas é algo que se coloca como uma perspectiva, uma possibilidade que exige esforço e dedicação para ser alcançada. Se o desejo é da esfera do real e os sonhos do âmbito da fantasia, ambos nunca deixam de existir, sendo permanentemente reconstruídos, em qualquer fase da vida.
O episódio apresenta duas visões distintas da maternidade: a mãe que tem que ficar com os filhos sempre, na qual o cuidado dos filhos é sua responsabilidade praticamente exclusiva; e, a mãe que é apartada dos filhos pelo medo de lhes tirar as oportunidades, que o pai, com melhores condições financeiras, supostamente pode prover. De um lado, temos o peso da responsabilidade com os filhos sobre a mãe: “O filho é sempre da mãe”. Por outro lado, o peso da dor, da saudade e a necessidade de proteger os filhos de vivenciar agressões à mulher proferidas pelo pai.
Outro elemento importante que aparece é a necessidade de uma rede de apoio ao cuidado dos filhos. O emprego formal se torna uma impossibilidade pela falta de uma rede de apoio. O cuidado é compartilhado por parentes, vizinhas, amigas para dar conta da carência da rede formal (creches) que não cobrem efetivamente os horários comerciais. A manutenção financeira da família se torna uma luta diária, na qual o trabalho tem que ser feito em casa para dar conta do sustento e do cuidado com os filhos.
Nos dois casos, as oportunidades criadas pelas entrevistadas para o trabalho acabam se configurando no universo do cuidado que vem com a maternidade – a necessidade de cuidar, de alimentar, de limpar, esse outro que é dependente de você. A Thamires conta que se vira com vários tipos de trabalho para buscar o sustento da casa, mas que o seu encontro é no universo que envolve o preparo de alimentos, no qual ela passa a entender a comida como prazer, querendo investir na formação em Gastronomia, elaborando outra forma de desejo de crescimento pessoal e profissional. A Ingridy, por sua vez, vive separada dos filhos, e dentre os “corres” que faz, cuidar dos outros é a sua principal fonte de renda. Ela relata que, por falta de suporte jurídico e a ideia de que poderia tirar as oportunidades dos filhos, perdeu a guarda deles para o pai. Que o seu sonho é estar com os filhos e que seu desejo é ser técnica em enfermagem, profissionalizando esse fazer. O cuidar torna-se desejo. Os discursos evidenciam a distância entre vontade e realidade, entre sonho e desejo.
7) O interdito e o extra dito ou “a favela sempre dançou”
O episódio 17 tem como pauta a temática principal “ser mulher“. As participantes trouxeram discussões profundas e válidas sobre questões como a maternidade, mas percebemos que, de modo geral, o percurso dessas discussões excluiu inúmeras questões importantes, como por exemplo: debates sobre o papel social da mulher, problematizações quanto aos padrões impostos sobre a ideia de feminino e até mesmo tópicos feministas sobre os direitos das mulheres. Com isso, fica implícito que, no episódio, a questão da mulher fica resumida a uma antiga ideologia sociohistórica que atrela a ideia de ser mulher à ideia de ser mãe.
Pensamos, então, que houve certos assuntos ausentes ao longo do episódio. Através dos discursos, é notável que a vivência dessas mulheres está relacionada a um desamparo que se faz presente através de micro agressões e de sentimentos como impotência, insegurança, etc. Porém, existe, ainda, uma ausência estatal muito forte que não foi mencionada ao longo do episódio. Apesar do enfrentamento de diversas dificuldades cotidianas, as discussões não mencionam nenhum tipo de auxílio governamental que poderia ser propício para estas mulheres, e esta ausência produz um silenciamento assumido pelo Estado. Um exemplo disso se faz presente no relato de Thamires, que, em um posto de saúde com seus filhos, revela não se sentir amparada ou cuidada em momento algum.
O silêncio aqui aparece como uma possibilidade de trabalharmos a incongruência presente nos discursos das mulheres brasileiras, visto que, ao não trazerem questões que remontam uma insatisfação sociopolítica, percebemos como estas faltas também produzem significados e têm consequências reais em suas vidas, como desamparo, apagamentos e silenciamentos constitutivos. Pensamos, então, que estes silêncios estão constituindo sentidos de naturalização de diversos tipos de desamparo. A omissão estatal muitas vezes é naturalizada e estas problematizações são apagadas dos discursos femininos. As questões que foram deixadas de lado ao longo do episódio 17, “Ser mulher”, aparecem como não-ditos que também constituem parte das lutas diárias dessas mulheres periféricas.
No episódio 16, sobre “Passinho e Dancinha”, vimos como a questão do corpo e da arte estão presentes na vida dos entrevistados, transformando suas jornadas e ressignificando suas vivências. A arte é significada na vida deles como uma perspectiva de melhora de vida, e com isso, como uma possibilidade de não apenas valorizar um nome e/ou potencial individual, mas também uma arte e cultura coletiva. Começamos a perceber todas as significações que giram em torno da questão da dança, constituída historicamente como uma forma outra de funcionamento da linguagem. O corpo não apenas dança, como também fala: fala de uma vivência que circula pela favela, que abre portas e cria novos modos de socializar.
Retomamos aqui a definição proposta de Passinho como uma dança que envolve mistura de culturas e propõe um duelo. A noção de duelo é comumente definida como um embate, um conflito entre duas partes. Através dos discursos e da contextualização do episódio, o duelo proposto pelo Passinho não tem conotação negativa, mas se trata de um duelo simbólico, um duelo no qual dois dançarinos se enfrentam a fim de se conectar numa intervenção cultural periférica. Esta ressignificação constitui uma movência de sentidos, visto que o sentido historicamente estabilizado desta palavra começa a apontar para uma conotação outra, que engloba uma coletividade favorável aos sujeitos periféricos e à cultura dos bailes. Assim, o sentido de duelo é atualizado no momento da enunciação.
Linguisticamente, diremos que o Passinho e a Dancinha são duas materialidades discursivas distintas que unem a comunidade, ressignificam histórias e afetam toda uma rede discursiva do que é arte/cultura na favela. Em um momento do episódio, o entrevistado retoma a questão da colonização e fala da importância de “pessoas que falam como ele”. Aqui, “falar como” retoma um senso de comunidade que ressoa historicamente, não apenas entre os dançarinos que fazem parte dessa constituição social, mas também entre todos os(as) moradores(as) da favela envolvidos naquela vivência. “Falar como” pode ser lido como “dançar como”, e assim, vemos como os corpos não apenas dançam, como também contam uma história e ousam falar por si mesmos.
Considerações finais
Neste artigo, a partir de uma seleção de episódios do Programa Papo na Laje analisados pela equipe de Análise de Discurso do Dicionário de Favelas Marielle Franco, percebemos que discursos produzidos pelos(as) jovens reforçam a necessidade de ocupação dos espaços políticos, especialmente a partir do recorte racial e de gênero que atravessa toda a construção do que é ser jovem ontem, hoje e amanhã. O território, como identidade construída politicamente, rompe barreiras físicas e sociais, cria novas possibilidades, redes de relações que englobam aqueles que juntos querem transformar a realidade.
A produção da política – e da cidade – é cotidiana na produção de seus próprios corpos em tensionamento à ordem instituída. O elemento comum da negritude é mencionado como elo de conexão com redes de afetos, mas também como agregador de sofrimentos e violências. O aprendizado trazido pelas ancestrais é, neste sentido, circular – orienta passado, presente e futuro. A articulação entre raça, gênero e classe se faz presente nas lutas por reconhecimento e redistribuição. Sob a perspectiva das juventudes periféricas, essa articulação é constituinte de qualquer luta, sendo marcadores que produzem também suas próprias subjetividades – como se perceber mulher negra e/ou se tornar artista.
Um dos marcadores mais importantes para essas juventudes periféricas e suas formas de fazer política é também o território. A identificação ao território, expresso na noção de “cria”, denota um lugar no conjunto de relações sociais, que não exclui vínculos políticos, sociais e culturais que ultrapassam tais limites. O território é identidade e é também pertencimento, mas se expande na construção de redes e na incidência do que são suas ações. Para tanto, os jovens utilizam de diferentes recursos e linguagens, incluindo as mídias digitais, para romper e superar as barreiras reais e invisíveis na construção de novos sujeitos(as) políticos.
Assim, a realidade objetiva de moradores(as) de favelas e periferias se materializa, em seus dizeres, na própria percepção sobre si mesmos, incidindo, assim, sobre seus corpos, ação política que tensiona o que pode ou não pode ser dito. É linguagem, ação política e resistência. Ao tomar esses discursos, procuramos contribuir com o debate sobre a potencialidade das identidades coletivas e a produção de políticas públicas a partir das favelas e periferias, considerando o papel de práticas culturais, como as mídias digitais periféricas.
Através do discurso os jovens favelados se constroem como sujeitos políticos, capazes de reconstruir sua autoestima, sua inserção social, seu universo linguístico, sua identidade. Ao ressignificar o território, os corpos e seus movimentos, os cabelos e a negritude, a ancestralidade e o cuidado, vão tecendo sonhos e transformando a realidade.
[Agradecemos as contribuições dos demais participantes do grupo de Análise do Discurso do Dicionário de Favelas Marielle Franco: Clara Faustino, Vanise Medeiros, Gabriel Nunes, Palloma Menezes e Arthur William]
Referências
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
D’ANDREA, Tiarajú Pablo. A formação dos sujeitos periféricos: cultura e política na periferia de São Paulo. São Paulo: FFLCH, 2013.
ORLANDI, Eni. Análise de Discurso – Princípios e Procedimentos. São Paulo. Editora Pontes, 12ª edição, 2015.
ORLANDI, Eni. Análise de Discurso: princípios & procedimentos. 8. ed. Campinas: Pontes, 2009. 100p. Anselmo Peres ALÓ SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 15/3 (esp), p. 389-394, dez. 2012.
ORLANDI, Eni. Análise de Discurso – entrevista a Raquel Goulart Barreto. TEIAS: Rio de Janeiro, ano 7, nº 13-14, jan/dez 2006.
PAPO NA LAJE – YouTube. Disponível em:<https://www.youtube.com/@PapoNaLaje>. Acesso em: 21 set. 2023.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.