Por que o toque é um evento político?
Autora explora o papel dos sentidos para analisar conceitos de violência, gênero, sexualidade, segurança, democracia e identidade. O tato informa o corpo e sem ele o Estado não existiria, diz. Leia um trecho do livro, publicado pela GLAC
Publicado 10/11/2023 às 16:23 - Atualizado 10/11/2023 às 18:02

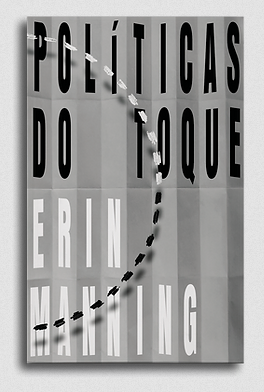
Este texto integra o livro Políticas do toque: sentidos, movimento e soberania, de Erin Manning, publicado pela editora Glack, parceira editorial de Outras Palavras.
O corpo como modalidade sensorial se engaja com um outro através do toque, o qual, por sua vez, transpira violência potencial em seu desejo de transformar o espaço entre si mesmo e o outro. O que diferencia isso do modo de organização do corpo-político nacional é o fato de que o toque como um modo de alcançar é um meio sem fins. Não há preocupação com um destino final no que concerne ao toque. De fato, não há nem self, nem outro como tal. O corpo é o intermediário através do qual crio, com você, o espaço compartilhado de nosso toque, nossa subjetividade-em-processo. O toque como um estender-se é um gesto de espaçamento, uma instância da violência inexorável da diferença, do incognoscível. O toque é um movimento em direção a um outro através do qual re-conheço a mim mesmo de modo distinto, espaçando o tempo enquanto temporalizo o espaço.
Meu gesto em sua direção é momentâneo. Não há toque que possa durar para além do primeiro instante de contato. Para tocar demoradamente, preciso tocar novamente: como meu foco se alterna para outra coisa, minha pele se esquece de reconhecer a sua. Para me tocar, você precisa retornar o toque para si mesmo, em um processo de contínua troca. Por ser temporário e imediato, o gesto não é mais do que momentâneo. Este é um instante político no sentido mais ético, já que requer uma contínua re-articulação, em lugar da subsunção ao mesmo. Caso eu tente assimilar você pelo toque, não poderei te alcançar. Pelo contrário, aplicarei o pior tipo de violência sobre seu corpo, pois ele agirá apenas como um receptáculo para minha direcionalidade. Seu corpo se transformará em presa. Se, ao invés disso, eu reconhecer a efemeridade do gesto, arrisco uma abertura em direção ao “ethos como esfera mais peculiar do humano”.1
O momento do toque como um alcance é o momento raro em que a política e a ética existem lado a lado. É raro não apenas porque ocorre com pouca frequência, mas também porque é acidental, momentâneo e efêmero. É uma ético-política em desconstrução que resiste brevemente à segurança, à estabilidade, à classificação. Esta ético-política, por mais violenta que possa ser (já que sempre resulta de uma “tomada” de decisão), caso fosse pensada juntamente com o toque como modo de codificar a política do corpo, liberta-nos momentaneamente da dinâmica de construir fronteiras sobre qual se baseia o aparelho de Estado que, se se confrontasse com o toque como meio de codificação do corpo-político, faria uma tentativa de aprisionar este terceiro espaço recém-criado em suas matrizes de inteligibilidade. É esta ético-política que estou tentando indicar, uma ético-política que está, por necessidade, sempre levemente fora de nosso alcance.
O toque, como momento ético-político, rompe com a alternativa falaciosa entre fins e meios, que paralisa tanto a ética quanto a política no interior da matriz de regimes de territorialidade imposta pelo Estado. A mediação do toque não é nada além de um processo tornado visível, um processo que se volta para a criação e disseminação do meu corpo através da reciprocidade do seu corpo, não como uma entidade per se, mas como potencialidade. Porque o toque torna visíveis os meios de alcançar, ele pode ser considerado como uma contrapartida do momento político do encontro, momento no qual há a emergência do ser-em-medialidade da humanidade. Este momento é ético não em razão das intenções daquele que se inclina para alcançar , mas porque o próprio ato de alcançar não pressupõe nada além da intermediação de uma resposta, ou seja, além da criação de um terceiro espaço. Ainda que me retraia e não alcance você de fato, já alterei o espaço que modula nossos corpos relacionais. O gesto que é o toque, não importando se é ou não capaz de alcançar aquilo para o que se inclina, torna-se a comunicação de uma comunicabilidade. Este gesto não fala por meio de frases, fala ao corpo, recordando-nos que nossa pele sempre está em movimento no tempo e no espaço, derramando-se e derramando-nos.
A decodificação das informações através dos órgãos sensoriais do corpo é obtida por meio da relação entre o corpo e o ambiente. A percepção sensorial depende do encontro do mundo com o corpo à medida que o corpo se torna mundo. Os sentidos traduzem o corpo não como indivíduo, mas como troca relacional entre corpos e mundos. Tal como descrito por Gil, “as esfoliações do espaço do corpo, enquanto formas abstratas, integra a informação proveniente de um corpo perceptível e torna possível sua tradução em um outro objeto, pertencente a uma esfera sensória distinta.”.2 As esfoliações do tato em várias superfícies do corpo como espaço-tempo, resultam no desaparecimento do Um e no aparecimento de uma diferença singular em movimento, que se desconstrói infinitamente. Ao esfoliar-se, o corpo se dissolve no espaço, torna-se espaço, reemerge como espaço.
Esta é a metamorfose do corpo da qual fala José Gil, “uma condição da atividade de traduzir códigos: a cada esfoliação, há a metamorfose de todas as formas em modos espacializados de si”.3 Somos o espaço da relação: não há corpo unificado. Há peles, superfícies receptoras, movimentos gestuais, desejos por um outro. O corpo é um potencial ativo, não uma tautologia.
Nos escritos de Aristóteles, destaca-se sua observação de que a percepção primária mais comum é o tato. O tato, sugere o filósofo, é necessário para os outros sentidos. De acordo com ele, o meio que corresponde ao tato é a carne, e o elemento do tato é a terra. De algum modo, Aristóteles complexifica esta compreensão do tato ao sugerir que o órgão do tato “deve estar dentro de nós”.4 A invisibilidade do órgão que representa o tato leva Aristóteles a se questionar se o tato seria composto por um ou vários sentidos. Para ele, o tato é o primeiro sentido, o mais necessário para a manutenção da vida: “O tato em bom desenvolvimento é a condição para a inteligência do homem”.5 O tato, para Aristóteles, é o sentido indispensável para a vida, o sentido que o ser humano temsimplesmente por ser, enquanto os demais sentidos, ele sugere, os “temos para o bem-estar”.6 Para o filósofo, o tato é o “senso comum”, não algo além nem superior aos demais sentidos, mas sua natureza comum.
O tato como senso comum nos leva de volta ao campo político da res-publica do Estado, às suas práticas de inclusão e exclusão baseadas no consenso. Também nos leva a refletir sobre a insólita mudança entre con-sentir e con-senso, como de fato se define. O senso comum, no sentido aristotélico, aproxima-se do con-sentir em sua etimologia, que referencia aquilo con-sentido. Entretanto, ambos os termos foram usurpados na política para simbolizarem uma soma de opiniões análogas. O senso comum, assim como o consenso, é frequentemente associado a uma política que faz suposições sobre a base de conhecimento de seus constituintes, uma certa filiação de um grupo político delimitado. O senso comum é, muitas vezes, o sonho do consenso, que impulsiona o imaginário da nação e suas narrativas adjacentes de identidade e território. “Para o bem comum” é a prática e a promessa de uma política baseada no consenso. A noção de esfera pública, de Jürgen Habermas, e a política de reconhecimento, de Charles Taylor, são dois exemplos desta operação.
A vocação intrínseca da política de Estado é unificar objetivos e organizar aspirações em uma unidade espaço-temporal. Ela não lida bem com rompimentos em seu tecido social: a política deve ser comum, e onde a comunalidade não pode ser encontrada, deve-se traçar uma linha criando uma fissura entre o dentro e o fora, entre o conhecido e o desconhecido, o eu e o outro. Esta unificação de forças em nome do “bem comum” tolera a dominação em nome de um reequilíbrio das relações sociais. Cada corpo deve ser colocado em seu lugar, e é necessário colocá-los em posições específicas, para que possa haver a distribuição de poder que inscreve adequadamente a ordem social nas matrizes de inteligibilidade. O corpo se torna inteligível tão logo é visto como comum. A inteligibilidade como comunalidade é a articulação política primordial na linguagem do Estado-nação.
Entretanto, sempre há fugas possíveis da matriz de inteligibilidade do corpo-político, uma desarticulação resiste. Estas possibilidades contestam a soberania do Estado-nação em seu cerne, mesmo quando a resistência ainda não está em ação com este propósito definido.7 Uma política toque é um dos meios pelos quais o corpo resiste ao Estado. O toque como uma inclinação adiante coloca em primeiro plano a incognoscibilidade que está no âmago de todos os corpos de conhecimento, recordando-nos de que não podemos conhecer o corpo, tal como alega o Estado, já que nenhum corpo está plenamente articulado. Cada corpo se mover de modo distinto, in-diferença ao Estado.
Tocar outrem é um gesto recíproco rumo à incognoscibilidade que sublinha a incompletude do Estado, instância invariavelmente falha na tentativa de subsumir o corpo ao seu domínio. O toque enfatiza a discrepância entre a violência do corpo como multiplicidade e a violência do corpo como identidade. O que sabemos sobre o Estado é que ele não pode operar sem violência: o poder do Estado não pode existir a menos que detenha o direito maior e exclusivo de empregar a força. E esta violência é reproduzida em nome da segurança enquanto o Estado não identificar e docilizar todos os corpos sob seu domínio (e ao longo de suas fronteiras). A violência do toque, por outro lado, não se refere ao controle, ela é produtiva. Quando o Estado se apodera do corpo, tenta criar um laço de reciprocidade absolutamente hierárquico; quando o corpo abandona o (imaginário do) Estado, passa a criar outros corpos, outros mundos. A violência é operacional em ambas as instâncias. Entretanto, quando o corpo se afasta de um espaço soberano, territorializado, demarcado e passa a se mundificar, emerge um cronotópo que não pode ser delineado rigorosamente, através do qual ocorrem justaposições e convergências que multiplicam o espaço-tempo por meio de camadas textuais, criando novos corpos em movimento. O espaço se amplia com o corpo e se encolhe com o Estado.
Certamente, a violência permanece fatal, mas neste caso o Estado não a detém exclusivamente, podendo ser vista, agora, como uma rede de forças que produzem efeitos de poder e de conhecimento com os quais o corpo pode operar. Enquanto no sistema de soberania do Estado as infrações permanecem sendo crimes contra o Estado, o corpo que desafia tais limites compartilha do potencial de violência e, portanto, concebe-a não como um momento da “queda” exterior, mas como um momento de habilidade em ser responsivo. Esta é uma mudança fundamental, pois quando a violência é um direito exclusivo do Estado, todos se tornam culpados por serem culpados. Porém, quando a violência se apresenta como um empreendimento compartilhado entre corpos através da complexa modalidade que é o toque, ela se torna a medida de resposta na tomada de decisão, envolvendo a capacidade em responder não apenas ao outro, mas a si mesmo.
O Estado necessita do corpo. Se desalojarmos o corpo do Estado (um dilema conceitual sempre em exercício, uma vez que o corpo está em contínua metamorfose), a rede de forças que sustenta a imagem do Estado desaba imediatamente. Torna-se evidente que o corpo nunca pertenceu ao Estado, que sempre extrapolou seus limites. Isso não significa que não haja uma representação do corpo ativo na política do Estado-nação atual. Afinal, a operacionalidade do conceito de nação depende dos corpos.
Conceitualmente, o Estado-nação poderia ser denominado de Estado-corpo, razão pela qual o corpo-político do Estado concentra-se tanto em desenhar uma imagem do corpo que deve permanecer dependente do imaginário do Estado-nação. Caso removêssemos do Estado o corpo, a fusão entre território e identidade não poderia ser sustentada. Se imaginássemos o corpo não como um contêiner que regressa ao Estado para sustentar-se, mas que desafia, através de condições de metamorfose, as conclusões predeterminadas pelo Estado sobre seu pertencimento e inseguranças, encontraríamos um corpo desestatizado e um Estado descorporificado. Este Estado descorporificado atravessa o espaço e o tempo não em direção às estriadas matrizes de inteligibilidade, mas rumo a novas redes de poder e conhecimento. Este corpo vive nas infralinguagens, não nas récitas silenciosas dos encantamentos da soberania do Estado.
Notas:
1 Giorgio AGAMBEN, Means without ends, op. cit., p. 57; ed. bras.: Meios sem fim, op. cit., p. 58.
2 José GIL, Metamorphoses of the body, op. cit., p. 25; ed. port.: Metamorfoses do corpo, op. cit.
3 Ibidem, p. 38.
4 Aristóteles, De Anima, ed. Sir David Ross (Oxford, Oxford University Press, 1961), 11, p. 423b.
5 Ibidem, p. 9.
6 Ibidem, p. 13.
7 Ver capítulo 7 para uma elaboração sobre a política de Espinosa.

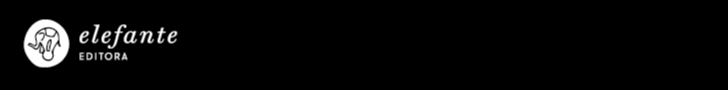

Um comentario para "Por que o toque é um evento político?"