Nancy Fraser vê saídas ao capitalismo canibal
Pensadora provoca: há algo além da necessária luta de classes. Diante da metástase do sistema, o embate deve incluir nova gramática de vida – e o Cuidado tem papel crucial. Isso exige ação política e, talvez, o populismo de esquerda
Publicado 04/04/2024 às 19:27 - Atualizado 23/12/2024 às 19:18

Nancy Fraser em entrevista a Martín Mosquera, na Jacobin América Latina | Tradução: Rôney Rodrigues
Durante décadas, a teórica estadunidense Nancy Fraser contribuiu com ideias poderosas para a esquerda. Por vezes, estas ideias são claramente políticas, como quando Fraser apela ao feminismo para cortar os seus laços com a elite econômica e adotar uma política de classe que possa atacar a opressão nas suas raízes. Noutras ocasiões, são conceitos fortemente teóricos, como quando Fraser analisa a interação entre o capitalismo e as “condições de fundo” das quais o sistema depende e as quais não pode subordinar completamente.
Nos seus últimos trabalhos, Fraser defende uma síntese entre o prático e o teórico, a fim de evitar o desastre iminente que ela chama, em novo livro, de “capitalismo canibal”: a perspectiva de que o capitalismo, ao invadir todas as esferas da vida, pode destruir as suas próprias condições de sobrevivência e, mais importante ainda, as nossas.
Martín Mosquera conversou com Fraser sobre os cenários futuros que podem ser vislumbrados no horizonte se não agirmos de forma decisiva para minar o poder do capital e sobre os desafios na construção de uma alternativa. Segue a entrevista:
Seus trabalhos mais recentes desenvolvem um “conceito ampliado de capitalismo”. Trata-se de questionar a definição tradicional que se concentra estritamente no capitalismo como sistema econômico, certo?
Na verdade, a concepção ampliada do capitalismo é uma tentativa de abandonar as interpretações inadequadas e grosseiras de um certo marxismo que pensa em termos de base e superestrutura, isto é, que afirma que o verdadeiro fundamento da sociedade é o sistema econômico e que todo o resto é uma superestrutura. Neste modelo, a causalidade flui unidirecionalmente da base econômica para a superestrutura jurídico-política. De outra forma, se falamos da relação entre o subsistema econômico da sociedade capitalista e as condições de possibilidade que constituem o seu pano de fundo necessário, a imagem da base e da superestrutura torna-se complicada. Afirmar que algo é uma condição necessária da economia implica que as atividades que fazem funcionar o sistema econômico capitalista – a produção de bens, a possibilidade de vendê-los para obter lucros e acumular capital, a compra de força de trabalho e seu uso – não podem desenvolver-se a menos que outros elementos, por vezes considerados externos à economia, estejam no seu devido lugar.
Nesse sentido, por exemplo, são necessárias relações de parentesco que organizem os nascimentos, os cuidados, a socialização e a educação das novas gerações, que reponham as forças dos trabalhadores adultos que devem alimentar, banhar-se, vestir-se e descansar para voltar ao trabalho no dia seguinte. Penso que este é um argumento que os leitores da Jacobin conhecem bem e que foi desenvolvido em detalhe por feministas que trabalham no âmbito daquela variante do feminismo marxista chamada Teoria da Reprodução Social. Se tomarmos o exemplo da reprodução social, percebemos imediatamente que, se esta condição de fundo não for adequadamente satisfeita, a produção fica arruinada. Isto implica que as possibilidades de acumulação de capital por meio do sistema econômico são limitadas por algumas características das relações de parentesco, tais como taxas de natalidade ou taxas de mortalidade. Portanto, as condições de fundo têm consequências importantes em todo o processo. Dessa forma, podemos construir um quadro mais complexo de causalidade.
Poderíamos dizer algo semelhante sobre as chamadas condições de fundo “naturais” ou “ecológicas”: a produção capitalista e a acumulação de capital pressupõem que todas as coisas materiais de que o sistema necessita estão disponíveis sem reservas e sempre estiveram na natureza, que é suficiente para elaborá-los no processo de produção. Mas as matérias-primas, as fontes de energia e a possibilidade de eliminar resíduos – todas condições de base essenciais – não são necessariamente ilimitadas. Ao mesmo tempo, é evidente que as falhas nos ecossistemas essenciais (por exemplo, o esgotamento das fontes de energia ou a poluição excessiva) também podem inviabilizar as indústrias. A covid-19 que, pelo menos num nível, é o resultado de uma disfunção ecológica, fornece-nos atualmente um exemplo particularmente interessante de tudo isto. Trata-se de um derrame zoonótico, isto é, a transmissão de um vírus que, através de algumas espécies intermédias – provavelmente pangolins – passa dos morcegos para os humanos e faz com que todo o sistema econômico se contraia e feche definitivamente. Neste sentido, podemos dizer que a covid é um excelente exemplo de uma causalidade que avança no sentido oposto ao do esquema de base e superestrutura.
Gostaria de saber mais sobre o lugar que o subsistema econômico ocupa na sua teoria. Nos seus termos, o capitalismo não é um sistema econômico autônomo porque depende de “condições de fundo” que, em certo sentido, são parcialmente externas. O exemplo da natureza surgiu. Mas mesmo que todas estas esferas sejam relativamente autônomas, elas são “condições de fundo” do subsistema econômico, o “primeiro plano” do capitalismo. O subsistema econômico não continua a ser, na sua abordagem, o elemento predominante, por assim dizer, “em última instância”?
Sim, há de fato algo específico na economia que lhe confere um vigor causal particular, uma força real e uma grande importância: o imperativo de acumular e expandir. Sabemos que a economia capitalista não consiste em indivíduos que ganham dinheiro e depois relaxam e consomem o que compraram em casas luxuosas. O capitalismo implica o imperativo do reinvestimento contínuo, que gera cada vez mais mais-valia, mais lucros e mais capital. Nas sociedades capitalistas, é uma força verdadeiramente dinâmica que historicamente teve o poder causal de alterar – em maior ou menor grau – certas condições externas à vontade do capital. Não é um poder absoluto. Corre sempre o risco de se afastar daquilo que você acabou de mencionar, de forma adequada, como “esferas relativamente autônomas”: a natureza tem os seus tempos e obedece a um tipo de reprodução que, a longo prazo, foge do controle capitalista.
Em qualquer caso, a dinâmica capitalista é uma compulsão bruta e cega que está fortemente ancorada no sistema e é muito mais poderosa do que a vontade dos seres humanos individuais que incorporam o capital, o possuem e executam a sua vontade. O impulso é tão poderoso que, em alguns casos, é capaz de modificar as condições de fundo. Embora é provável que sempre haja um limite. O que estou tentando dizer é que Marx e a maioria dos marxistas têm razão quando insistem no poder e na força transformadora que a dinâmica da acumulação implica. Ainda assim, não creio que isto se traduza necessariamente no quadro causal da base e da superestrutura. Existem todos os tipos de pressões porque as chamadas “condições de fundo” têm uma gramática de reprodução e valores normativos próprios que influenciam as decisões das pessoas.
Gostaria de me concentrar agora no seu conceito de “lutas fronteiriças”. Estas são lutas para definir os limites entre economia e sociedade, produção e reprodução, etc., isto é, entre o “primeiro plano” e as suas “condições de fundo”. A certa altura, pareceria que estas lutas fronteiriças são sinônimo de luta de classes. Ao abordar as lutas sociais desta forma, não corremos o risco de perder a especificidade da luta de classes? Se relermos a sua resposta a Judith Butler na New Left Review, poderemos perguntar-nos se a Nancy Fraser de 2021 corrige a Nancy Fraser de 1998. Cito:
Butler tenta concluir que as lutas de libertação sexual são econômicas, mas esta conclusão torna-se tautológica. Se as lutas pela sexualidade são econômicas por definição, então não o são no mesmo sentido que as lutas pela taxa de exploração. Chamar ambos os tipos de luta de “econômica” é arriscar o colapso das diferenças, criando a falsa impressão de que elas entram automaticamente em sinergia e anulando a nossa capacidade de levantar e responder a questões políticas complicadas mas prementes sobre como fazê-las entrar em sinergia ainda que, de fato, sejam divergentes ou que estejam em conflito.
Na verdade, não. Acho que descobri que poderia expressar melhor o que queria dizer usando outra terminologia. Acho que existem duas estratégias. Historicamente, pelo menos no marxismo tradicional e nos principais movimentos operários e socialistas, houve uma tendência a pensar as lutas de classes num sentido estrito, como lutas no campo da produção que se desenvolvem a partir de disputas sobre a taxa e a distribuição da mais-valia que é extraída dos trabalhadores assalariados através da exploração nas fábricas. E então sim, claro, estas lutas deverão expandir-se para além das portas das fábricas, desenvolver uma dimensão política e assumir outras reivindicações mais distantes. Mas ainda penso que, em geral, esta imagem da luta de classes como essencialmente relacionada com o trabalho assalariado em ambientes industriais é uma imagem muito poderosa.
Essa imagem levou muitas pessoas a tentarem argumentar contra o que Chantal Mouffe e Ernesto Laclau chamam de “essencialismo de classe”. Estas pessoas argumentam que as lutas de classes não são as únicas que existem nas sociedades capitalistas e que não têm o poder absoluto de definir o que é uma reivindicação justa ou o que seria uma sociedade justa. Eles não têm o monopólio dos nomes da opressão e da injustiça. E, de fato, ao longo da história, as sociedades capitalistas têm sido espaços em que enormes lutas se desenvolveram em torno da escravatura e do trabalho forçado, do gênero e de múltiplos eixos de opressão e dominação. Portanto, uma estratégia é dizer: “bem, as lutas de classes são uma coisa específica e, portanto, precisamos reconhecer lutas que não são lutas de classes, que são outra coisa”.
Contudo, de outra perspectiva, poderíamos dizer que o problema é a definição restrita do que é uma luta de classes. Se analisarmos a questão de uma forma mais sofisticada e detalhada (e penso que foi isso que quis dizer quando argumentei com Butler) podemos afirmar que as outras também são lutas de classes, mas num sentido diferente. Isso nos traz de volta ao início da nossa conversa, quando você se referia à minha ideia de um conceito ampliado de capitalismo. Na medida em que o capitalismo não é apenas uma economia, a classe não é definida apenas no campo da produção. Se entendermos o capitalismo como uma realidade que abrange todas estas condições de fundo, necessárias para que funcionem os locais especializados em que a mais-valia é acumulada à custa da exploração do trabalho assalariado, compreendemos também que a reprodução social é uma componente essencial do sistema e da maneira como suas partes se encaixam. Se dissermos o mesmo sobre a natureza, sobre os bens públicos e as capacidades reguladoras, sobre as formas jurídicas que consideramos políticas, se tudo isto também é essencial, então pode acontecer que as lutas que surgem em torno destas realidades sejam também lutas anticapitalistas, ou pelo menos lutas em torno de componentes essenciais do sistema capitalista. Podemos dizer também que, se conseguirem unir-se de forma adequada – e nem sempre é assim – estas lutas podem ser entendidas como lutas de classes.
Ao longo da história, as lutas em torno da reprodução social fizeram parte da luta de classes. Isto é o que está por detrás da poderosa exigência de um salário familiar defendida pelo movimento operário. É tanto uma luta pelas condições de trabalho – em termos literais – como uma luta pelas condições de reprodução social e de atividades domésticas. Acabou sendo uma solução que nem sempre favorecia as mulheres ou as parcelas da classe trabalhadora que não eram consideradas adequadas para um salário familiar. Mas podemos rapidamente perceber que, dependendo de como falamos sobre a luta de classes, as coisas podem tornar-se muito complicadas.
Penso que, intelectualmente, a melhor solução é redefinir as classes e a luta de classes de forma mais ampla. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter muito cuidado na hora de especificar o significado de que estas lutas sejam lutas de classes. Digo isto com uma pergunta em mente: Qual a melhor forma de promover o tipo de alianças amplas de que necessitamos para confrontar os poderes enormes e profundamente enraizados que devemos combater e desarmar? À primeira vista, afirmar que se trata de lutas de classes parece abrir o campo de possibilidades: estamos todos juntos e enfrentamos o mesmo inimigo. Todos fazemos parte do mesmo projeto. Por outro lado, há pessoas que costumam interpretar este tipo de linguagem em termos de disputa: “Tentam hegemonizar a nossa luta e negam a sua especificidade”.
Se adotarmos uma concepção alargada do capitalismo e, portanto, da luta de classes e das lutas anticapitalistas, temos a obrigação de definir com muita precisão as razões pelas quais estas lutas não se harmonizam imediatamente. Mas esta é uma tarefa que pertence à política, e é uma tarefa difícil.
A propósito, para explicar as lutas fronteiriças, costumo referir-me à perspectiva de Karl Polanyi. Sem utilizar o termo, Polanyi estava muito interessado nas lutas fronteiriças entre o que chamou de mercado autorregulado – poderíamos simplesmente dizer a economia – e a sociedade. Esta abordagem também enfrenta múltiplos problemas que não irei aprofundar aqui, mas o que é interessante e frutífero é a ideia de que a luta não se desenvolve simplesmente em torno da distribuição da mais-valia. Pelo contrário, desenvolve-se em torno dos elementos que definirão a gramática da vida. Numa determinada comunidade, o capital receberá carta branca ou não? Isto levanta questões muito profundas sobre o poder e sobre aqueles que têm o poder de moldar a gramática da vida numa sociedade. Todas estas são questões que, nas sociedades capitalistas, são sub-repticiamente retiradas da agenda política e delegadas sem o nosso consentimento ao capital e aos responsáveis pela acumulação de capital.
Falar de lutas fronteiriças, neste sentido, nos aproxima da questão que você levanta. Não se trata apenas de uma questão de distribuição, mas de gramática da vida social. A classe tende a nos fazer pensar que tudo gira em torno de “quem ganha quanto” e isso não é totalmente apropriado. O que digo também parece um pouco populista. A noção de lutas fronteiriças diz-nos que existe um problema fundamental em traçar a linha que separa a sociedade da natureza, e isto leva-nos de volta ao coronavírus e às repercussões zoonóticas. Estas questões tornaram-se hoje inevitáveis e acredito que a situação atual deve ser suficiente para deixar para trás qualquer tipo de ingenuidade a este respeito.
Problemas muito sérios surgem quando se pensa na relação entre o trabalho remunerado – que presumo que existirá, de alguma forma, numa sociedade socialista – e as outras atividades que realizamos nas nossas comunidades, as relações familiares, a criação dos filhos, etc. Estes problemas não desaparecerão e é precisamente a eles que me refiro quando falo sobre lutas fronteiriças. É provável que, no momento em que nos envolvemos nestas lutas, os interesses não sejam totalmente claros. Como socialista democrática, presumo que numa sociedade socialista deve haver algum tipo de mercado. Não creio que possamos continuar a falar de economias planificadas. Mas surgem problemas quando nos perguntamos quais são os limites legítimos dentro dos quais os mercados devem funcionar ou que coisas é legítimo comprar e vender. Penso que falar de lutas fronteiriças implica assumir que devemos contestar tudo isto nas sociedades capitalistas. Não se trata apenas de as lutas fronteiriças serem uma alternativa às lutas de classes. A questão é que as lutas de classes por vezes assumem a forma de lutas fronteiriças e as lutas fronteiriças – quando bem conduzidas – por vezes assumem a forma de lutas de classes.
Na sua conversa com Rahel Jaeggi você rechaçou a ideia de um capitalismo “pós-racista” ou “pós-sexista”, mas em “O capitalismo é necessariamente racista?”, a sua conclusão é que talvez estejamos caminhando para uma forma de acumulação capitalista em que “a base estrutural do racismo” será diluída, porque a expropriação (que fundamentava a opressão racista) não estará mais claramente separada da exploração. Poderíamos dizer o mesmo sobre a reprodução social e o patriarcado?
Não levanto esta questão para me envolver em “experiências mentais” sobre uma eventual forma de capitalismo “neutra em termos de gênero”, mas sim para avaliar o significado e o estatuto dos avanços do movimento feminista. Impulsionados pelas lutas feministas, estaremos testemunhando uma despatriarcalização parcial do capitalismo?
Pessoalmente, evito usar o termo patriarcado porque tem um significado técnico que se refere ao domínio dos homens mais velhos e a uma ideia de dependência que inclui tanto homens como mulheres. Prefiro falar sobre formas especificamente capitalistas de dominação masculina. E acredito que estas formas de dominação se referem a algo que – tanto quanto entendo – é específico das sociedades capitalistas, na medida em que se opõem às sociedades pré-capitalistas. O que é específico nas sociedades capitalistas é a nítida diferenciação entre a produção de mercadorias, que depende do trabalho assalariado e da acumulação de capital, e a reprodução social, que se apoia no trabalho não remunerado da família e de certos membros das comunidades, especialmente das mulheres. Acredito que a separação destas duas funções essenciais da sociedade baseada no gênero é específica do capitalismo, e se existe um eixo estrutural de formas de dominação masculina é esse.
Ora, eu diria que não é possível superar completamente a dominação masculina sem modificar essa separação. Devemos imaginar a relação entre produção e reprodução de uma forma completamente nova, uma forma que as torne muito mais porosas entre si. A verdade é que estas esferas não podem ser diferenciadas categoricamente, tanto em termos da sua relação com a acumulação de capital como em termos das formas como se relacionam com o gênero. É como as mudanças climáticas e a ideia de que a descarbonização é realmente impossível. Não é possível construir uma sociedade sustentável sem descarbonizá-la. Não se pode ter uma sociedade verdadeiramente justa em termos de gênero sem mexer com essa divisão. Em certo sentido, estes são argumentos paralelos. E acrescentaria que onde a raça está em jogo, é impossível alcançar a justiça racial sem mexer com a distinção entre exploração e expropriação, trabalho livre e trabalho injusto ou forçado, que acredito ser a base da questão racial.
Mas eu acrescentaria também o que Hester Eisenstein chama de “relações perigosas” entre o feminismo – ou formas de feminismo burguês liberal – e o capitalismo, o que tem a ver com o fato de muitas forças que promovem o capitalismo também quererem desmantelar estas relações tradicionais de gênero, estas hierarquias tradicionais que podem elas próprias representar obstáculos à mercantilização, capitalização e financeirização das coisas em grande escala. Se não percebermos isto, continuaremos imaginando o capitalismo como um sistema conservador, aristocrático e paternalista. É também por isso que existe uma estranha hostilidade entre as elites liberais (incluindo feministas liberais, Wall Street, Hollywood, Vale do Silício e em todos os lugares onde existe capitalismo neoliberal progressista) e as comunidades evangélicas e aqueles setores do que poderíamos chamar de “mundo Donald Trump”, que são a favor da família tradicional.
Temos agora uma nova juíza na Supremo Corte dos Estados Unidos que representa isto perfeitamente. Ela é a antítese de Hillary Clinton. Estas duas figuras icônicas representam a oposição entre o feminismo liberal de Wall Street e os valores familiares tradicionais. Diante desta situação, os movimentos feministas que, por falta de palavra melhor, podemos definir como anticapitalistas, encontram-se entre a cruz e a espada. É necessário combater os dois ao mesmo tempo.
Como você mencionou, a crise de covid-19 é um exemplo notável de como as externalidades interagem com o capitalismo de forma complexa e podem levar ao tipo de crises capitalistas que podem ser definidas como “multidimensionais”. Noutro lugar você também afirmou que, pelo menos desde 2008, a fase atual do capitalismo financeirizado e neoliberal está a atravessando uma crise – talvez terminal – que poderia eventualmente envolver a mudança para uma forma diferente de acumulação capitalista. O que é possível dizer sobre a crise atual?
Gostaria de salientar alguns elementos na forma como você coloca essa questão. Devemos distinguir entre crises setoriais e crises gerais. Uma crise setorial implica que, num regime capitalista de acumulação ou numa fase de desenvolvimento capitalista, uma área importante começa a ser disfuncional, enfrenta algum obstáculo intransponível, desestabiliza o sistema, etc. Geralmente pensamos nas crises econômicas desta forma. Os historiadores podem fornecer exemplos destas crises numa esfera ou setor da sociedade, neste caso, a economia.
Não é o mesmo que uma crise geral de toda a ordem social. Os historiadores também utilizam este conceito de crise geral: uma espécie de sobredeterminação de obstáculos e disfunções. Na verdade, acho que é isso que estamos vivenciando agora. É verdade que vivemos formas periódicas de crise econômica, como a de 2007-2008, que esteve à beira de se transformar num colapso financeiro, embora aparentemente os nossos governantes tenham encontrado uma forma de resolver o problema. Mas penso que agora podemos compreender que este impulso para a financeirização é uma bomba-relógio que está sempre pronta a explodir e que, neste sentido, a crise não foi resolvida.
Ao mesmo tempo, temos o problema do aquecimento global e uma crise ecológica muito grave, talvez catastrófica, que vem fermentando há muito tempo e que agora se tornou evidente. Cada vez mais setores da população mundial, mesmo aqueles que conseguiram permanecer relativamente isolados dos efeitos mais nocivos, começam a compreender a magnitude da crise. Temos também uma crise de reprodução social, isto é, de todas aquelas atividades essenciais ligadas ao nascimento e ao cuidado dos seres humanos, que nem sempre são diretamente mercantilizadas: educação, saúde, trabalho doméstico, trabalho de cuidado, etc. Este setor também está em crise. É muito interessante observar o ativismo que se gera em torno destes setores, que em alguns casos acolhem mais atividade sindical do que certas áreas da indústria.
Até este ponto temos uma crise de reprodução social e uma crise ecológica. Mas penso que também atravessamos uma grave crise política. E a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos está longe de ser uma solução. Isto é, em parte, uma crise de governo, com o que quero dizer que mesmo os países mais poderosos, como os Estados Unidos, carecem atualmente de capacidade de gestão para resolver os problemas que enfrentam. O poder corporativo os supera. São incapazes de lidar com uma questão como as mudanças climáticas, que não pode ser contida dentro dos limites de uma fronteira jurisdicional. A crise de governo está se desenvolvendo em nível estrutural.
Contudo, há também uma crise de hegemonia no sentido gramsciano, um abandono geral da “normalidade” política. As pessoas estão se afastando dos partidos políticos tradicionais e das elites associadas (e deve ser acrescentado: deslegitimadas ou manchadas por) políticas neoliberais. Todos estes elementos se somam e resultam numa crise generalizada. Uma boa metáfora para pensar a crise é a metástase: é possível fazer recuar um câncer que surge em determinado local, mas depois ele pode irromper para outro local. No nosso caso, pode ser tanto uma localização geográfica como setorial. Acho que esta crise está se tornando palpável e evidente para muitas pessoas. No entanto, isto não significa que nos aproximamos de algum ponto de colapso total ou de resolução revolucionária que nos levará a tomar o Palácio de Inverno ou algo parecido. Infelizmente, as crises podem durar muito tempo.
Só porque esta crise é particularmente aguda, multidimensional, sobredeterminada ou metastática, não significa que possamos saber qual será o resultado do jogo ou quando terminará. Na história do capitalismo houve crises gerais que se desenvolveram ao longo de décadas. Poderíamos dizer que todo o século XX, até à derrota do fascismo e o fim da Segunda Guerra Mundial, foi apenas o desenrolar da crise generalizada do capitalismo colonial liberal ou laissez faire. Talvez haja um longo caminho a percorrer.
As previsões são sempre difíceis, especialmente diante de grandes acontecimentos ainda em desenvolvimento. No entanto, gostaria de insistir: há alguma tendência percebida no sentido de um novo modo de acumulação ou, nos seus termos, no sentido de uma redefinição das “fronteiras” que moldaram a fase atual do capitalismo?
Direi algo sobre cenários possíveis, mas quero enfatizar que não são previsões. Em primeiro lugar, podemos imaginar que a crise atual é o que a Escola de Binghamton chama de “crise de desenvolvimento”, ou seja, não é uma crise de época. Uma crise de desenvolvimento implica que o que entra em crise é um regime específico de acumulação, uma forma específica de organizar a natureza, a economia, a produção, a reprodução, a relação entre o Estado e o mercado, etc. Há momentos na história do capitalismo em que um regime estabelecido e profundamente enraizado entra em crise. E a crise acaba por ser resolvida através da reestruturação do sistema: uma nova forma – no quadro do capitalismo – de organizar a produção e a reprodução.
Poderíamos pensar na social-democracia ou no New Deal, no caso dos Estados Unidos, como formas de reorganizar a relação entre produção e reprodução. Os Estados assumiram uma responsabilidade muito mais explícita na garantia de um certo equilíbrio social e comprometeram-se a financiar ou organizar algum trabalho de cuidado social e reprodutivo. Em teoria, podemos imaginar hoje uma analogia ecológica: as organizações intergovernamentais poderiam provavelmente assumir a responsabilidade pela internalização dessas externalidades, no sentido de submetê-las à gestão e à regulação para evitar que saiam do controle, por assim dizer, ou evitar que elas voltem-se contra elas mesmas. Uma crise que termina desta forma não é uma crise do próprio capitalismo, isto é, uma crise ética em que o próprio capitalismo dá lugar a uma forma de organização social não-capitalista ou pós-capitalista. Em vez disso, terá sido uma crise de desenvolvimento intrínseca ao capitalismo, que faz com que o capitalismo entre numa nova fase de desenvolvimento.
Isso aconteceu ao longo de toda a história do capitalismo. Poderíamos dizer que ficamos surpresos com a sua criatividade e o seu engenho, a sua capacidade de encontrar novas formas de se reformar. Estou fazendo um julgamento antropomórfico que na verdade deveria evitar, porque são sempre os atores sociais que promovem estes projetos de reforma e reestruturação. Mas a ideia da crise de desenvolvimento é esta: depois de um longo percurso através da crise – durante o qual muitas lutas hegemônicas se desenrolam para formar novos blocos históricos – uma alternativa é apresentada e ganha apoio suficiente. O resultado é uma nova forma de capitalismo. Isto é o que a social-democracia tentou fazer ao nível do Estado-nação: garantir algumas das condições de base para que o capital permanecesse em funcionamento e salvaguardar a dinâmica de acumulação como eixo principal, ao mesmo tempo que geria algumas coisas nas margens. É como Ulisses que se amarra ao mastro para evitar destruir as suas próprias condições de possibilidade.
Digo isto porque existe outra alternativa, que implicaria um ponto de virada de tal magnitude que não seríamos capazes de resolver a crise através de uma nova forma de capitalismo. Por exemplo, é provável que o aquecimento global represente mais do que apenas os limites de um regime específico. Talvez o aquecimento global represente um limite para o próprio capitalismo. É claro que não sabemos, ou pelo menos não creio que possa decidir se é assim ou não, porque a história da criatividade do capitalismo sempre me dá muito coisa para pensar. Se se verificar que esta é uma crise ética do capitalismo como tal, então existem diferentes possibilidades. Algumas desejáveis, como alguma forma de socialismo democrático global. Novamente, é muito difícil descrever exatamente como seria, mas de alguma forma ajudaria a desmantelar a dinâmica da acumulação, a lei do valor, etc. E depois, no outro extremo do espectro, temos toda uma série de resultados pós-capitalistas ou não-capitalistas verdadeiramente terríveis: cenários dominados por senhores de guerra autárquicos, guerras permanentes, regressão social ou algum tipo de regime mundial autoritário. Há também, suponho, outra possibilidade, que é a de que a crise não seja resolvida, que simplesmente se desenvolva uma lenta canibalização da sociedade humana, uma espécie de regressão lenta que nos leva de volta à mera luta pela sobrevivência.
Quero enfatizar novamente que não estou fazendo nenhuma previsão. Mas penso que seria mais justo dizer, nos horizontes do presente, que os dois cenários mais encorajadores giram em torno de um Green New Deal global no quadro do capitalismo ou de alguma forma de socialismo democrático que vai além do capitalismo. Também não tenho a certeza se um Green New Deal global pode existir no quadro do capitalismo. Alcançar as reduções de carbono necessárias pode não ser possível dentro dos limites do capitalismo. Nesse caso, esta alternativa não existiria de todo. Depois vem a solução do socialismo democrático a nível global, que é aquela a favor da qual me posiciono, pelo menos em teoria. Estes são os dois cenários pelos quais considero que vale a pena lutar e que devemos tentar gerar. E é possível que um Green New Deal global, mesmo que não seja sustentável a longo prazo, possa servir como uma espécie de programa de transição (como costumavam dizer os trotskistas) que nos guie em direção ao socialismo democrático.
É claro que ninguém pode saber o que vai acontecer, porque depende muito das ações das pessoas. Neste sentido, o que procuro fazer com o meu trabalho é esclarecer a magnitude, a dinâmica e a natureza da crise nas suas múltiplas dimensões. Meu objetivo final é fornecer uma espécie de mapa para as pessoas que estão engajadas ou pensando em se engajar em alguma forma de ativismo político. Estas pessoas têm toda uma série de preocupações e interesses que são prementes. Mas estes interesses são parciais por definição, e o que quero fazer é ajudar as pessoas a ver onde se enquadram no mapa global desta crise e fornecer uma imagem do estado das forças sociais, para que todas estas preocupações e interesses particulares possam ser mobilizados para produzir uma solução melhor para a crise.
A sua descrição assemelha-se a uma estratégia populista: a ideia de que a sociedade é composta por interesses ou demandas parciais e que o desafio é fazer com que esses interesses diversos se unam num agente político coerente. Em ocasiões anteriores você também expressou-se favoravelmente do populismo de esquerda. No entanto, os acontecimentos recentes parecem mostrar experiências falhadas de populismo de esquerda, enquanto a sua variante de direita parece apresentar um historial de maior sucesso. Que equilíbrio é possível se extrair a partir disso?
Comecei a pensar seriamente sobre o populismo depois do Occupy Wall Street. Fiquei muito surpresa com essa linguagem dos 99% e do 1%. Do meu ponto de vista, esta é a linguagem do populismo por excelência. Pode não ter a precisão e o rigor da análise de classe, mas é imediatamente compreensível e poderoso. Evoca uma resposta afetiva. Fiquei muito surpreso com a rapidez com que esse discurso foi compreendido, foi um momento de genialidade retórica de quem o inventou. Pelo menos no contexto dos Estados Unidos, esta linguagem popularizou-se com Bernie Sanders, que passou a usar uma palavra muito poderosa: “rigged” [fraude] como quando se diz que a economia está fraudada, que as eleições estão fraudadas, que o sistema está fraudado etc. Trump pegou esta linguagem de Bernie Sanders e deu-lhe o seu próprio toque.
Mais uma vez, estou pensando nos Estados Unidos, embora eu ache que o que digo é relevante também noutros países. Na época do Occupy Wall Street comecei a pensar na cultura política estadunidense e no período prévio do ativismo, que estava fortemente centrado nas chamadas “políticas identitárias”. O fato de as pessoas estarem subitamente falando dos 99% contra o 1% fez-me pensar que havia, pelo menos potencialmente, uma enorme força esquerdista nos Estados Unidos. Pareceu-me que este discurso conseguiu chegar a muitas pessoas que sentiam, talvez sem perceberem, que precisavam de uma análise capaz de explicar as conexões e de reunir uma grande força capaz de superar a fragmentação que tanto enfraqueceu a esquerda. Também percebi que conseguia distinguir o populismo de esquerda do populismo de direita.
Basicamente, minha ideia é que ambos forneçam uma espécie de mapa que defina quem está em cima e quem está em baixo, quem está pisando na cabeça de quem. No caso do populismo de esquerda, como mostram os 99% contra 1%, afirma-se que existe uma oligarquia elitista ou um pequeno grupo de pessoas que parasita todo o resto. Então a ideia é tentar mobilizar todo mundo contra esse pequeno grupo. O populismo de direita não tem esta estrutura dual. Tem uma estrutura tripartida. Existe uma elite parasitária e depois uma classe inferior parasitária que “rouba o que é nosso”. No populismo de direita, o “povo” é aquele apanhado que está no meio. Portanto, o populismo de direita levanta-se contra o 1%, mas também contra os imigrantes, contra as pessoas de cor, contra as minorias sexuais, etc. É uma imagem muito diferente, um mapa muito diferente. Penso que é importante sublinhar que o populismo de esquerda tem uma estrutura diferente.
Uma segunda diferença é que o populismo de direita define o inimigo em termos concretos, baseados na identidade ou substantivos. Portanto, quando definem os que estão no topo, é sempre uma conspiração judaica internacional ou, se estiverem na base, imigrantes sujos ou negros preguiçosos, etc. São distinções de identidade concretas que definem uma categoria de pessoa – o inimigo – em termos das suas características culturais ou substantivas. Em contrapartida, o populismo de esquerda define no máximo as características do inimigo, ou seja, não define ninguém em termos da sua cultura, da sua identidade ou de algo concreto, mas em termos da função que ocupa no sistema. Quando você diz “Wall Street”, por exemplo, percebo que historicamente a expressão pode mudar para banqueiros judeus. É verdade que não existe uma barreira absoluta entre os dois populismos. Mas do meu ponto de vista, a identificação do mundo das finanças com “o sistema” está correta. Hoje existe uma forma de capitalismo em que as finanças desempenham um papel muito importante, muito diferente do que desempenharam noutras formas anteriores de capitalismo.
Depois temos de pensar se o populismo de esquerda assim definido funciona como uma espécie de formação de transição capaz de conquistar vitórias. E não apenas vitórias. A questão é também se, no decurso da luta, este mesmo populismo de esquerda pode ensinar coisas novas às pessoas, se pode ajudá-las a compreender o sistema e a explicar o que significa afirmar que o sistema é fraudado. Fraudado, no sentido de populismo de esquerda, não significa, como diz Trump, que algumas pessoas estejam hackeando máquinas de votação e movendo dados de uma coluna para outra. Como marxistas, independentemente da tendência a que pertencemos, deveríamos ser capazes de dar substância à afirmação e explicar o que significa o sistema ser manipulado para funcionar contra os trabalhadores. Talvez as formações populistas de esquerda sejam capazes de fornecer uma porta de entrada para a luta política que, à medida que se desenvolve, irá refinar o discurso e esclarecer o que é o sistema e o que é necessário para o mudá-lo.
Dito isto, concordo perfeitamente com você que o registo do populismo de esquerda até agora, quando comparado com o da direita, não é tão impactante, no sentido de que o populismo de direita teve muito mais sucesso quando é hora de obter e manter o apoio de um grande número de pessoas. Mas acrescentaria que, neste caso, parte do problema é o descrédito que afeta a social-democracia em todo o mundo, ou seja, o descrédito dos partidos social-democratas, muitos dos quais se autodenominam socialistas. Houve pessoas, que não vieram da extrema direita, que tiveram uma enorme responsabilidade na instituição do neoliberalismo: os Clinton nos Estados Unidos, Blair na Grã-Bretanha e Schröder na Alemanha. O que estas formas de populismo de esquerda tentaram fazer foi ocupar algum do espaço que pertencia aos partidos social-democratas, e fizeram-no utilizando uma linguagem diferente. Obviamente, há pontos em que a política social-democrata e o populismo de esquerda se sobrepõem: se olharmos atentamente para Bernie Sanders, por exemplo, seria difícil negar que ele é um social-democrata. É uma ética diferente, uma retórica diferente.
De qualquer forma, não vejo outra estratégia viável. Devemos disputar os setores que atualmente apoiam o populismo de direita. É claro que me refiro àqueles que não ultrapassaram os limites, porque há certamente alguns que são irrecuperáveis. Seja como for, não podemos presumir que perdemos as grandes maiorias contra a política de direita. Se for assim, o jogo acabou. Devemos começar por assumir que é possível reconquistar uma parcela significativa dos eleitores de Trump nos Estados Unidos, ou de Bolsonaro no Brasil. Porque sabemos que nem sempre foi assim: muita gente votou em Lula ou em Dilma, da mesma forma que cerca de 8 milhões de pessoas votaram em Obama. Penso que o que o populismo de esquerda faz é reconhecer, validar e defender as queixas legítimas das pessoas e, ao mesmo tempo, dar-lhes uma interpretação diferente do que é o problema: quem exatamente está manipulando o quê, porque é que o eixo colocado no desprezo pelas classes mais baixas leva a uma beco sem saída, por que nunca será possível criar uma coligação suficientemente grande para derrotar as forças reais do capital e das finanças globais enquanto a classe trabalhadora estiver dividida, etc. Por outras palavras, penso que neste momento a nossa única esperança é um populismo de esquerda que seja capaz de evoluir para algum tipo de movimento socialista.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


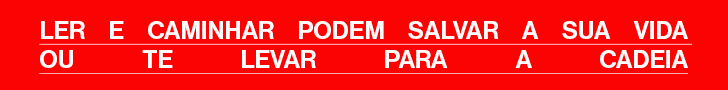
Varias são as maneiras de constatar que o capitalismo é inviável. Uma delas é que sociedade alguma sobrevive em uma cultura do venha a mim e os outros que se danem.