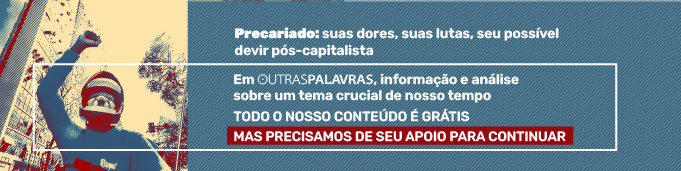Binha, a mulher do Fim do Mundo
Cena brasileira: em uma periferia insular, povoada por migrantes e invadida por arranha-céus, crise e dívida perturbam uma pomerana de olhos tristes e ouvidos bem abertos, padeira que se tornou parte da cultura local. Então, entra em cena a milícia…
Publicado 10/08/2021 às 18:40 - Atualizado 11/08/2021 às 08:18

Um conto de Roberta Traspadini | Imagem: Ana Carolina Marinho
Alvorada com susto
Ontem o dia começou com um alvoroço ouvido pelas janelas das casas e prédios da rua da histórica padaria da Binha. Ninguém sabia ao certo do que se tratava – assalto? Acidente? Briga? Somente conseguíamos intuir pouca coisa do que nossos olhos depunham das expressões das pessoas que saíam da padaria: seus filhos chorando, as trabalhadoras com as mãos na cabeça e os amigos compradores, geralmente o pessoal mais velho do bairro, com uma cara de espanto.
A cena era muito rápida. O zigue-zague de choro e espanto dos rostos conhecidos por nós se metia no meio de um sobe e desce, entra e sai, disse me disse, o que será que será. Todas estas frases impregnadas por uma taquicardia coletiva. As mãos aflitas estavam entre a boca, entre o peito, em diversas partes e em nenhuma ao mesmo tempo, tão perdidas quanto nossa real informação sobre o que estava ocorrendo.
De repente, alguém, na forma do susto pelo que havia ouvido no interior da padaria, gritou para que o vento dissipasse a todos os cantos do mundo: QUEBROOOOOU! QUEBROOOOOOU! A PADARIA QUEBROOOOOU!
Desci correndo para saber do que se tratava o quebra-quebra. Deparei-me com Binha em uma cena lastimável: o olhar distante, o corpo tombado de lado, sem alma, sem chão, sem vida. A toquei no desejo de trazê-la de volta. E perguntei: – O que quebrou minha amiga? O que está acontecendo?
Binha, após navegar por espaços profundos de um pensamento que a conectava com o que foi, o que é e o que pensa que já não mais será de sua vida em um amanhã visualizável, olhou no fundo dos meus olhos e respondeu: – Traurigkët! Foi a minha vida que quebrou, Bitita1!
Alguns passos atrás nessa história….
Mudei para este bairro da ilha – Fim do mundo – no começo do século XXI, após percorrer por um longo período os caminhos da América Latina e Caribenha. Diziam que era o último bairro da ilha, pois a mesma já não possuía mais espaço para crescer horizontalmente.
A ilha se chama Esperança e sua gente ficou conhecida como povo Esperancense. Uma mistura graciosa do verbo esperançar com a saga de diversos retirantes, boias-frias que, ao longo do século XX, passaram pela ilha para edificar seu progresso via indústria metalúrgica.
Esperança foi construída por homens e mulheres migrantes que, ao pousarem por um tempo, deixaram parte de suas lidas/vidas por aqui. Impregnaram o lugar de outros lugares, trouxeram ancestralidades e, com elas, dores, sabores e dissabores. A vida de retirante é sempre repleta de sonhos vivos de um passado que insiste em aparecer como pesadelo violento sobre determinados corpos, diziam os mais velhos do Fim do mundo.
Mais curioso ainda era o que explicavam os moradores acerca do nome deste último bairro da ilha, que, por tragédia ou por graça, foi batizado de Fim do mundo. Dizem os mais velhos – bem como as sábias mulheres benzedeiras, as rezadeiras ainda presentes na comunidade -, que adoram contar causos enquanto jogam cartas, dama, bola de pau na praça do bairro, que este nome explicava como narravam a história aos seus os que aqui chegavam no início do século passado.
Fim de mundo era um tributo ao tempo andado até o descanso, ao ponto de chegada após tantas partidas e ao cansaço de corpos fatigados pela inclusão em meio aos caminhos tortos e arados2 das pedras pelas quais passaram.
Esses homens e mulheres, guardiões da memória do Fim do mundo, traziam algo enigmático no olhar, como se a história produzida por eles tivesse sido tão coletiva que a identidade os tornava ao mesmo tempo iguais, sendo tão diferentes. Tinha todo tipo diverso de gente e de mistura desses povos na ilha. Esse povo trazia muitos EX em suas histórias. Eram ex escravos, ex migrantes, ex casadas, ex portadores de sonhos. O local foi uma construção dessa diversidade de e(x)ternos movimentos de vida.
Muitas sagas vividas em muitos lugares e entroncadas na ilha, do Estado Esperança pelo povo Esperancense. A energia tendia a movimentar-se mais como peso do que como leveza naquele lugar. Dava uma nítida sensação de que as falas estavam repletas de silêncios, os choros banhavam os sorrisos, os abraços nunca eram de fato o entrelaçamento de corpos, mantendo-os sempre distantes.
Esperança era habitada por um povo com muitas marcas. Juntas formavam um mapa de contos e recantos. No entanto, na fotografia geral, o conjunto produzia uma bela colcha de retalhos alinhavada na nostalgia de tempos desgastados.
Na rua em que escolhi morar, havia apenas uma padaria rodeada por muitos terrenos baldios. No mesmo dia em que me mudei fui à padaria comprar alguns mantimentos e foi Binha quem me recebeu e deu toda a ajuda ao longo do dia. Éramos duas mulheres com filhos, donas de seus próprios caminhos. Sem falar nada nos reconhecíamos uma na outra.
Binha era uma mulher de poucas palavras. Vinha de uma família pomerana e sempre que se zangava ou acordava nostálgica, pois herdara as dores do banzo, sua boca trazia palavras incompreensíveis para quem dominava somente o português. Como naquele dia fatídico que não cansava de repetir: “traurigkët”, “traurigkët”, “traurigkët”.
Fomos tomadas por uma enorme afinidade que consolidou uma amizade de poucas palavras, mas sempre presente ao longo destes mais de 20 anos. Binha possuía 25 anos como padeira naquele ponto. Chegava às 4 da manhã para ajeitar tudo relativo ao ofício que era sentido por muitas ruas em torno da padaria. E fechava as portas às 8 horas da noite. Era uma jornada dura para aquela mulher com dois filhos e uma história de muitas dores, fruto de um casamento violento com o qual conseguiu romper após anos de muita tortura física, psíquica, sexual.
As marcas da violência seguem vivas em seu rosto, seus braços, na curvatura de seu pesado corpo. Sempre foi um enigma para mim como conseguia preservar tanta dignidade em meio a tantas duras marcas.
Binha, por ser uma referência histórica do Fim do mundo, era muito querida, e do tempo daquelas relações em que tudo ficava anotado na caderneta. Quantas vezes eu, em minha meticulosa organização, me desesperava com sua generosidade, sua despreocupação em anotar e não cobrar o anotado. Brigávamos muito por conta disto e ela, como sempre, dizia palavras que me irritavam quando queria. E sempre sorria da minha ignorância na sua língua familiar.
A padaria de Binha foi também responsável por muitos primeiros empregos ao longo do tempo, em especial dos filhos e filhas do Fim do mundo que haviam aprendido que trabalhar era mais útil do que estudar para ajudar a família. Fora a quantidade de histórias ouvidas por Binha na bancada do pão e café com leite. Do balcão ela tinha uma visão panorâmica do estabelecimento. Via, sorridente, as crianças que, sorrateiramente, tiravam balas do balcão à frente. Uma vez ou outra os colocava para correr. Ela gostava mesmo daquele sentimento de deixar as crianças sentirem que estavam passando a perna para, logo depois, avisar aos seus pais do feito.
Binha era a padeira, a caixa, a limpadora, a organizadora. Quando o tempo era de crise, ela aumentava a jornada de trabalho na padaria e a quantidade de tarefas a cumprir por ela e seus filhos. E, quando a economia estava em expansão, empregava sem vínculos, em geral jovens, e lhes ensinava esse secular ofício aprendido com sua bisavó materna. Quanto mais gente trabalhando, tanto mais Binha se dedicava a ser criativa no estabelecimento.
Sua vida foi construída nestes, digamos, mais baixos que altos processos. A cada dois degraus que subia, vinha uma crise e descia 20. O nome disto era desigualdade. Mas, como em Esperança o povo Esperancense acreditava que tempos melhores viriam após um período ruim, Binha joga suas fichas para frente. Junto com estas iam também perduradas e profundas dívidas de dinheiro e de dores da alma.
Como pessoa, Binha transitava entre a ternura da voz, a firmeza das mãos e a dignidade que aprendeu no trabalho. Este, como dizia ela, era a única forma de torná-la livre das dores e dos castigos do casamento. Eu a defino como uma mulher de olhos profundamente tristes, boca seguramente silenciosa e ouvidos expressamente abertos a escutar seus pares esperancenses. Na padaria aquela mulher exercia muitas profissões. Era padeira-psicóloga-mãe-voluntária da igreja dos mórmons.
Graças à padaria, seus filhos se tornaram homens de muito respeito no Fim do mundo. Eram procurados para o trabalho e cobiçados pelas jovens e pelos jovens bonitos do bairro. Os meninos foram educados pelo exemplo por esta mulher de poucas palavras, com muitos dizeres em seu silêncio manifesto das dores presentes nas marcas em seu rosto e pela dignidade de seu trabalho exaustivo. Tinho e Tito tinham muito da mãe. Eram altos, fortes, silenciosos, de pouco sorriso e mãos firmes. Também traziam sua cultura pomerana nos corpos e trejeitos cotidianos.
Um detalhe importante dessa volta à história: Binha alugava, ao longo de todos estes anos, o ponto de Belarmiro. Este homem, meio bicho, meio monstro, nada humano, possuía muitos lotes no Fim do mundo, inclusive a casa em que eu moraria por mais de 18 anos.
Continuando os rumores sobre o nome da ilha, alguns moradores dizem que Esperança foi dado pelo avô de Belarmiro, recém chegado como migrante após a 1ª Guerra Mundial em 1918, contexto em que perdeu 2 filhos, 3 irmãos e um olho. Por conta disto era conhecido como o capitão Carranca, Sr. Belarmiro.
Esperança então era tanto um nome que recordava aos retirantes sua história de caminhadas, como um nome que reafirmava a posse da terra por uma família. Destas leituras ocorrerão muitos conflitos ao longo do tempo sobre a quem as terras A, B, …, Z pertencem. Esperança era tanto um desejo de pouso seguro após anos de guerra, de fome, de perdas de gente próxima, como um nome de saudade, de chegada depois de tanta andança rumo ao que comer, no sonho de progredir.
Que rara essa situação de dar um nome oposto ao que se viveu, no novo lugar de morada. Afasta-se da desesperança e denomina como Esperança. Na mesma odisseia dos visionários mercantis de seu tempo, Belarmiro sabia como fazer dinheiro a partir do controle de corpos e o confisco “legal” das terras que pudesse realizar, em especial na proximidade que guardava com o recém chegado Tobias, dono do cartório de notas da região.
A família de Belarmiro foi desbravadora de muitas terras no interior do estado a que pertence a ilha. Dizem que, ainda hoje, parte das cercas que vão do Fim do mundo ao norte do estado ainda pertence ao núcleo Belarmiro. A tal ponto que seus filhos e netos viverão de renda, de terras, de exportação de diversos produtos do campo e de apropriação de múltiplos trabalhos em todas as partes da região, por muitos séculos.
A história do progresso na Ilha Esperança passa pela notada saga dos Belarmiro, os conflitos, sangues e suores derramados em seu nome, e pousa nos terrenos do Fim do mundo que a ele pertencem.
Todo início de mês, os filhos mais velhos de Belarmiro passavam para recolher o aluguel. Com o passar do tempo, foram substituídos por empregados especializados em cobrança, funcionários de alto escalão dos bancos, sempre com diversas armas à mão, para receber por consenso ou coerção.
À medida que mais prédios eram erguidos nas transações da construção civil da família Belarmiro, mais as negociações imobiliárias em Fim do mundo ficavam caras, e menos era possível bancar o aluguel sem comprometer uma outra parte de satisfação das necessidades básicas da família.
Além disso, quanto mais negócios surgiam, menos o trato era entre as próprias pessoas e mais encarregados para o cumprimento da “honra” surgiam. Porque, nesse sistema, honra e dignidade tem a ver com arcar com os compromissos da dívida.
Belarmiro, o filho do velho Carranca, viveu até os 100 anos de idade.
Binha, nos últimos anos, gastava 1/3 do que ganhava com o trabalho de mais de 14h por dia no pagamento do aluguel. Mas sempre agradecia ao seu Deus mórmon por ter força, saúde e fé. Acreditava ser uma ofensa não honrar com seus compromissos junto aos fornecedores, aos trabalhadores que a ajudavam, aos pagamentos para o viver de uma vida cotidiana de contratos a cumprir.
Em muitos momentos eu tinha a sensação de que, junto com a entrega do dinheiro, Binha destinava uma grande dose de agradecimento como devota de uma situação contraditória. Como se fosse um juízo divino levar a vida que leva. Como se fosse destino certo a toda mulher que foge da saga da tortura e do mau trato.
Binha parecia agradecer a Belarmiro por existir. E o pagamento era só mais um dos tributos que ela empregaria mensalmente junto à entrega do dinheiro. Nunca entendi bem essa relação, mas também não ousei pular a cerca harmoniosa do respeito existente em nossa relação como velhas amigas do Fim do mundo.
De volta à quebra e aos tombos
Voltando ao início do último dia de Binha no Fim do mundo. Com a palavra “traurigkët”, que significa tristeza em pomerano, ela me contava, aos poucos, entre os olhos distantes e as pernas trêmulas, que fechava no dia seguinte as portas de sua vida.
Para ela a padaria e sua vida tinham o mesmo sentido. Ao fechar a porta, não somente jogaria à rua todas as pessoas que lhe ajudavam naquele momento, mas a si mesma. Estava a esmo, sem rumo, delirante, só. Parecia, nos intervalos de silêncio prolongados, que ao encarar a situação de frente, prendia-se novamente a um passado cheio de caminhos emburacados e tortos arados presentes nas raízes de seu coração.
Binha contou que não houve mais negociação com os “gerentes” da família Belarmiro. E que deram 24 horas para desocupar tudo senão seria com polícia, trator e outros métodos mais. Todos bem comuns naquele tipo de cobrança histórica dos Belarmiro.
Binha conta que desde que a pandemia começou ela estava com dificuldades para cumprir com a pilha de dívidas que chegavam. E começou a negociá-las, pagando a metade, depois outra, mandando embora ou diminuindo as jornadas dos poucos trabalhadores formais que estavam com ela, e ampliando, com isto, seu tempo de trabalho ao longo do dia.
Disse que a negociação com os Belarmiro não anulava a dívida e que, portanto, o que devia era maior do que o que tirava ao mês em pleno período pandêmico de negócios virtuais. Lembrei-me de minhas longas conversas com ela sobre a caderneta de anotação.
Pela primeira vez vi Binha tombar. Mas já era um segundo tombo. O primeiro, como me contou, foi um tombo literal que tomou no mercado no qual lastimou a perna que a tornaria herdeira de Frida, de Rosa e tantas outras mulheres que puxavam a perna na história. Esse tombo parecia a premonição de outros piores que viriam pela frente.
Talvez, entre os tombos, o mais doído esteja naquele que afetou diretamente sua confiança na verdade alheia. Binha tinha uma generosa capacidade de produzir valores comuns em uma sociedade cujo único valor apresentado é o do dinheiro. Ela realmente acreditava no melhor do ser humano. Eu, como sempre tive receio de todos e tudo, dizia: isso vai dar ruim, Binha!
Era bonito, apesar do risco. Acreditar na beleza do outro, entregar-lhe a chave de sua vida, neste caso a padaria, e seguir. Dessa crença ela tomou alguns tombos que não a permitiram se recuperar economicamente. Aos poucos foi descobrindo que essa sociedade produz venenos múltiplos. Entre os quais as traições. Foi roubada uma, duas, outras tantas vezes. Morreu um pouco em cada um dos casos, mas seguiu apostando na verdade alheia.
Entre o tombo do mercado e o tombo com as traições, somava-se naquele dia o mais profundo dos tombos: a volta à tortura de não ser mais digna para o trabalho, de sol a sol, na ilha que, ao longo das décadas, se tornou uma cidade de concreto. De esperancense Binha se transformou em uma flor murcha, sem cor, sem cheiro, sem aquela vida pulsante que aguarda o pouso dos passarinhos.
Binha envelheceu 50 anos em 5 meses3, carcomida pela dívida. Essa mulher forte, cheia de marcas que revelam os tombos, não chorou, apenas se ausentou do presente, navegando pelas águas turvas do passado. Apertou-me em um forte abraço e partiu. Desta vez, não disse nenhuma daquelas palavras que eu desconhecia de seu pomerano. Deixou a cargo dos filhos a retirada de cada um dos históricos objetos que compunham sua vida naquele lugar.
Ficamos dias sem notícias de Binha enquanto nos tornávamos testemunhas oculares do vazio das histórias da padaria. Agora era apenas um concreto morto, sem vida. Algumas pessoas sensíveis juravam ouvir vozes vindas lá de dentro na calada da noite.
Hoje, às 4h30 da madrugada um alarme tocou e ficou toda a manhã desgovernado e gritante. Era o primeiro dia do Fim do mundo sem Binha. Era como se retumbasse uma marcha fúnebre, um grito coletivo devido ao silenciamento daquele lugar que hospedava as histórias do bairro. O som anunciava o cortejo de uma história narrada no plural. Às 14h, quando tudo parecia voltar ao seu prumo, o alarme parou. A padaria perdeu o letreiro, o caderno de anotações apareceu jogado na rua com suas folhas saindo pela força do vento.
E para fechar aquela renovada atmosfera de vitória do dinheiro sobre os povos, uma folha de jornal rolava de um lado para o outro no redemoinho do vento e da terra batida. Nela era possível ler à distância, nas gigantes letras que compunham a frase: Extra, extra! O Fim do mundo comunica que na noite de ontem, perdemos uma ilustre esperancense. Morre a padeira dona Binha. Motivo da morte: “traurigkët”.
Aquele jornal, aquela rua, suas memórias e histórias. Começou a chover no Fim do Mundo, último bairro do povo Esperansense. Uma homenagem dos céus à história da padeira e de sua padaria.
Em minha cabeça ecoava aquela frase inicial: QUEBROU, QUEBROU, A PADARIA QUEBROU. Pensei olhando para o espaço vazio de concreto: QUEBROU, QUEBROU, A PADEIRA QUEBROU!
A história de Binha expõe divergências entre a esperança e a desesperança. Esperançar é verbo conjugado no presente sobre os desejos para o futuro. A desesperança, ao contrário, finca o ponto final no hoje, produz uma obstrução concreta nos sonhos sobre o devir.
Binha foi para outro plano. De longe ouvimos o som de Elza4: “Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida/Na avenida dura até o fim/Mulher do fim do mundo/Eu sou e vou até o fim cantar…/Me deixe cantar até o fim”.
1 Uma alusão carinhosa a um dos mais bonitos livros, autobiográficos, de Carolina Maria de Jesus: Diário de Bitita.
2 Homenagem carinhosa ao impactante livro de Itamar Vieira Junior que conta, nas figuras de Bibiana e Belonísia as sagas das mulheres camponesas, descendentes dos ricos povos africanos violentados pela condição de escravidão, repletas de memórias e histórias que mesclam a dor e a alegria de ser o que é.
3 Nos anos cinquenta do século passado, enquanto Bitita viveria o que narrava, o então Presidente Juscelino Kubitschek colocava em ação o plano de Metas vinculado ao modelo de desenvolvimento a ser protagonizado pelo capital financeiro internacional.
4 Esta música composta por Alice Coutinho e Romulo Froes ganha na voz de Elza Soares a narrativa necessária sobre o ser mulher, negra e periférica em um país desigual como o Brasil. Foi um presente socializado pela integrante do OBEPAL, Micaela Moreira quem, ao ler a prévia deste texto, compartilhou a música que imediatamente veio à sua mente.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.