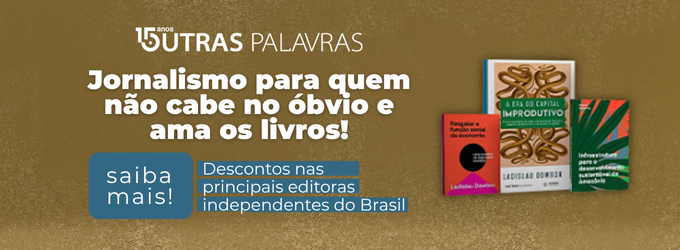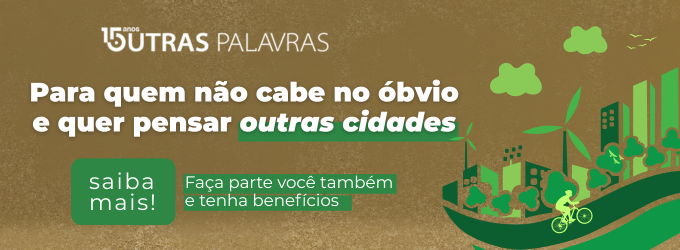Em quê o ataque de Trump nos provoca a pensar
Debate sobre impostos, juros e dívida não é técnico. Está em jogo quem comanda o orçamento e para quê. Ou o Brasil segue operando como usina de renda para o capital financeiro, ou rompe essa engrenagem e reconstrói sua soberania com base no trabalho, justiça fiscal e direitos sociais
Publicado 29/07/2025 às 19:43 - Atualizado 29/07/2025 às 19:46
Por Ricardo Queiroz
Há males que acabam servindo de alerta. A reação do mercado à manutenção da cobrança do IOF deixou à mostra algo que o economês costuma encobrir: o privilégio blindado dos ganhos financeiros e a resistência feroz a qualquer tentativa de tributar riqueza de forma justa. Tributar salários é rotina. Tributar patrimônio é tratado como ameaça.
Essa disputa vai além do IOF. Expõe como o Estado brasileiro foi moldado para proteger o capital financeiro e restringir qualquer política de transformação social. A carga tributária pesa nos pobres, enquanto os mais ricos acumulam isenções. O orçamento é travado por regras que engessam investimentos sociais. O Banco Central atua não para induzir crescimento, mas para garantir o conforto do rentismo e a acumulação para poucos.
No centro desse arranjo está o tripé macroeconômico: meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Institucionalizado em 1999, sob as exigências do FMI, ele carrega uma lógica mais antiga, surgida nos anos 1970, quando o capital financeiro passou a impor, sobretudo aos países periféricos, um padrão de política: controle monetário, abertura comercial, ajuste fiscal e passividade do Estado. O neoliberalismo consolidado em engrenagem.
Com o avanço da financeirização e dos fluxos globais de capitais, os Estados perderam parte da capacidade de planejar suas economias. O Brasil, como tantos outros, substituiu políticas desenvolvimentistas por um sistema fiscal voltado quase exclusivamente ao pagamento da dívida e à valorização de ativos. Exporta primários, importa tecnologia e crédito caro, vive endividado e dependente. A austeridade virou um dispositivo permanente de controle externo.
O tripé sustenta essa arquitetura. A meta de inflação mantém juros altos para frear consumo e desestimular investimentos. O superávit primário comprime gastos sociais para assegurar o pagamento aos credores. O câmbio flutuante, combinado a juros elevados, atrai capital especulativo, valoriza a moeda e aprofunda a desindustrialização. O orçamento deixa de ser instrumento de desenvolvimento e se torna mecanismo de defesa dos interesses financeiros.
A força desse modelo não está apenas nas regras, mas no discurso. Ele é vendido como técnica, não como política. Como se decisões sobre juros e cortes fossem naturais e inevitáveis, apartadas do conflito social. Essa neutralidade aparente funciona como escudo ideológico. A política monetária é tratada como assunto técnico, mas cada ponto na Selic define quanto vai para os rentistas e quanto falta em saúde, educação e transporte.
No fundo, o modelo controla também o preço da força de trabalho. O capital financeiro não teme apenas programas sociais por seu custo fiscal. Teme, sobretudo, que reduzam a dependência do trabalhador em relação ao mercado privado. Quando há saúde pública, previdência, moradia e renda mínima, o custo de reprodução da força de trabalho cai, e a chantagem da necessidade imediata perde força. Direitos sociais aumentam a autonomia e fortalecem a capacidade de barganha.
Daí a hostilidade estrutural do capital financeiro ao Estado de bem-estar. Ao aliviar a pressão sobre o trabalhador, esses direitos comprimem lucros e encorajam reivindicações salariais. A engrenagem do tripé existe, também, para impedir que o orçamento seja usado como instrumento de redistribuição e para manter o trabalho submetido à lógica da escassez.
Por isso a austeridade caminha junto com “reformas” como a trabalhista, a previdenciária e o teto de gastos. Todas seguem o mesmo roteiro: desonerar o capital, reduzir direitos, enfraquecer sindicatos e transformar o trabalho em algo barato e maleável. A precariedade se torna método de controle. A desmobilização dos trabalhadores, condição para a estabilidade do modelo.
Enquanto isso, os pagamentos de juros e amortizações continuam crescendo, sem teto, sem contingenciamento. A maior parte do imposto que você paga vai antes para remunerar rentistas do que para financiar serviços públicos. Saúde, educação e transporte recebem o que sobra. O orçamento tem dono, e não é quem mais precisa dele.
A população, por sua vez, carrega a carga dos tributos indiretos, lida com serviços públicos sucateados e salários achatados, e paga caro por serviços privatizados. O tripé macroeconômico não apenas concentra renda no topo, mas bloqueia a possibilidade de o Estado se tornar força redistributiva. Contém as maiorias para garantir a renda de poucos.
O desafio não é “melhorar a gestão”. É enfrentar um modelo que transformou o Estado num aparato técnico de contenção social. Um Estado que não planeja, não protege e não transforma — apenas paga. Paga pontualmente aos credores, enquanto adia indefinidamente as urgências da maioria.
O debate sobre IOF, juros e dívida não é técnico, é político. Está em jogo quem comanda o orçamento e para quê. Ou o Brasil segue operando como usina de renda para o capital financeiro, ou rompe essa engrenagem para reconstruir sua soberania com base no trabalho, na justiça fiscal e nos direitos sociais. Não se trata de acertar contas, mas de inverter prioridades, redistribuir riqueza e devolver o orçamento a quem o financia.
Esse debate precisa circular fora dos gabinetes e colunas de jornal. Tem que estar na porta das igrejas, nos campos de várzea, nos botecos, nos bailes, nos coletivos culturais e nas bibliotecas públicas. É lá que a economia vira vida concreta e ganha força para mudar.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras