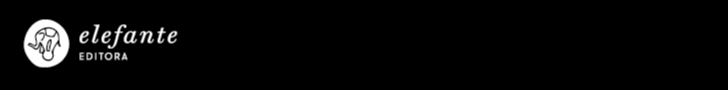A gota dágua
“De mãos dadas na roda, olhei para o alto, vi os anjos trombeteiros do teatro, e saí achando que, se um dia alguma coisa politicamente interessante ainda acontecer neste país, haveria de vir de pretos e pretas”
Publicado 19/03/2018 às 19:49 - Atualizado 15/01/2019 às 17:48

“De mãos dadas na roda, olhei para o alto, vi os anjos trombeteiros do teatro, e saí achando que, se um dia alguma coisa politicamente interessante ainda acontecer neste país, haveria de vir de pretos e pretas”
Crônica de Priscila Figueiredo
Há tempos não havia uma manifestação tão forte como a da última quinta-feira, em São Paulo — não se produziu a mesma energia nem no dia da greve geral ou nas passeatas maiores contra o impeachment. A palavra “energia” nesse caso tem acepção um pouco metafísica, mas ajuda a exprimir algo que não tem a ver só com o número de pessoas presentes (não foi preciso que houvesse o mesmo das jornadas de junho de 2013, p.ex.). Algum nervo foi tocado – nas pessoas, ou no seu sentimento de sociedade – quando imaginávamos que já não tínhamos nervo. E não adianta dizer para os outros ou para nós mesmos que muitas lideranças de quilombolas, indígenas e/ou camponeses são mortas o tempo todo no campo e isso tem ocorrido nos últimos dois anos com a aceleração de um vórtice — esta semana mesmo ocorreu, antes da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, com o assassinato do líder comunitário Paulo Sérgio Nascimento, no Pará. Não adianta porque agora é que esse nervo parece ter sido atingido num grupo maior de pessoas (“para além das oposições políticas”, como está se dizendo na grande mídia, o que não deixa de ter razão, mas isso deveria valer para todas as outras execuções também), seja pelo fenômeno da gota dágua ou o que for.
Em relação a esta, a gente sempre lembra de casos na história, como o estopim das primaveras árabes, como certo ponto decisivo das lutas feministas do início do século XX: pode ser o atropelamento por um tanque ou um cavalo, um pobre coitado incendiado por si mesmo, a enésima cusparada que um centurião romano deu no rosto de um escravo. Por mais que a gente levante boas hipóteses (como o fato de se tratar da morte de uma liderança que agora exercia a sua luta por via institucional, tendo sido a quinta vereadora mais votada, de um partido de esquerda em importância crescente, na segunda maior capital do país), não se sabe exatamente por que, e isso é da natureza das gotas dágua, a potência da sensação para o horror foi aumentada significativamente, e em alguns casos fez as pessoas acertarem seu relógio.
Ouvi na quinta-feira muita gente dizer que se sentiu asfixiada com a notícia – por que isso? O fato é que essa gota dágua levou à onda de quinta, que até onde sei foi bastante espontânea e creio que contou em toda a sua extensão com apenas um megafone ou algo assim — além, claro, de batidas percussivas e jograis, como é próprio desse tipo de manifestação. Não estou dizendo que isso é uma vantagem ou um defeito, mas era impressionante a “autodeterminação” ali das pessoas, seguindo por outro lado lideranças pouco individuadas em relação à multidão, levemente destacadas das outras pessoas, assim como o efeito de algumas velas e flores em pontos estratégicos. Esses elementos também não são novos nessas movimentações mais espontâneas, mas de novo isso readquiriu um frescor, e isso tinha a ver também com aquele elemento imponderável.
Fui avançando para a vanguarda da passeata à medida que me perdia dos amigos e com o fim de saber o que se passava ali ou se dizia, já que nem sempre eram repicadas em toda a extensão as palavras ditas nessa parte (acho que tinha mais de uma, digamos, zona de emissão e ressonância, com “puxadores” espalhados por ela, que formavam um uníssono no espírito, mas nem sempre nas letras, creio que nem sempre coincidentes de um trecho para outro da multidão). Ali na frente estava então uma moça pouco mais que adolescente, vestindo uma camiseta com a imagem do Malcom X e, com o corpo num gesto hip-hopper, teso, os ombros inclinados para a frente, a mão fechada em punho e o antebraço um pouco dobrado, ia de um lado para o outro, secundada por um rapaz que associei a uma espécie de mestre-sala (ela não era uma porta-bandeira nem uma mãe-de-santo, mas às vezes aspectos de uma ou outra figura me ocorriam, decerto por um defeito ou inércia da percepção), variando os chamados ou frases que em conjunto, pela forma de elocução, lembravam vagamente um credo. Seu ajudante repetia as palavras de ordem, indo de um lado para outro em movimento contrário ao dela e com expressão corporal semelhante, mas um pouco mais relaxada. Nesse credo, a Paixão dos africanos e descendentes, não concluída, era referida por substantivos com semântica poderosa, “cativeiro”, genocídio”, “senhor de engenho”, “periferia preta”, “mulher favelada e negra”, que apareciam numa ordem não necessariamente cronológica.
Na altura da Praça Roosevelt o movimento estancou. Mais à frente estavam dois ou três carros de polícia parados, e alguns PMs em pé, do lado de fora, olhavam em nossa direção. A pausa foi um pouco longa, e então a menina determinou: “Vamos até o Teatro Municipal! Quem vai com a gente?”. Olhava a multidão mais atrás, parada antes daquele ponto, de modo que já se formava um vazio entre ela e o pequeno grupo majoritariamente negro, e junto com outros provocava, dizendo algo como “os pretos vão ficar sozinhos agora? Vão passar sozinhos pelos policiais?”. Ela certamente não desconhecia a informação geral de que a manifestação acabaria na praça, mas talvez tivesse aproveitado a cisão involuntária que ocorrera para fazer uma espécie de dramatização: poucos estariam dispostos a seguir com eles, os brancos não resistiam muito mais e os abandonavam. Se não me engano, a moça, seguida pelos que estavam ali, chamava de brancos (o que não era de forma alguma exato) todos que já estavam mais longe, e isso reforçava a hipótese de que ela usava a situação um pouco como alegoria de uma aliança frágil.
Por fim, não se importando mais com essa questão, a líder conduziu para adiante o pequeno destacamento, que passou calmamente pelo estreito rochoso dos policiais (em vista da repercussão da morte de Marielle, eles deviam ter recebido ordens expressas para não fazer nada), alcançou o Municipal e ocupou, voltado para a rua, parte da escadaria. Agora era um coro, com alguns jovens chorando muito, regido pela obstinada maestrina e mais alguns que ainda estavam na calçada, assistido agora e em parte aplaudido pelo público que saía do teatro depois de ver um espetáculo de dança. O momento em que se propôs fazer uma grande roda não foi o único em que eu tive dúvida da legitimidade da minha participação – outras pessoas devem ter sentido o mesmo. Algumas frases, por exemplo, eu não poderia repetir com sinceridade – “Nós, pretos e pretas etc.”. Eu, que não sou a mais branca entre as brancas, cheguei a me sentir uma gringa curiosa e solidária, mas um tanto boba, e isso aconteceu depois que o grupo se destacou dos demais manifestantes na Consolação.
A separação tinha produzido uma cisão em mim, mas quis acompanhar até onde ia aquilo que parecia agora um assunto só de pretos, embora não hostis a quem como eu estivesse ali. De mãos dadas na roda, olhei para o alto, vi os anjos trombeteiros do teatro, que me pareceu uma casca semi-iluminada e irreal, e saí achando que, se um dia alguma coisa politicamente interessante ainda acontecer neste país, haveria de vir de pretos e pretas (e infelizmente, pois nada é certo, poderão se suceder ainda muitas outras gotas dágua, pois já aprendemos nos últimos tempos o quanto pode se repetir a sensação, anulada pela próxima, de que mais um limite se ultrapassou).
Quanto ao que pode parecer uma perspectiva fragmentária: não é só o novo – as novas formas de acumulação capitalista, o fim da sociedade salarial –, mas, no caso emblemático deste país, também o velho, o racismo, destrói as categorias mais totalizantes com que a esquerda tradicionalmente operou. Seria preciso, para a reconstrução desse universalismo, uma radicalização perceptiva. Não há vida correta na falsa, como diz a máxima adorniana (feita, no entanto, para contexto muito diferente), mas então o que me ocorreu – sentindo de forma mais intensa a falsidade da minha vida – é que o universal deveria se tornar preto. Se a raça sempre tinha sido classe aqui, que a classe se tornasse agora raça. E então sonhei com ceticismo triste que um dia, sob condições sociais renovadas, se pudesse tomar a direção do universal entre os universais imaginado no interior da enorme culpa e sentimento de usurpação deste “Canto preto”: Essa nostalgia rara/ de um país antes dos outros,/ antes do mito e do sol,/ onde as coisas nem de brancas/ fossem chamadas.