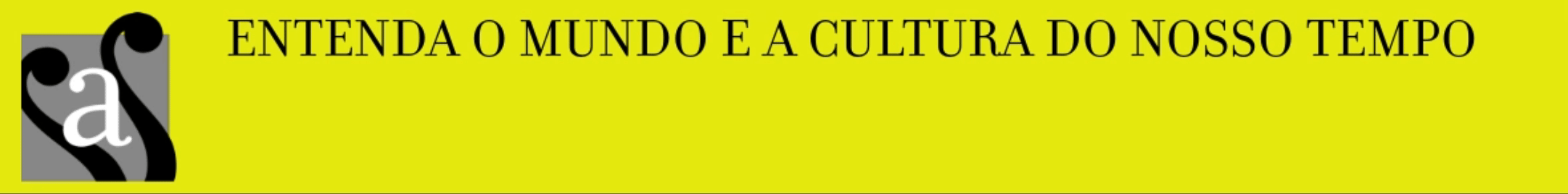PM-DF: o que a prisão dos comandantes ensina
Gravações mostraram como o golpismo, inoculado por Bolsonaro, contaminou o topo da corporação. Mas também ficou claro: Ministério Público tem meios efetivos para controlar a tropa. Não poderia também fazê-lo para frear as chacinas?
Publicado 24/08/2023 às 19:18 - Atualizado 24/08/2023 às 19:19

Por Renato Sérgio de Lima, na Piauí
É certo que múltiplas hipóteses poderiam ser levantadas quanto à eventual quebra da ordem democrática e sobre o papel das Polícias Militares. Em um cenário mais imediato, caso isso de fato aconteça, é provável que vejamos uma tentativa de autogolpe pelo presidente, com a condescendência de segmentos expressivos das Forças Armadas e de policiais militares, que optariam por não restabelecer a ordem constitucional e/ou não reprimir atos de grupos “paramilitares”.
O trecho acima é de um artigo publicado em 29 de maio de 2020, no site da piauí, por mim e por meu colega Glauco Carvalho. Nós apontávamos os riscos de ruptura institucional causados pela pregação quase religiosa do bolsonarismo, entendido como a atualização e o fortalecimento do pensamento de extrema direita no Brasil. É verdade que, à época, nós ainda acreditávamos que a radicalização política e ideológica dos militares estava se dando no plano dos indivíduos, não das instituições; um fenômeno circunscrito às baixas patentes.
Hoje, vejo que nosso artigo antecipou o roteiro que, no 8 de janeiro de 2023, foi seguido pela PM do Distrito Federal e por parte das Forças Armadas, que se omitiram na repressão aos invasores dos prédios dos Três Poderes, como revelam as mensagens apreendidas pela Polícia Federal e que motivaram a prisão de sete oficiais da cúpula da PMDF no último dia 18.
Nesses últimos três anos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito influenciado pela forma como foi organizado e administrado o motim da PM do Ceará, em fevereiro de 2020, percebeu que era preciso produzir conhecimento sobre o que estava acontecendo. Produzimos uma série de estudos mostrando o elevado percentual de integrantes das polícias brasileiras, sobretudo as militares, que interagiam e compartilhavam conteúdos golpistas nas redes sociais. Ainda naquele primeiro ano de pandemia, usando técnicas de análise de redes sociais, estimamos em cerca de 120 mil o número de policiais que estava ativamente participando do debate golpista estimulado por Bolsonaro. Os dados causaram certo alvoroço, na época.
Não havia exagero, como se percebe hoje. Bolsonaro vinha inoculando nas polícias o vírus da ruptura democrática e recrutando policiais para serem vetores da desconstrução da ordem social inaugurada pela Constituição Federal de 1988. Aos poucos, a ideia de democracia foi relativizada e condicionada à imagem de Bolsonaro como chefe supremo das Forças Armadas; como autoridade ungida para “restabelecer a ordem” no país. Um processo que não ocorria casualmente; tinha método. A cepa bolsonarista aproveitou as falhas de governança e de coordenação institucional da segurança pública para se hospedar no imaginário de muitos policiais como uma força política que, de fato, estava preocupada com as condições de vida e trabalho dos profissionais da área. Mais do que isso, o bolsonarismo se vendeu como exemplo de autoridade moral e legal que lutava contra o sistema político corrupto e imoral.
Para Bolsonaro, era preciso influenciar os policiais naquilo que é mais constitutivo de suas éticas e identidades profissionais – ou seja, era preciso se colocar como liderança daquilo que os policiais compreendiam como certo para se manter a ordem, esse vago conceito que estrutura a missão das instituições de segurança pública no Brasil. Não por acaso, o ex-presidente quase sempre se referia às polícias militares como “forças auxiliares”. Constantemente aludia ao fato de que elas são vinculadas ao Exército Brasileiro e, desse modo, em última instância, são forças submetidas ao comando do presidente da República.
Esse pequeno, mas hábil truque retórico aproveitava a sobreposição de normas e leis que regulam a atividade policial no Brasil para reforçar a autoridade de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, relativizar a subordinação formal das polícias aos governadores. Soava como um canto da sereia aos ouvidos de muitos profissionais, estimulando a autonomia dos policiais na tomada de decisão sobre o que fazer – e quando agir – diante de ameaças à ordem pública.
Um dos trechos de um áudio que foi encaminhado pelo coronel Klepter Rosa Gonçalves, então subcomandante da PMDF, para o também coronel Fábio Augusto Vieira, na época comandante-geral, é emblemático de como a ideia de golpe foi sendo naturalizada não como ruptura, mas como retomada da ideia de ordem: “Na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o art. 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta esses vagabundo tudinho e ladrão, safado, dessa quadrilha… Aí vocês vão ver o que é pôr ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um vagabundo, marginal, criminoso e bandido, como o Lula, voltar ao poder.”
A vacina para o vírus bolsonarista nas polícias é conhecida há mais de trinta anos por quem milita na área. O problema é que, por ter o efeito de isolar as instituições policiais do sistema político partidário, ela é evitada a todo custo. Me refiro ao modelo que organiza as polícias brasileiras, equipando-o com mecanismos robustos de controle, supervisão, valorização profissional, prestação de contas e coordenação democrática. Na lógica eleitoral em que vivemos, é mais conveniente (e, para muita gente, traz votos) não interferir na imagem das polícias como fiadoras da ordem, prestando atenção nelas só em momentos de crise.
Essa lógica opta pela contemporização contínua, que oferece sempre mais dinheiro, armas e viaturas, mas é incapaz de romper com o pensamento autoritário que rege o que se entende como missão das polícias, mesmo que milhares de policiais pensem diferente e estejam mais preocupados em serem reconhecidos como cidadãos plenos de direito e terem melhores condições de vida. Esse modo de atuação apoia e retroalimenta o projeto antidemocrático de polícia engendrado pelos generais da ditadura militar de 1964. Nesse movimento, as autoridades eleitas acham que mandam ao serem cortejadas com salamaleques como medalhas e homenagens. Mas, no fundo, são essencialmente instrumentalizadas pela política dos quartéis, que, como brilhantemente resumiu Bruno Boghossian, na Folha de S.Paulo, “oferece silêncio em troca de recompensas e trata como casos isolados” violações de direitos humanos, omissões dolosas e infrações em série que vão se acumulando na história recente.
O Sete de Setembro de 2021 e o 8 de janeiro, ao mesmo tempo em que confirmaram nossas previsões tachadas, então, de pessimistas, mostraram o poder e a capacidade do Ministério Público de controlar as polícias. Quando se dispõe a exercer tal poder, o MP faz toda a diferença. Em 2021, diante das ameaças golpistas de Bolsonaro e o temor de adesão das forças policiais, os Ministérios Públicos estaduais e militares oficiaram todos os comandos das polícias, afirmando que eles seriam responsabilizados em caso de ruptura institucional. Mais recentemente, a prisão de vários oficiais da PMDF só ocorreu a pedido do MPF.
Essa é a variável nova. O padrão recente de atuação do Ministério Público, que não é homogêneo em todos os seus ramos, deve ser reconhecido e formalizado. Sem a atuação de promotores estaduais e federais, os remédios atualmente prescritos para superar a crise são meros placebos, resumindo-se a promessas de aumentos salariais e rigor com desvios individuais. Cabe, aliás, uma pergunta: será que esse mesmo padrão do MP será adotado nos casos de violência policial ocorridos nas periferias de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro?
Em outro artigo, desta vez em 2021, eu e Samira Bueno prevíamos que, por terem mantido uma “postura profissional” durante o furacão golpista do Sete de Setembro, as polícias provavelmente seriam recompensadas com reajustes salariais e reforço de suas cadeias de comando. Foi exatamente o que aconteceu após o 8 de janeiro. Dias depois da invasão à Praça dos Três Poderes, o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, escolheu o então subcomandante da PMDF, o bolsonarista Klepter Gonçalves, para o comando-geral da corporação. Klepter acabou preso na semana passada, numa operação solicitada pelo Ministério Público Federal e autorizada pelo STF.
Ato seguinte, assessorado por Klepter, Cappelli “pacificou” a tropa propondo, entre outras coisas, reajustes salariais, que foram concedidos pelo governo federal por meio de medida provisória no último dia 18 de julho. Em resumo, a capacidade de ação do governo Lula foi muito menor do que a desejada e ocorreu dentro de um leque de opções bastante restrito, até para que o momento de incerteza institucional não se disseminasse e ganhasse corpo.
O caminho que se percorreu do 8 de janeiro à prisão de oficiais da PMDF são reveladores da fragilidade da democracia diante da autonomia das polícias. Paradoxalmente, Bolsonaro foi o único que percebeu que, para prevalecer, ele precisava criar um amálgama entre o pensamento médio dos policiais e o seu projeto político e ideológico. Uma lição que, em sinal invertido, os democratas do país talvez pudessem assimilar. Mas, até aqui, o campo democrático, em vez de combater o vírus da ruptura da ordem, só tem adiado os problemas até a próxima crise.
Renato Sérgio de Lima é professor da FGV EAESP e diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.